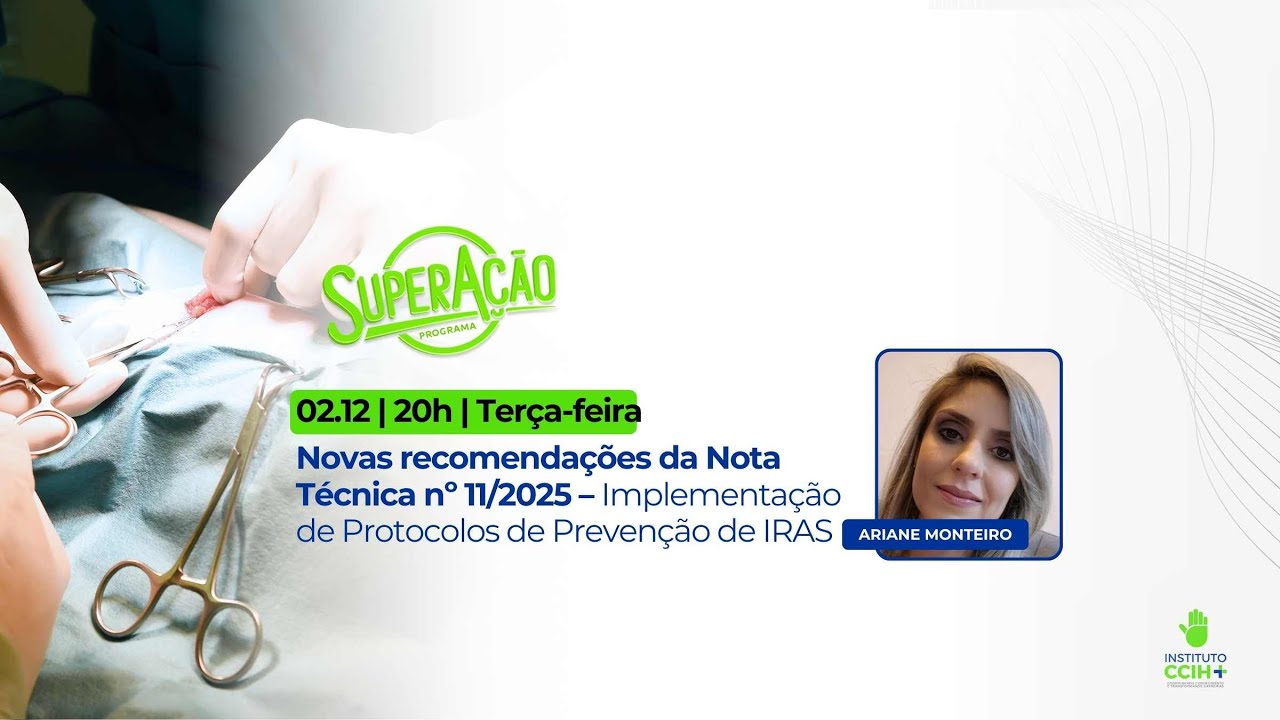A febre é uma das manifestações clínicas mais comuns em ambiente hospitalar — e também uma das mais desafiadoras.
Longe de ser apenas um sintoma, trata-se de um mecanismo fisiológico sofisticado, capaz tanto de proteger quanto de sinalizar ameaça.
Nos hospitais, a febre adquire novas dimensões: surge em pacientes com múltiplas comorbidades, sob antibióticos, com dispositivos invasivos e expostos a patógenos multirresistentes. Diferenciar entre uma resposta inflamatória benigna e uma infecção grave pode significar salvar vidas.
A revisão apresentada discute, de forma prática e baseada em evidências, os mecanismos fisiopatológicos da febre, as principais causas no ambiente hospitalar, os protocolos diagnósticos e as condutas terapêuticas mais atualizadas — desde o uso racional de antipiréticos até o papel decisivo da antibioticoterapia empírica precoce.
Profissionais de controle de infecção, intensivistas, enfermeiros e gestores hospitalares encontrarão aqui uma visão crítica e atual sobre um tema que, embora antigo, continua vital: a febre como janela para o equilíbrio entre imunidade, infecção e iatrogenia.
Aqui está uma página de FAQ com 30 perguntas e respostas essenciais sobre o manejo da febre no paciente hospitalizado, destinada a gestores, CCIH, médicos, farmacêuticos e enfermeiros, com base no artigo fornecido e em recursos adicionais do portal ccih.med.br e da TV CCIH.
FAQ: A Abordagem Moderna da Febre no Paciente Hospitalizado
I. Conceitos Fundamentais e Fisiopatologia
1. Qual é o principal desafio ao interpretar a febre no paciente hospitalizado?
O principal desafio é reconhecer que febre não é sinônimo de infecção. Estudos epidemiológicos rigorosos mostram que até 32,5% (aproximadamente 1 em cada 3 casos) das febres nosocomiais têm causas NÃO infecciosas, como malignidades, febre medicamentosa ou hematomas pós-operatórios.
2. Por que um trauma cirúrgico (não infeccioso) causa a mesma febre que uma infecção?
Porque ambos ativam a mesma cascata fisiopatológica. A infecção ativa “PAMPs” (padrões moleculares associados a patógenos) e o trauma cirúrgico ou um hematoma ativam “DAMPs” (padrões moleculares associados a danos). Ambos levam à liberação de citocinas (IL-1, IL-6, TNF-α), que induzem a enzima COX-2 no hipotálamo a produzir Prostaglandina E2 (PGE2), elevando o ponto de ajuste térmico.
3. O “dogma” de que 37,0°C é a temperatura normal ainda é válido?
Não. Esse é um dogma estabelecido por Wunderlich no século XIX e foi refutado. A temperatura corporal normal é uma faixa (média oral de 36,8°C ± 0,4°C) que segue um nítido ritmo circadiano, sendo mais baixa pela manhã (ex: 6h) e mais alta no final da tarde (ex: 16h).
4. O que é “Febrefobia” e por que é um problema para a gestão hospitalar?
A “febrefobia” é o medo excessivo da febre, levando à prática reflexa de tratar o sintoma (com antipiréticos) em vez de investigar a causa. Isso mascara a evolução clínica, dificulta o diagnóstico e ignora que a febre é um mecanismo de defesa adaptativo que potencializa a resposta imune.
5. Como a febre é definida em populações especiais, como idosos?
Pacientes idosos frequentemente têm temperaturas basais mais baixas e respostas febris atenuadas. Neles, deve-se considerar febre uma elevação ≥ 1,1°C acima da temperatura basal do paciente, ou uma temperatura axilar persistente > 37,2°C. A ausência de febre em idosos não exclui infecção grave.
6. Qual é a definição de febre em pacientes neutropênicos e por que é uma emergência?
Define-se como uma temperatura oral única ≥ 38,3°C ou uma temperatura ≥ 38,0°C sustentada por mais de 1 hora, em um paciente com contagem de neutrófilos < 500 células/mm³. É uma emergência médica porque a infecção pode progredir rapidamente para sepse grave na ausência da defesa dos neutrófilos.
- Referência: Febre no Paciente Hospitalizado: da Fisiologia à Conduta
- Recurso Adicional: O neutrófilo na linha de fogo (Artigo CCIH)
II. Diagnóstico e Investigação
7. Quais são as causas infecciosas (IRAS) mais comuns de febre hospitalar?
As causas infecciosas mais prevalentes de febre nosocomial são:
- Pneumonia Hospitalar (PAV/PH) (a mais comum de todas as infecções).
- Infecção do Trato Urinário associada a cateter (ITU-AC).
- Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCSL) (geralmente ligada a CVC).
- Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) e abscessos intra-abdominais.
8. O mnemônico dos “5 Ws” (Wind, Water, Walk, Wound, Wonder Drugs) ainda é útil?
É um guia didático, mas que exige senso crítico. “Wind” (atelectasia) como causa de febre nas primeiras 48h é altamente questionável; a febre precoce é mais provavelmente a resposta inflamatória (DAMPs) ao trauma cirúrgico. “Water” (ITU), “Wound” (ISC) e “Wonder Drugs” (Febre Medicamentosa) continuam sendo etiologias muito relevantes.
9. Quais as causas NÃO infecciosas mais comuns de febre hospitalar que a CCIH deve monitorar?
A investigação não pode focar apenas em infecção. As causas não infecciosas mais comuns encontradas em estudos prospectivos são:
- Malignidade (Linfoma é o principal exemplo).
- Hematomas (febre por reabsorção de sangue pós-cirurgia ou trauma).
- Febre Medicamentosa.
- Isquemia/Infarto (incluindo Tromboembolismo Pulmonar – TEP).
10. Qual o papel da enfermagem na investigação inicial da febre?
A enfermagem é crucial. O papel inclui:
- Aferição correta da temperatura e comunicação imediata à equipe.
- Coleta de hemoculturas (2 a 3 pares) de sítios distintos, idealmente antes da primeira dose de antibiótico.
- Inspeção visual de focos potenciais: sítios de inserção de CVC, cateter vesical, feridas operatórias e drenos.
- Referência: Febre no Paciente Hospitalizado: da Fisiologia à Conduta
- Recurso Adicional: Como a equipe de enfermagem pode contribuir na profilaxia antimicrobiana (TV CCIH)
11. Qual a diferença crucial entre PCR (Proteína C Reativa) e Procalcitonina (PCT)?
A PCR é altamente sensível, mas muito inespecífica; ela se eleva em qualquer processo inflamatório (infecção, trauma, TEP, hematoma). A Procalcitonina (PCT) é muito mais específica para infecção bacteriana sistêmica (sepse). A PCT é a melhor ferramenta para diferenciar inflamação estéril (DAMPs) de infecção bacteriana (PAMPs).
- Referência: Febre no Paciente Hospitalizado: da Fisiologia à Conduta
- Recurso Adicional: Pneumonia Hospitalar: avanços na vigilância, prevenção e diagnóstico (Artigo CCIH)
12. Quando a TC de tórax é superior ao Raio-X na febre hospitalar?
A TC de tórax é o exame de escolha em pacientes neutropênicos febris. Nesses pacientes, a radiografia simples (Raio-X) pode ser falsamente negativa, pois eles podem não ter neutrófilos suficientes para formar um infiltrado visível, mesmo na vigência de pneumonia.
13. Qual o papel do PET-CT (18-FDG–PET/CT) na investigação da febre?
O PET-CT é uma ferramenta avançada, reservada para casos de Febre Nosocomial de Origem Indeterminada (FNOI) — quando o diagnóstico permanece oculto após a investigação inicial. Ele tem alta sensibilidade para localizar focos ocultos de infecção, inflamação (ex: vasculites) ou malignidade (ex: linfomas).
14. Quando devemos suspeitar de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) ou abscesso?
A febre nas primeiras 48 horas pós-cirurgia é geralmente uma resposta inflamatória benigna. A suspeita de ISC ou abscesso intra-abdominal aumenta significativamente se a febre surge ou persiste após o 5º dia de pós-operatório, exigindo investigação por imagem (TC de abdome).
III. Manejo Terapêutico e Antipiréticos
15. Devemos tratar a febre com antipiréticos (Paracetamol, Dipirona) rotineiramente?
Não. Uma meta-análise de 2022 (BMJ Open) com mais de 5.000 pacientes concluiu, com alta certeza de evidência, que o uso de antipiréticos não afeta a mortalidade nem a ocorrência de eventos adversos graves. O tratamento deve ser seletivo, focado na causa.
16. Se não é rotineiro, quando DEVEMOS usar antipiréticos?
A antipirese deve ser reservada para indicações clínicas específicas, e não usada “automaticamente”:
- Desconforto significativo relatado pelo paciente (ex: mialgia, cefaleia intensa).
- Febre extrema (ex: > 39,5°C ou 40°C).
- Pacientes com reserva cardiopulmonar ou neurológica limítrofe (ex: insuficiência cardíaca grave, hipertensão intracraniana), nos quais o aumento da demanda metabólica da febre pode ser prejudicial.
17. Métodos físicos (mantas de resfriamento, banhos frios) são recomendados para febre séptica?
Devem ser usados com extrema cautela ou evitados. Diferente dos antipiréticos (que baixam o set point hipotalâmico), o resfriamento físico força a temperatura para baixo contra um set point elevado. Isso induz calafrios, tremores e vasoconstrição, aumentando drasticamente o consumo metabólico de oxigênio — um efeito deletério em um paciente que já está instável.
18. Qual é a conduta prioritária na “Hora de Ouro” (Golden Hour) da Sepse?
A prioridade absoluta não é tratar a febre, mas a sepse. As diretrizes da Surviving Sepsis Campaign determinam que, na suspeita de sepse ou choque séptico, a equipe deve:
- Coletar hemoculturas (e outras culturas relevantes).
- Administrar antibióticos empíricos de amplo espectro na primeira hora.
- Iniciar ressuscitação volêmica com cristaloides (se hipotenso ou lactato elevado).
- Referência: Febre no Paciente Hospitalizado: da Fisiologia à Conduta
- Recurso Adicional: Como aplicar Stewardship de antimicrobianos no contexto de sepse (TV CCIH)
IV. Stewardship e Farmácia
19. O que é Antimicrobial Stewardship e qual seu papel na febre hospitalar?
É um conjunto de intervenções coordenadas para promover o uso ideal de antimicrobianos (escolha, dose, duração). Seu papel é crucial porque, sabendo que 1/3 das febres não são infecciosas, o stewardship evita o uso desnecessário de antibióticos, o que reduz a pressão seletiva, a resistência (MDROs), os custos e os eventos adversos (como infecção por C. difficile).
- Referência: Stewardship de antimicrobianos: gerenciando o uso (Artigo CCIH)
- Recurso Adicional: Implementação de um Programa de Stewardship (TV CCIH)
20. Como a Procalcitonina (PCT) é usada na prática pelo time de Stewardship?
A PCT é a principal ferramenta para guiar o stewardship. Níveis seriadamente baixos ou em queda (< 0,5 ng/mL) em um paciente febril, mas estável, dão segurança à equipe para não iniciar ou para suspender precocemente (descalonar) os antibióticos, assumindo uma causa inflamatória (DAMPs) em vez de infecciosa (PAMPs).
- Referência: Febre no Paciente Hospitalizado: da Fisiologia à Conduta
- Recurso Adicional: Pneumonia Hospitalar: avanços na vigilância, prevenção e diagnóstico (Artigo CCIH)
21. Qual o papel do farmacêutico clínico no time de Stewardship?
O farmacêutico é um pilar do programa. Ele realiza auditorias prospectivas de prescrições, analisa a adequação da terapia empírica, monitora níveis de antimicrobianos (PK/PD), sugere ativamente o descalonamento (baseado em culturas e PCT) e auxilia na elaboração de protocolos institucionais.
22. O que é a Febre Medicamentosa e quais fármacos são mais implicados?
É uma reação adversa (geralmente hipersensibilidade) que pode ocorrer dias a semanas após o início de um fármaco. Os antibióticos beta-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas) são causas muito comuns. O diagnóstico é de exclusão e a febre tipicamente se resolve 48-72 horas após a suspensão do medicamento suspeito.
23. Paciente com diarreia e febre após uso de antibióticos. Qual a suspeita?
A principal suspeita é Infecção por Clostridioides difficile. O uso prévio de antibióticos de amplo espectro (especialmente cefalosporinas, clindamicina, fluoroquinolonas) é o principal fator de risco, pois destrói a flora intestinal protetora.
24. Qual a principal ameaça de resistência (MDRO) no Brasil e como ela impacta o manejo da febre?
A maior ameaça são as Enterobactérias Resistentes a Carbapenêmicos (ERC), especialmente as produtoras de KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase). Isso impacta o manejo da sepse, pois os esquemas empíricos tradicionais podem falhar, exigindo o uso de novas drogas (ex: Ceftazidima-avibactam) ou terapias de combinação (ex: Polimixinas, Tigeciclina).
- Referência: Febre no Paciente Hospitalizado: da Fisiologia à Conduta
- Recurso Adicional: Resistência aos Carbapenêmicos: O Desafio Crítico (Artigo CCIH)
25. O que é “de-escalonamento” (descalonamento) de antibióticos?
É a prática de trocar um antibiótico de amplo espectro (usado na terapia empírica) por um antibiótico de espectro mais estreito (terapia direcionada) assim que o resultado da cultura e o antibiograma (TSA) ficam disponíveis. É um pilar do stewardship para reduzir a pressão seletiva.
V. Gestão, Liderança e Segurança do Paciente
26. Do ponto de vista de gestão, por que o hospital deve investir em um programa de Stewardship?
O stewardship não é um custo, é um investimento com alto retorno (ROI). Ele reduz custos diretos, ao diminuir o consumo de antimicrobianos caros (especialmente para MDROs) e o tempo de internação. Além disso, reduz custos indiretos associados a falhas terapêuticas, eventos adversos e ao surgimento de resistência (KPC), melhorando drasticamente a segurança do paciente.
- Referência: Stewardship de antimicrobianos: gerenciando o uso (Artigo CCIH)
- Recurso Adicional: Implementação de um Programa de Stewardship (TV CCIH)
27. A “Hora de Ouro” da Sepse (tratar rápido) e o Stewardship (tratar certo) não são conflitantes?
Não, eles são complementares e sequenciais.
- Hora de Ouro (Emergência): Exige antibiótico empírico rápido para salvar a vida na suspeita de sepse.
- Stewardship (Inteligência): Exige uma reavaliação inteligente em 48-72h (o “time out” do antibiótico), usando os resultados de culturas e da PCT para decidir se o antibiótico deve ser mantido, ajustado (descalonado) ou suspenso.
- Referência: Febre no Paciente Hospitalizado: da Fisiologia à Conduta
- Recurso Adicional: Como aplicar Stewardship de antimicrobianos no contexto de sepse (TV CCIH)
28. Qual a definição formal de FNOI (Febre Nosocomial de Origem Indeterminada)?
É uma definição rigorosa usada em casos complexos: Temperatura ≥ 38,3°C registrada em múltiplas ocasiões, em um paciente hospitalizado (que não tinha infecção na admissão), cujo diagnóstico permanece incerto após 3 dias de investigação, incluindo pelo menos 2 dias de incubação de culturas.
29. Qual a importância da higiene das mãos na prevenção da febre hospitalar?
A higiene das mãos é a medida mais simples e eficaz para prevenir a causa infecciosa da febre. A maioria das IRAS (PAV, IPCSL, ITU) são transmitidas pelas mãos dos profissionais. Aderir à higiene das mãos previne a infecção de base e, consequentemente, a febre, além de ser a principal barreira contra a disseminação de MDROs (KPC).
30. Qual a mensagem final para todas as equipes sobre a abordagem moderna da febre?
A prioridade clínica absoluta não é suprimir o sintoma (febre), mas diagnosticar a etiologia. Devemos combater a “febrefobia”, tratar a sepse agressivamente na “Hora de Ouro” e usar biomarcadores (como a Procalcitonina) como ferramentas de stewardship para diferenciar inflamação estéril de infecção, evitando o uso desnecessário de antibióticos.
FEBRE NO PACIENTE HOSPITALIZADO: DEFINIÇÃO, PATOGENIA, CAUSAS, INVESTIGAÇÃO E CONDUTA TERAPÊUTICA
INTRODUÇÃO
A febre constitui uma das manifestações clínicas mais frequentes em pacientes hospitalizados, representando um desafio diagnóstico e terapêutico relevante para infectologistas, médicos intensivistas, enfermeiros e profissionais de controle de infecção hospitalar (Ref. 1). Este fenômeno fisiológico complexo, caracterizado pela elevação controlada da temperatura corporal mediada por pirogênios, reflete na maioria das vezes um mecanismo de defesa do organismo contra agentes patogênicos, embora possa sinalizar diversas outras condições clínicas (Ref. 2)(Ref. 3).
No contexto hospitalar, a febre assume particularidades importantes que a distinguem das febres de origem comunitária. A prevalência de microrganismos multirresistentes, a presença de dispositivos invasivos, a realização de procedimentos cirúrgicos e a utilização de medicamentos potencialmente pirogênicos ampliam substancialmente o diagnóstico diferencial (Ref. 4)(Ref. 5). Além disso, populações especiais como pacientes imunossuprimidos, neutropênicos, idosos e neonatos apresentam respostas febris atípicas que demandam abordagens específicas (Ref. 6).
Compreender profundamente a fisiopatologia da febre, suas causas no ambiente hospitalar, os métodos adequados de investigação e as estratégias terapêuticas baseadas em evidências torna-se fundamental para otimizar os desfechos clínicos e reduzir a morbimortalidade associada a processos infecciosos e não infecciosos (Ref. 7). Este texto tem como objetivo fornecer uma revisão abrangente e atualizada sobre estes aspectos, direcionada a profissionais de saúde envolvidos no cuidado de pacientes hospitalizados.
1. DEFINIÇÃO DE FEBRE NO BRASIL
1.1 Conceito e Critérios Diagnósticos
A febre é definida como uma elevação anormal da temperatura corporal acima dos valores de referência, resultante de um aumento regulado do ponto de ajuste térmico hipotalâmico em resposta a estímulos pirogênicos (Ref. 8). Diferentemente da hipertermia, na qual ocorre um aumento descontrolado da temperatura por falha nos mecanismos termorreguladores, a febre representa uma resposta adaptativa coordenada pelo sistema nervoso central (Ref. 9).
1.2 Valores de Referência no Brasil
Tradicionalmente, diferentes critérios têm sido utilizados para definir febre, variando conforme a idade do paciente e o método de aferição da temperatura. No Brasil, houve recentemente uma atualização importante nos valores de referência, particularmente para a população pediátrica (Ref. 10).
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em diretrizes publicadas em 2025, a definição de febre em crianças foi padronizada como temperatura axilar ≥ 37,5°C, ou temperatura oral/retal ≥ 38,0°C (Ref. 1)(Ref. 4). Esta modificação em relação ao critério anterior (37,8°C axilar) visa reduzir a “febrefobia” – o medo excessivo da febre por parte de cuidadores – e evitar intervenções medicamentosas desnecessárias (Ref. 7)(Ref. 10).
Para adultos, os critérios permanecem relativamente estabelecidos, considerando-se febre:
- Temperatura axilar: > 37,2 a 37,3°C (Ref. 16)
- Temperatura oral: > 37,5 a 37,8°C (Ref. 16)(Ref. 55)
- Temperatura retal: > 38,0 a 38,3°C (Ref. 16)
- Temperatura timpânica: > 37,8 a 38,0°C (Ref. 16)
1.3 Variações Fisiológicas da Temperatura
É fundamental reconhecer que a temperatura corporal apresenta variações fisiológicas ao longo do dia, com oscilações de até 1,0°C em um mesmo indivíduo entre o período matutino e vespertino, seguindo um ritmo circadiano (Ref. 1). Temperaturas tendem a ser mais baixas pela manhã (6h-8h) e mais elevadas no final da tarde e início da noite (16h-20h) (Ref. 2). Além disso, fatores como idade, sexo, atividade física, ciclo menstrual e condições ambientais podem influenciar os valores basais de temperatura corporal (Ref. 9).
1.4 Febre em Populações Especiais
Idosos: Pacientes idosos frequentemente apresentam temperaturas basais mais baixas e respostas febris atenuadas mesmo na presença de infecções graves. Considera-se febre no idoso uma temperatura axilar > 37,2°C ou uma elevação ≥ 1,1°C acima da temperatura basal (Ref. 9)(Ref. 47). A ausência de febre em idosos não exclui infecção e pode inclusive estar associada a pior prognóstico (Ref. 9).
Neonatos e lactentes: Bebês menores de 3 meses com temperatura axilar ≥ 37,4°C ou uma única medida ≥ 38,0°C por qualquer método devem ser considerados em situação de emergência, dada a maior vulnerabilidade a infecções bacterianas graves (Ref. 16)(Ref. 141).
Neutropênicos: Em pacientes neutropênicos, define-se febre como uma temperatura oral ≥ 38,3°C (medida única) ou ≥ 38,0°C sustentada por mais de 1 hora (Ref. 47)(Ref. 121). A contagem de neutrófilos < 500 células/mm³ ou < 1.000 células/mm³ com previsão de queda para < 500 células/mm³ nas próximas 48 horas caracteriza a neutropenia (Ref. 123)(Ref. 125).
1.5 Métodos de Aferição
A precisão na medição da temperatura é crucial para o diagnóstico e manejo adequados. Os métodos mais confiáveis para aferir a temperatura central incluem cateteres de artéria pulmonar, sondas vesicais e termômetros esofágicos, embora sejam menos disponíveis e mais invasivos (Ref. 47).
Na prática clínica habitual, a medição axilar é amplamente utilizada por ser não invasiva e segura, especialmente em pediatria (Ref. 1)(Ref. 4). A aferição oral ou retal é preferível à axilar ou temporal em adultos, pois apresenta menor variação em relação à temperatura central (Ref. 41)(Ref. 47). Termômetros timpânicos (auriculares) e de artéria temporal (testa) podem ser menos precisos e sofrer influência de fatores externos como temperatura ambiente, presença de cerume ou sudorese (Ref. 41)(Ref. 141).
Importante: A medição retal deve ser evitada em pacientes imunossuprimidos, com neutropenia, plaquetopenia ou lesões anorretais, devido ao risco de trauma à mucosa, bacteremia e formação de abscessos (Ref. 141).
2. PATOGENIA DA FEBRE
2.1 Mecanismos Fisiopatológicos
A febre resulta de uma complexa cascata de eventos moleculares e celulares que culminam na elevação do ponto de ajuste térmico hipotalâmico. Este processo é mediado primariamente pela produção e liberação de pirogênios, substâncias capazes de desencadear a resposta febril (Ref. 2)(Ref. 5).
2.2 Pirogênios Exógenos e Endógenos
Pirogênios Exógenos: São substâncias de origem externa ao organismo, derivadas de patógenos, sendo o lipopolissacarídeo (LPS) ou endotoxina das bactérias Gram-negativas o mais potente (Ref. 2)(Ref. 5). Outros exemplos incluem componentes da parede celular de bactérias Gram-positivas (peptidoglicanos, ácido lipoteicóico), toxinas bacterianas, RNA viral e carboidratos de origem fúngica (Ref. 5).
Estes pirogênios exógenos, também conhecidos como padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), são reconhecidos por receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) presentes em células do sistema imune inato, particularmente macrófagos e monócitos (Ref. 5).
Pirogênios Endógenos: São citocinas e mediadores inflamatórios produzidos por células do hospedeiro em resposta à detecção de pirogênios exógenos ou danos teciduais. Os principais pirogênios endógenos incluem (Ref. 2):
- Interleucina-1 alfa (IL-1α) e beta (IL-1β)
- Interleucina-6 (IL-6)
- Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e beta (TNF-β)
- Interferon alfa (IFN-α)
Entre estas citocinas, a IL-1 é considerada a mais potente. Durante uma infecção bacteriana ou viral, os níveis de IL-1 podem aumentar 20 a 100 vezes seu valor basal em aproximadamente 30 minutos (Ref. 2).
2.3 Via Clássica de Indução da Febre
O modelo clássico da indução da febre envolve as seguintes etapas (Ref. 2)(Ref. 5):
- Reconhecimento do Patógeno: Pirogênios exógenos (ex: LPS) são reconhecidos por receptores tipo Toll (TLRs) em macrófagos, monócitos e células dendríticas.
- Produção de Citocinas: A ativação destes receptores desencadeia vias de sinalização intracelular (NF-κB, AP-1) que induzem a transcrição gênica e síntese de citocinas pirogênicas endógenas (IL-1β, IL-6, TNF-α).
- Ação no Sistema Nervoso Central: As citocinas pirogênicas, através da circulação sanguínea, atingem o hipotálamo. Como estas moléculas são grandes e hidrofílicas, não atravessam facilmente a barreira hematoencefálica (BHE) intacta. Atuam principalmente em regiões circunventriculares do cérebro desprovidas de BHE, como os órgãos vasculares da lâmina terminal (OVLT) (Ref. 2).
- Produção de Prostaglandina E2 (PGE2): As citocinas estimulam células endoteliais vasculares cerebrais e células da glia a produzirem prostaglandina E2 (PGE2) a partir do ácido araquidônico, em uma reação catalisada pela enzima ciclooxigenase-2 (COX-2) e pela sintetase-1 microssómica de PGE2 (Ref. 2)(Ref. 61)(Ref. 64).
- Elevação do Ponto de Ajuste Térmico: A PGE2 atua em receptores específicos (particularmente EP3) presentes em neurônios termossensíveis da área pré-óptica do hipotálamo anterior. Esta interação aumenta os níveis intracelulares de AMPc (adenosina monofosfato cíclico), elevando o ponto de ajuste térmico hipotalâmico para um novo nível (Ref. 2)(Ref. 61)(Ref. 66).
- Resposta Efetora: Uma vez elevado o ponto de ajuste, o organismo interpreta a temperatura corporal atual como “baixa” e ativa mecanismos para aumentar a temperatura até o novo ponto estabelecido (Ref. 2)(Ref. 66):
- Conservação de calor: Vasoconstrição periférica, reduzindo a perda de calor pela pele
- Produção de calor: Tremores musculares (calafrios), aumento do metabolismo celular, termogênese em tecido adiposo marrom
2.4 Vias Alternativas de Indução
Estudos recentes demonstraram que a febre pode ser induzida antes mesmo da detecção de citocinas pirogênicas na circulação e antes do aumento de expressão da COX-2 no hipotálamo, sugerindo a existência de vias adicionais (Ref. 2)(Ref. 5):
Via Neural/Vagal: O LPS, ao alcançar células de Kupffer no fígado, estimula a produção de componentes do complemento (C5a) e PGE2 localmente. A PGE2 ativa aferentes vagais que transmitem sinais ao núcleo do trato solitário no tronco cerebral e, subsequentemente, ao hipotálamo (Ref. 2). Esta via é PGE-independente centralmente na fase inicial e caracteriza-se clinicamente por tremores e arrepios. Posteriormente, ocorre ativação de receptores adrenérgicos α-2 com aumento da produção de PGE2 via COX-2 central, resultando em elevação mais prolongada da temperatura (Ref. 2).
2.5 Mecanismos Antipiréticos Endógenos
Concomitantemente aos mecanismos que promovem a febre, o organismo possui sistemas reguladores que previnem temperaturas corporais excessivamente elevadas, evitando danos teciduais. Os principais mediadores antipiréticos endógenos incluem (Ref. 2):
Glicocorticoides: Controlam a expressão de pirogênios endógenos ao inibirem fatores de transcrição nuclear como NF-κB e AP-1.
Neuropeptídeos: Vasopressina (AVP), hormona adrenocorticotrófica (ACTH) e hormona estimuladora dos melanócitos-α (α-MSH) atuam no hipotálamo com efeito antipirético.
Citocinas Antipiréticas: Incluem o receptor antagonista da IL-1 (IL-1RA), IL-10 e a proteína ligante do TNF-α (TNF-α BP).
Dissociação de Receptores: O bloqueio da ativação celular por citocinas pirogênicas através da dissociação de receptores (IL-6R, TNF-RI) constitui outro mecanismo antipirético importante (Ref. 2).
2.6 Papel da Febre na Defesa do Organismo
A febre não deve ser vista meramente como um sintoma a ser suprimido, mas como uma resposta adaptativa evolutivamente conservada que confere vantagens na defesa contra infecções (Ref. 63)(Ref. 66)(Ref. 120):
Efeitos Antimicrobianos: Temperaturas elevadas inibem diretamente o crescimento e replicação de diversos patógenos, incluindo bactérias, vírus e parasitas. Muitos microrganismos possuem faixas de temperatura ótimas para multiplicação, e a febre desloca o ambiente para fora desta faixa (Ref. 13)(Ref. 122).
Potencialização da Resposta Imune: A febre aumenta a atividade bactericida de neutrófilos, a proliferação de linfócitos T e B, a produção de anticorpos e a atividade de células natural killer (NK). Diversas funções imunológicas tornam-se mais eficazes em temperaturas elevadas (Ref. 66)(Ref. 120)(Ref. 122).
Memória Imunológica: Estudos sugerem que a febre desempenha papel importante no desenvolvimento da memória imunológica, que é criada após o primeiro contato com um agente infeccioso (Ref. 120).
Evidências Clínicas: Ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo em voluntários infectados com rinovírus demonstraram que o uso de aspirina, paracetamol ou ibuprofeno está associado ao aumento ou prolongamento da eliminação viral. Em um desses estudos, aspirina e paracetamol suprimiram a resposta de anticorpos neutralizantes e, paradoxalmente, pioraram os sintomas nasais (Ref. 120).
Por outro lado, a febre descontrolada ou temperaturas extremamente elevadas (> 40-41°C) podem causar danos ao sistema nervoso central, desnaturação proteica, aumento do consumo metabólico de oxigênio, comprometimento cardiovascular e desidratação, exigindo intervenção terapêutica (Ref. 13)(Ref. 47).
3. PRINCIPAIS CAUSAS DE FEBRE NO PACIENTE HOSPITALIZADO
A febre no ambiente hospitalar apresenta um espectro etiológico amplo e complexo, que pode ser didaticamente organizado em categorias, conforme o contexto clínico e o tempo de internação.
3.1 Febre Nosocomial – Definição
Febre nosocomial ou associada à hospitalização é definida como temperatura ≥ 38,3°C em paciente internado, sendo que a infecção não estava presente nem em período de incubação no momento da admissão hospitalar (Ref. 3)(Ref. 9)(Ref. 15). O pré-requisito mínimo é de pelo menos 3 dias de internação com pelo menos 2 dias de incubação de culturas (Ref. 3).
3.2 Classificação Temporal das Causas de Febre Pós-Operatória
Uma abordagem clássica e didática para avaliar a febre no paciente cirúrgico é a classificação temporal segundo os “5 Ws” (do inglês: Wind, Water, Walk, Wound, Wonder drugs), embora este mnemônico tenha limitações e deva ser utilizado com senso crítico (Ref. 23)(Ref. 26)(Ref. 82):
Até 48 horas pós-operatório:
- Resposta inflamatória sistêmica: A febre nas primeiras 48 horas é frequentemente benigna e autolimitada, relacionada à resposta inflamatória ao trauma cirúrgico e liberação de citocinas (IL-1, IL-6, TNF-α) (Ref. 26)(Ref. 29). A intensidade da resposta está relacionada à extensão do procedimento.
- Atelectasia: Embora classicamente citada como causa de febre pós-operatória precoce (“Wind”), estudos recentes questionam esta associação. A atelectasia e a febre podem coexistir nas primeiras 48 horas sem relação causal direta (Ref. 26).
3º ao 5º dia pós-operatório:
- Pneumonia: Infecção pulmonar, particularmente pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) em pacientes intubados. Manifesta-se com febre, tosse produtiva, secreção purulenta, alterações radiológicas e leucocitose (Ref. 21)(Ref. 24)(Ref. 30).
- Infecção do trato urinário (ITU): Comum em pacientes submetidos a sondagem vesical. Caracteriza-se por febre, disúria, urgência miccional e piúria. A urocultura confirma o diagnóstico (Ref. 23)(Ref. 48).
A partir do 5º dia pós-operatório:
- Infecção do sítio cirúrgico (ISC): Manifesta-se com sinais flogísticos locais (rubor, calor, edema, dor), secreção purulenta e febre. Geralmente ocorre entre o 5º e 7º dia, mas pode surgir até 30 dias após o procedimento (Ref. 23)(Ref. 32).
- Abscesso intra-abdominal: Particularmente após cirurgias abdominais. Apresenta-se com febre persistente, dor abdominal, leucocitose e pode ser detectado por tomografia computadorizada (TC) ou ultrassonografia (US) (Ref. 80)(Ref. 83).
- Tromboflebite/Flebite: Inflamação venosa, frequentemente associada a cateteres venosos periféricos ou centrais. Pode evoluir para tromboflebite séptica com febre, calafrios e bacteremia (Ref. 22)(Ref. 25)(Ref. 37).
- Trombose venosa profunda (TVP): Pode causar febre baixa e está relacionada à imobilização prolongada (“Walk”) (Ref. 23).
3.3 Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)
As infecções relacionadas à assistência à saúde constituem a principal causa de febre nosocomial e representam um grave problema de saúde pública, associadas a aumento de morbimortalidade, prolongamento da internação e elevação de custos hospitalares (Ref. 9)(Ref. 18).
3.3.1 Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV)
A PAV é uma das IRAS mais frequentes em unidades de terapia intensiva (UTI), ocorrendo em pacientes sob ventilação mecânica por mais de 48 horas (Ref. 18)(Ref. 30).
Quadro clínico: Febre (> 38°C), leucocitose ou leucopenia, surgimento de secreção purulenta ou mudança nas características da secreção, piora da oxigenação (queda da PaO2/FiO2, aumento da necessidade de PEEP ou FiO2), infiltrado novo ou progressivo na radiografia/TC de tórax (Ref. 18)(Ref. 140).
Principais agentes: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae (incluindo cepas produtoras de carbapenemases), Staphylococcus aureus meticilino-resistente (MRSA), Escherichia coli, Enterobacter spp. (Ref. 30).
3.3.2 Infecção do Trato Urinário (ITU) Associada a Cateter
A ITU relacionada a cateter vesical de demora é extremamente comum, representando cerca de 40% das IRAS (Ref. 48).
Quadro clínico: Febre (≥ 38°C), desconforto suprapúbico, dor no ângulo costo-vertebral, urgência ou aumento da frequência miccional (em pacientes sem cateter ou com cateter removido há < 48h), disúria (Ref. 48).
Diagnóstico: Urocultura com ≥ 10⁵ UFC/mL com no máximo duas espécies de microrganismos (Ref. 48).
Principais agentes: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Enterococcus spp., Candida spp. (Ref. 48).
3.3.3 Infecção de Corrente Sanguínea Relacionada a Cateter (ICSRC)
As infecções de corrente sanguínea primárias, particularmente aquelas associadas a cateteres venosos centrais (CVC), são causas importantes de febre hospitalar e estão associadas a alta morbimortalidade (Ref. 22)(Ref. 28).
Quadro clínico: Febre (≥ 38°C), calafrios, tremores, sinais de infecção no sítio de inserção do cateter (eritema, edema, secreção purulenta, dor), bacteremia documentada por hemocultura (Ref. 22)(Ref. 28).
Nota importante: Até 70% dos pacientes com ICSRC não apresentam sinais locais de infecção no cateter (Ref. 22).
Complicações: Tunelite (em cateteres tunelizados), tromboflebite séptica (Ref. 22).
Principais agentes: Staphylococcus coagulase-negativo, Staphylococcus aureus (incluindo MRSA), Candida spp., bacilos Gram-negativos (Ref. 22)(Ref. 28).
3.3.4 Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC)
Classificação:
- ISC incisional superficial: Envolve pele e tecido subcutâneo
- ISC incisional profunda: Envolve fáscia e músculo
- ISC de órgão/cavidade: Envolve estruturas anatômicas abertas ou manipuladas durante o procedimento
Quadro clínico: Febre persistente após o 4º dia de pós-operatório, dor local, eritema, calor, edema, deiscência de sutura, drenagem de secreção purulenta (Ref. 23)(Ref. 32).
Principais agentes: Depende do sítio cirúrgico. Em cirurgias limpas: Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativo. Em cirurgias contaminadas (abdominais, colorretais): flora polimicrobiana incluindo anaeróbios (Bacteroides fragilis, Clostridium spp.), enterobactérias e enterococos (Ref. 32)(Ref. 86).
3.3.5 Colite Pseudomembranosa por Clostridioides difficile
A infecção por C. difficile é uma causa importante de diarreia e febre em pacientes hospitalizados, especialmente aqueles que receberam antibioticoterapia de amplo espectro (Ref. 81)(Ref. 84)(Ref. 90).
Quadro clínico: Diarreia aquosa (≥ 3 evacuações não formadas em 24h), febre (frequentemente > 38,5°C), dor abdominal em cólica, leucocitose (> 15.000/mm³), hipoalbuminemia, distensão abdominal. Casos graves podem evoluir para megacólon tóxico e perfuração intestinal (Ref. 81)(Ref. 84)(Ref. 87)(Ref. 93).
Diagnóstico: Pesquisa de toxinas A e B nas fezes por ensaio imunoenzimático (EIA), teste molecular (PCR para genes de toxinas), colonoscopia/retossigmoidoscopia evidenciando pseudomembranas (Ref. 84)(Ref. 90).
Fatores de risco: Uso de antibióticos (cefalosporinas, fluoroquinolonas, clindamicina, penicilinas de amplo espectro), idade avançada, internação prolongada, imunossupressão, uso de inibidores de bomba de prótons (Ref. 81)(Ref. 84).
3.4 Abscessos Intra-abdominais
Abscessos intra-abdominais podem ocorrer como complicação de peritonite, perfuração visceral, cirurgia abdominal, trauma ou disseminação hematogênica (Ref. 83).
Quadro clínico: Febre persistente, desconforto abdominal (pode ser mínimo a intenso), náuseas, anorexia, perda de peso, íleo paralítico. Abscessos subfrênicos podem causar sintomas torácicos (tosse, dor torácica, dispneia, dor no ombro) (Ref. 83).
Diagnóstico: TC de abdome é o exame de escolha, com sensibilidade superior à ultrassonografia (Ref. 83)(Ref. 92).
Principais agentes: Flora polimicrobiana – anaeróbios (Bacteroides fragilis, Clostridium spp., Fusobacterium spp.), aeróbios Gram-negativos (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.), enterococos (Ref. 83)(Ref. 86).
Tratamento: Drenagem (percutânea guiada por imagem ou cirúrgica) + antibioticoterapia de amplo espectro (Ref. 83).
3.5 Endocardite Infecciosa
Embora menos frequente, a endocardite infecciosa deve ser considerada no diagnóstico diferencial de febre hospitalar, particularmente em pacientes com cateteres venosos centrais de longa permanência, próteses valvares, uso de drogas intravenosas ou procedimentos odontológicos/cirúrgicos recentes (Ref. 100)(Ref. 106).
Quadro clínico: Febre (presente em > 80-90% dos casos), sopro cardíaco (novo ou com mudança de características), fenômenos embólicos (sistêmicos ou pulmonares), manifestações imunológicas (nódulos de Osler, manchas de Janeway, manchas de Roth, fator reumatóide positivo), insuficiência cardíaca, abscessos perivalvares, bloqueios de condução (Ref. 100)(Ref. 106)(Ref. 109).
Endocardite do lado direito: Comum em usuários de drogas intravenosas. Embolia pulmonar séptica pode causar tosse, dor torácica pleurítica e hemoptise (Ref. 100)(Ref. 103).
Diagnóstico: Critérios de Duke modificados – combinação de hemoculturas positivas (≥ 2 pares), ecocardiograma evidenciando vegetações ou complicações valvares, e critérios clínicos (Ref. 100).
Principais agentes: Staphylococcus aureus (mais comum em endocardite aguda e associada a cateter), Streptococcus viridans, Enterococcus spp., Staphylococcus coagulase-negativo, Candida spp., HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella) (Ref. 100).
3.6 Febre Medicamentosa (Drug Fever)
A febre induzida por fármacos é uma reação adversa frequentemente subdiagnosticada, representando 3-7% dos casos de febre em pacientes hospitalizados (Ref. 102)(Ref. 108). Praticamente qualquer medicamento pode causar febre, mas antibióticos beta-lactâmicos, anticonvulsivantes, alopurinol e vancomicina são os mais frequentemente implicados (Ref. 99)(Ref. 102)(Ref. 108).
Mecanismos: Reação de hipersensibilidade tipo I (IgE-mediada), tipo IV (mediada por células T), resposta idiossincrática, ação farmacológica direta, contaminação do fármaco, reação infusional (Ref. 108).
Quadro clínico: Febre que se inicia após dias a semanas do início do medicamento (variável conforme exposição prévia), frequentemente acompanhada de rash cutâneo (25-50% dos casos), eosinofilia periférica (20-25%), mas pode ser isolada (Ref. 102)(Ref. 108)(Ref. 111).
Diagnóstico: É um diagnóstico de exclusão. Caracteriza-se pela resolução completa da febre 48-72 horas após a suspensão do fármaco suspeito e recorrência da febre com a reintrodução (Ref. 99)(Ref. 102)(Ref. 108).
Antibióticos beta-lactâmicos: Cefalosporinas, penicilinas (particularmente piperacilina-tazobactam) são causas comuns. O início da febre varia de 7 a 35 dias, sendo mais precoce em pacientes previamente expostos (Ref. 99)(Ref. 102)(Ref. 105).
3.7 Síndrome Pós-Pericardiotomia (Síndrome de Dressler)
A síndrome pós-pericardiotomia ou síndrome de Dressler é uma forma de pericardite secundária que ocorre após lesão cardíaca (infarto do miocárdio, cirurgia cardíaca, trauma torácico, procedimentos percutâneos) (Ref. 101)(Ref. 104)(Ref. 107).
Fisiopatologia: Acredita-se que resulte de uma resposta autoimune desencadeada pela lesão do pericárdio e exposição de antígenos cardíacos, com deposição de imunocomplexos (Ref. 101)(Ref. 107).
Quadro clínico: Manifestações surgem dentro de 1 a 6 semanas (geralmente 2-12 semanas) após o evento inicial. Febre (38-40°C), dor torácica pleurítica (piora com decúbito e melhora ao sentar e inclinar-se para frente), atrito pericárdico, derrame pericárdico e/ou pleural, dispneia, palpitações (Ref. 101)(Ref. 104)(Ref. 107)(Ref. 110).
Diagnóstico: Clínico, associado a alterações no ECG (supra-ST difuso, infra-PR), ecocardiograma (derrame pericárdico), elevação de marcadores inflamatórios (PCR, VHS), hemoculturas negativas (Ref. 101)(Ref. 107).
Tratamento: Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), colchicina, corticosteroides em casos refratários (Ref. 101)(Ref. 107).
3.8 Febre de Origem Indeterminada (FOI) Nosocomial
Febre de origem indeterminada nosocomial é definida como temperatura ≥ 38,3°C em paciente hospitalizado, sem infecção ou doença incubada à admissão, com ausência de diagnóstico apesar de pelo menos 3 dias de internação e pelo menos 2 dias de incubação de culturas (Ref. 3)(Ref. 15).
Causas comuns no ambiente hospitalar: Clostridioides difficile, sinusite, febre medicamentosa, embolia pulmonar, tromboflebite séptica, abscessos (Ref. 9).
3.9 Outras Causas Não Infecciosas
- Tromboembolismo pulmonar: Pode causar febre baixa (< 39°C), dispneia, dor torácica pleurítica, taquipneia, taquicardia (Ref. 23).
- Reações transfusionais: Reação febril não hemolítica (mais comum), reação hemolítica aguda, contaminação bacteriana de hemocomponentes (Ref. 23).
- Neoplasias: Linfomas, leucemias, carcinoma renal, carcinoma hepatocelular podem cursar com febre (Ref. 6).
- Doenças reumáticas/autoimunes: Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide juvenil, vasculites, doença de Still do adulto (Ref. 6).
- Hematomas: Grandes coleções hemáticas podem causar febre por reabsorção (Ref. 23).
4. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DA FEBRE NO PACIENTE HOSPITALIZADO
A abordagem diagnóstica da febre no ambiente hospitalar deve ser sistematizada, criteriosa e individualizada, visando identificar rapidamente causas potencialmente graves que necessitam de intervenção imediata.
4.1 Anamnese Direcionada
Uma história clínica detalhada é fundamental e deve incluir:
Caracterização da febre:
- Início (data e hora exatas)
- Padrão temporal (contínua, intermitente, recorrente)
- Magnitude (temperatura máxima atingida)
- Sintomas associados (calafrios, sudorese, tremores)
História da internação atual:
- Motivo da admissão hospitalar
- Tempo de internação
- Procedimentos cirúrgicos realizados (tipo, data, complicações)
- Dispositivos invasivos (CVC, SVD, drenos, tubo orotraqueal, ventilação mecânica)
- Medicamentos em uso (especialmente antibióticos, quimioterápicos, imunossupressores)
Sintomas sistêmicos e localizadores:
- Respiratórios: tosse, expectoração, dispneia, dor torácica
- Urinários: disúria, polaciúria, urgência, hematúria
- Gastrointestinais: diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos
- Neurológicos: cefaleia, alteração do nível de consciência, rigidez de nuca
- Cutâneos: rash, lesões, dor em membros
Fatores de risco:
- Imunossupressão (HIV, quimioterapia, corticoterapia, transplante)
- Neutropenia
- Comorbidades (diabetes, insuficiência renal, hepatopatia, cardiopatia)
- Uso recente de antibióticos
4.2 Exame Físico Completo e Sistematizado
O exame físico deve ser minucioso, com atenção especial para identificação de focos infecciosos:
Sinais vitais:
- Temperatura (método padronizado)
- Frequência cardíaca, pressão arterial, pressão arterial média (PAM)
- Frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio (SpO2)
- Nível de consciência (Escala de Glasgow)
Exame da pele e tecido subcutâneo:
- Sítios de inserção de cateteres venosos periféricos e centrais (eritema, edema, calor, secreção purulenta, cordões venosos palpáveis)
- Feridas operatórias (sinais flogísticos, deiscência, drenagem de secreção)
- Lesões cutâneas (celulite, abscessos, úlceras de pressão)
- Petéquias, púrpuras (sugestivas de bacteremia, endocardite, vasculite)
Exame de cabeça e pescoço:
- Cavidade oral (mucosite, candidíase, abscessos dentários)
- Seios paranasais (dor à palpação, sugestiva de sinusite)
- Orofaringe (hiperemia, exsudato)
Exame cardiovascular:
- Ausculta cardíaca (sopros novos ou com mudança de características – suspeita de endocardite)
- Sinais de insuficiência cardíaca
- Pulsos periféricos, sinais de trombose venosa profunda
Exame respiratório:
- Ausculta pulmonar (estertores, roncos, sibilos, diminuição do murmúrio vesicular)
- Percussão (macicez – derrame pleural, consolidação)
- Frequência e padrão respiratório
Exame abdominal:
- Inspeção (distensão)
- Palpação (dor, defesa, hepatomegalia, massas)
- Ausculta (ruídos hidroaéreos)
- Sondas, drenos (aspecto da drenagem)
Exame neurológico:
- Nível de consciência
- Sinais meníngeos (rigidez de nuca, sinais de Kernig e Brudzinski)
- Déficits focais
Exame geniturinário:
- Cateter vesical de demora (aspecto da urina drenada)
- Região perianal (abscessos, fissuras – especialmente em neutropênicos)
4.3 Exames Laboratoriais
Exames iniciais obrigatórios:
Hemograma completo:
- Leucocitose (> 12.000/mm³) ou leucopenia (< 4.000/mm³)
- Desvio à esquerda (> 10% de bastonetes)
- Neutropenia (< 500/mm³ ou < 1.000/mm³ com previsão de queda)
- Plaquetopenia (CID, sepse grave)
Hemoculturas:
- Coletar 2 a 3 pares de hemoculturas de sítios diferentes (incluindo uma amostra de CVC, se presente) antes de iniciar ou modificar antibioticoterapia (Ref. 42)(Ref. 50)
- Aumenta a sensibilidade para detecção de bacteremia em > 95% (Ref. 50)
- Idealmente, coletar durante pico febril ou calafrios
Urina tipo I (EAS) e Urocultura:
- Indicado na presença de sintomas urinários, sonda vesical de demora ou alterações urinárias prévias
- Leucocitúria (> 10 leucócitos/campo), bacteriúria, nitritos positivos
- Urocultura com ≥ 10⁵ UFC/mL confirma ITU (Ref. 48)
Proteína C reativa (PCR) e Velocidade de Hemossedimentação (VHS):
- Marcadores inespecíficos de inflamação/infecção
- Úteis para acompanhamento da resposta terapêutica
Procalcitonina:
- Marcador mais específico de infecção bacteriana
- Níveis > 0,5 ng/mL sugerem infecção bacteriana; > 2 ng/mL sugerem sepse/infecção grave
- Útil para guiar início e descontinuação de antibioticoterapia
Função renal e hepática:
- Ureia, creatinina (função renal, ajuste de doses de antimicrobianos)
- TGO, TGP, bilirrubinas, fosfatase alcalina, gama-GT (função hepática, abscessos hepáticos)
Eletrólitos:
- Sódio, potássio, cloro (distúrbios hidroeletrolíticos na sepse)
Lactato arterial:
- Marcador de hipoperfusão tecidual e severidade na sepse
- Lactato > 2 mmol/L define sepse com disfunção orgânica
Gasometria arterial:
- Avaliação de oxigenação (PaO2, SaO2), ventilação (PaCO2), equilíbrio ácido-base (pH, HCO3-, BE)
- Importante em pacientes com sinais de sepse ou insuficiência respiratória
Exames adicionais conforme suspeita clínica:
- Pesquisa de toxinas de difficile nas fezes: Em pacientes com diarreia e uso recente de antibióticos (Ref. 84)
- Culturas de secreções: Secreção traqueal/aspirado traqueal (suspeita de PAV), ferida operatória, drenos
- Líquor: Punção lombar se suspeita de meningite (febre + cefaleia + rigidez de nuca + alteração do nível de consciência)
- Líquido pleural: Toracocentese diagnóstica se derrame pleural significativo
- Líquido ascítico: Paracentese diagnóstica se ascite (suspeita de peritonite bacteriana espontânea)
4.4 Exames de Imagem
Radiografia de tórax (PA e perfil):
- Exame inicial de escolha na suspeita de infecção pulmonar
- Identifica infiltrados, consolidações, derrames pleurais, atelectasias
- Limitação: Sensibilidade reduzida em neutropênicos (pode ser normal mesmo na presença de pneumonia) (Ref. 121)
Tomografia computadorizada (TC) de tórax:
- Maior sensibilidade que a radiografia, especialmente em pacientes neutropênicos
- Indicada quando radiografia normal ou inconclusiva, mas há forte suspeita clínica de pneumonia
- Identifica infiltrados iniciais, cavitações, nódulos, derrames pleurais pequenos (Ref. 41)(Ref. 121)
Tomografia computadorizada de abdome e pelve:
- Exame de escolha para investigação de abscessos intra-abdominais, pélvicos, perirrenais
- Indicada em pacientes pós-operatórios com febre persistente sem foco evidente (Ref. 41)(Ref. 83)
- Avalia colecistite, pancreatite, apendicite, diverticulite, abscessos hepáticos/esplênicos
Ultrassonografia de abdome:
- Alternativa à TC, especialmente quando há contraindicação ao contraste ou indisponibilidade de TC
- Útil para avaliação de colecistite, abscessos hepáticos, coleções pélvicas
- Point-of-care ultrasound (POCUS) pode ser útil à beira leito (Ref. 41)
Ecocardiograma:
- Ecocardiograma transtorácico (ETT): Exame inicial na suspeita de endocardite
- Ecocardiograma transesofágico (ETE): Maior sensibilidade para detectar vegetações pequenas, abscessos perivalvares, complicações valvares. Indicado quando ETT negativo mas suspeita clínica alta (Ref. 100)
Tomografia por emissão de pósitrons (PET-TC):
- Útil em casos de febre de origem indeterminada prolongada sem foco identificado por métodos convencionais
- Identifica focos ocultos de infecção, abscessos, processos inflamatórios, neoplasias (Ref. 41)
4.5 Fluxograma de Investigação
Um protocolo sistematizado facilita a abordagem diagnóstica:
Passo 1 – Avaliação inicial:
- História clínica e exame físico completos
- Aferição de sinais vitais
- Identificação de sinais de sepse/choque séptico
Passo 2 – Exames laboratoriais iniciais:
- Hemograma completo
- 2-3 pares de hemoculturas (antes de antibiótico)
- Urina tipo I e urocultura (se indicado)
- Função renal e hepática
- Eletrólitos
- PCR, procalcitonina
- Lactato arterial (se sepse)
Passo 3 – Exames de imagem direcionados:
- Radiografia de tórax (sintomas respiratórios ou sepse)
- TC de tórax (suspeita de PAV, neutropênico)
- TC de abdome/pelve (pós-operatório abdominal, dor abdominal, suspeita de abscesso)
Passo 4 – Investigação adicional conforme suspeita:
- Ecocardiograma (suspeita de endocardite)
- Pesquisa de difficile (diarreia + ATB prévio)
- Culturas específicas (secreções, líquidos corporais)
Passo 5 – Reavaliação contínua:
- Resposta clínica à terapia empírica
- Resultados de culturas (ajuste de antibioticoterapia)
- Novos sinais ou sintomas localizadores
4.6 Considerações Especiais
Paciente neutropênico febril:
- Investigação deve ser extremamente rápida (primeira hora)
- Antibioticoterapia empírica de amplo espectro deve ser iniciada em até 1 hora após detecção da febre, idealmente após coleta de culturas (Ref. 121)(Ref. 125)
- TC de tórax preferível à radiografia (maior sensibilidade)
- Exame físico cuidadoso (evitar toque retal, palpação agressiva de região perianal)
Paciente pós-operatório:
- Examinar cuidadosamente ferida operatória
- TC de abdome se cirurgia abdominal e febre após 5º dia
- Considerar abscessos intra-abdominais, ISC, TVP, embolia pulmonar
Paciente com cateter venoso central:
- Sinais de infecção no sítio de inserção ou túnel subcutâneo (tunelite)
- Hemoculturas pareadas (uma de CVC e outra periférica) com tempo diferencial de positividade
- Tromboflebite séptica
5. CONDUTAS PARA CONTROLE E TRATAMENTO DA FEBRE
O manejo da febre no paciente hospitalizado envolve duas abordagens principais: o tratamento sintomático da febre propriamente dita e o tratamento da causa subjacente. A decisão de tratar sintomaticamente a febre deve ser individualizada, considerando os potenciais benefícios e malefícios da resposta febril.
5.1 Quando Tratar Sintomaticamente a Febre?
A febre, como resposta fisiológica adaptativa, pode ser benéfica na defesa contra infecções, conforme discutido anteriormente (Ref. 63)(Ref. 66)(Ref. 120). Entretanto, em determinadas situações clínicas, a febre pode causar danos ou desconforto significativo, justificando a intervenção antipirética:
Indicações para tratamento sintomático da febre:
- Desconforto significativo do paciente: Cefaleia, mialgias, mal-estar intenso (Ref. 41)(Ref. 43)
- Temperaturas elevadas: Febre > 39,5-40°C, especialmente se persistente
- Pacientes com risco de complicações cardiovasculares: Insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana (aumento do consumo de oxigênio miocárdico)
- Pacientes com risco de complicações neurológicas: História de convulsões febris, lesões cerebrais, hipertensão intracraniana
- Pacientes críticos instáveis: Choque séptico refratário, necessidade elevada de vasopressores (alguns estudos sugerem benefício do controle da febre) (Ref. 119)
- Gestantes: Febre no primeiro trimestre pode estar associada a malformações fetais
Situações em que se deve evitar supressão agressiva da febre:
- Infecções em estágios iniciais: Particularmente virais, onde a febre pode auxiliar na resposta imune e na formação de memória imunológica (Ref. 120)
- Pacientes hemodinamicamente estáveis: Sem desconforto significativo, sem comorbidades que justifiquem tratamento antipirético
5.2 Tratamento Sintomático Farmacológico
5.2.1 Antipiréticos Disponíveis
Paracetamol (Acetaminofeno)
- Mecanismo de ação: Inibe a ciclooxigenase (COX) centralmente no hipotálamo, reduzindo a síntese de prostaglandina E2 (PGE2). Tem mínima ação anti-inflamatória periférica (Ref. 43)(Ref. 46).
- Doses:
- Adultos: 500-1000 mg VO/EV a cada 6-8 horas (máximo 4g/dia)
- Crianças: 10-15 mg/kg/dose VO/EV a cada 4-6 horas (máximo 75 mg/kg/dia, não excedendo 4g/dia)
- Início de ação: 30-60 minutos após administração oral; 15 minutos EV (Ref. 43)(Ref. 54)
- Vantagens: Bem tolerado, seguro em pacientes com úlcera péptica, não interfere com a agregação plaquetária, seguro em crianças e gestantes (Ref. 43)(Ref. 51)
- Desvantagens/Contraindicações: Hepatotoxicidade em doses elevadas ou uso crônico (especialmente em etilistas, hepatopatas). Evitar em insuficiência hepática grave (Ref. 43).
Dipirona (Metamizol)
- Mecanismo de ação: Derivado pirazolônico com ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Aumenta a perda de calor corporal sem alterar a produção. Age centralmente e perifericamente (Ref. 43)(Ref. 46).
- Doses:
- Adultos: 500-1000 mg VO/EV a cada 6-8 horas
- Crianças: 10-15 mg/kg/dose a cada 6-8 horas
- Início de ação: 30-60 minutos VO; 15-30 minutos EV (Ref. 43)(Ref. 54)
- Vantagens: Potente efeito antipirético e analgésico, frequentemente superior ao paracetamol em estudos comparativos (Ref. 49)(Ref. 57). Efeito antiespasmódico (útil em cólicas)
- Desvantagens/Contraindicações: Risco de agranulocitose (raro, mas potencialmente grave – 1:1.000.000), hipotensão arterial (especialmente via EV rápida – administrar em infusão lenta de pelo menos 15-30 minutos), reações anafiláticas (Ref. 49). Contraindicado em pacientes com discrasias sanguíneas, deficiência de G6PD, gestantes no primeiro trimestre e terceiro trimestre avançado.
- Nota: A dipirona é amplamente utilizada no Brasil e outros países da América Latina e Europa, mas é proibida em alguns países (EUA, Reino Unido) devido ao risco de agranulocitose (Ref. 49).
Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs)
Ibuprofeno:
- Mecanismo de ação: Inibe COX-1 e COX-2 periférica e centralmente, reduzindo a síntese de prostaglandinas pró-inflamatórias (PGE2, PGI2) (Ref. 60)(Ref. 62)(Ref. 64)(Ref. 68)
- Doses:
- Adultos: 200-400 mg VO a cada 6-8 horas (máximo 2400 mg/dia)
- Crianças > 6 meses: 5-10 mg/kg/dose VO a cada 6-8 horas (máximo 40 mg/kg/dia)
- Início de ação: 15-30 minutos (Ref. 62)
- Vantagens: Efeito antipirético, analgésico e anti-inflamatório. Útil quando há componente inflamatório associado (Ref. 60)(Ref. 62)(Ref. 68)
- Desvantagens/Contraindicações: Gastropatia (risco de úlcera péptica, sangramento digestivo), nefrotoxicidade (insuficiência renal aguda, especialmente em pacientes desidratados ou com insuficiência renal prévia), risco cardiovascular (hipertensão, trombose), inibição da agregação plaquetária. Evitar em pacientes com úlcera péptica ativa, insuficiência renal, insuficiência cardíaca descompensada, cirrose hepática, dengue (risco de sangramento), terceiro trimestre de gestação (Ref. 60)(Ref. 62)(Ref. 65).
Outros AINEs: Nimesulida, cetoprofeno, diclofenaco – apresentam perfis semelhantes de eficácia e efeitos adversos (Ref. 65).
5.2.2 Comparação entre Antipiréticos
Estudos comparativos demonstram eficácia antipirética semelhante entre paracetamol, dipirona e ibuprofeno, embora a dipirona possa apresentar efeito mais duradouro em alguns ensaios clínicos (Ref. 49)(Ref. 51)(Ref. 57).
Recomendações gerais:
- Primeira linha: Paracetamol (perfil de segurança favorável)
- Alternativas: Dipirona (potente, mas considerar riscos) ou ibuprofeno (se componente inflamatório/doloroso)
- Evitar uso combinado rotineiro: Não há evidência robusta de benefício superior da combinação de antipiréticos. Pode ser considerado em casos refratários, sob orientação médica (Ref. 51)
5.3 Métodos Físicos de Resfriamento
Os métodos físicos para redução da temperatura corporal incluem compressas mornas/frias, bolsas de gelo, banho morno, mantas de resfriamento e melhoria na circulação de ar (Ref. 119).
Eficácia: Estudos demonstram que os métodos físicos podem reduzir a temperatura corporal, embora a magnitude seja geralmente modesta (0,2-0,4°C em média) e a significância estatística nem sempre seja atingida quando comparados ao uso isolado de antipiréticos (Ref. 119)(Ref. 126)(Ref. 128). Entretanto, a relevância clínica pode existir, especialmente em pacientes críticos onde até pequenas reduções na temperatura podem ter impacto (Ref. 119).
Mecanismo: Diferentemente dos antipiréticos, que reduzem o ponto de ajuste hipotalâmico, os métodos físicos aumentam a perda de calor por condução e convecção, sem alterar o ponto de ajuste. Isto pode gerar desconforto (calafrios, tremores) pois o organismo tenta retornar à temperatura “programada” pelo hipotálamo (Ref. 119).
Recomendações:
- Banho morno (não frio): Pode ser útil para conforto, especialmente em crianças (Ref. 124)(Ref. 128)
- Compressas mornas: Preferíveis às frias (menos desconforto)
- Evitar métodos agressivos: Banhos gelados, compressas geladas podem causar vasoconstrição periférica, tremores intensos e desconforto, sendo contraindicados (Ref. 119)(Ref. 126)
- Associação com antipiréticos: Quando indicados, os métodos físicos devem ser associados a antipiréticos, não utilizados isoladamente, especialmente em febres > 39°C (Ref. 119)
- Pacientes críticos: Bolsas de gelo associadas a antipiréticos podem ter relevância clínica (tamanho de efeito médio), especialmente em sepse/choque séptico com necessidade de vasopressores (Ref. 119)
Limitações e controvérsias: Não há consenso sobre o método físico mais eficiente e seguro. Alguns autores questionam sua utilidade prática (Ref. 119)(Ref. 126).
5.4 Tratamento da Causa Subjacente
O tratamento definitivo da febre no paciente hospitalizado depende da identificação e tratamento da causa de base. Este é o aspecto mais importante do manejo.
5.4.1 Antibioticoterapia Empírica
Na suspeita de infecção bacteriana, especialmente em pacientes com sepse, sepse grave ou choque séptico, a antibioticoterapia empírica de amplo espectro deve ser iniciada precocemente, idealmente na primeira hora após o reconhecimento da sepse e após a coleta de culturas (Ref. 121)(Ref. 154)(Ref. 160).
Princípios da antibioticoterapia empírica:
- Cobertura de amplo espectro: Deve abranger os patógenos mais prováveis conforme o foco infeccioso suspeito e o perfil de resistência da instituição
- Consideração do perfil de resistência local: Conhecimento da epidemiologia microbiológica hospitalar é fundamental (prevalência de MRSA, enterobactérias produtoras de ESBL, bactérias produtoras de carbapenemases)
- Dose otimizada: Doses adequadas e intervalos apropriados, considerando função renal e hepática
- Ajuste conforme resultado de culturas: “De-escalação” para antibiótico de espectro mais estreito assim que o agente etiológico e seu perfil de sensibilidade forem identificados
Exemplos de esquemas empíricos conforme o foco infeccioso:
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV):
- Esquema: Piperacilina-tazobactam 4,5g EV 6/6h OU Cefepima 2g EV 8/8h OU Meropenem 1-2g EV 8/8h
- Adicionar vancomicina 15-20 mg/kg EV 12/12h (ajustar conforme nível sérico) se: colonização prévia por MRSA, pneumonia grave, falência de esquema prévio, alta prevalência institucional de MRSA (Ref. 30)
- Considerar colistina ou polimixina B se suspeita de Gram-negativos multirresistentes (MDRO)
Infecção do Trato Urinário (ITU) nosocomial:
- ITU não complicada: Ceftriaxona 1-2g EV 1x/dia OU Ciprofloxacino 400mg EV 12/12h
- ITU complicada/pielonefrite: Piperacilina-tazobactam 4,5g EV 6/6h OU Cefepima 2g EV 8/8h OU Meropenem 1g EV 8/8h (se suspeita de ESBL/KPC)
Infecção de Corrente Sanguínea Relacionada a Cateter (ICSRC):
- Esquema: Vancomicina 15-20 mg/kg EV 12/12h + Cefepima 2g EV 8/8h OU Piperacilina-tazobactam 4,5g EV 6/6h
- Considerar remoção do cateter, especialmente se infecção por aureus, Candida spp., tunelite ou bacteremia persistente (Ref. 22)
Infecções Intra-abdominais (peritonite, abscessos):
- Cobertura para anaeróbios + Gram-negativos + Gram-positivos:
- Piperacilina-tazobactam 4,5g EV 6/6h OU
- Ceftriaxona 2g EV 1x/dia + Metronidazol 500mg EV 8/8h OU
- Meropenem 1g EV 8/8h (infecção grave, pós-operatório complicado, suspeita de MDRO) (Ref. 83)(Ref. 86)(Ref. 155)(Ref. 158)(Ref. 161)
Neutropenia Febril:
- Monoterapia com: Cefepima 2g EV 8/8h OU Piperacilina-tazobactam 4,5g EV 6/6h
- Adicionar vancomicina se: mucosite grave, infecção cutânea documentada, pneumonia, instabilidade hemodinâmica, colonização prévia por MRSA (Ref. 121)(Ref. 123)(Ref. 125)
- Adicionar antifúngico (caspofungina, micafungina, anidulafungina) se: febre persistente após 4-7 dias de antibiótico de amplo espectro, neutropenia profunda prolongada (Ref. 121)(Ref. 125)
Sepse/Choque Séptico sem foco definido:
- Esquema de amplo espectro: Meropenem 2g EV 8/8h + Vancomicina 15-20 mg/kg EV 12/12h
- Se instabilidade hemodinâmica grave: Considerar adicionar anidulafungina 200mg ataque, seguido de 100mg EV 1x/dia (cobertura empírica para Candida) (Ref. 125)(Ref. 154)
5.4.2 Antibióticos para Bactérias Multirresistentes
Enterobactérias Resistentes a Carbapenêmicos (ERC):
A resistência aos carbapenêmicos, mediada principalmente pela produção de carbapenemases (KPC, NDM, OXA-48), representa um desafio terapêutico crítico (Ref. 156)(Ref. 159)(Ref. 162)(Ref. 165).
Opções terapêuticas:
- Ceftazidima-avibactam: 2,5g EV 8/8h (ativo contra KPC, OXA-48; não ativo contra MBL tipo NDM)
- Meropenem-vaborbactam: 4g EV 8/8h (ativo contra KPC)
- Ceftolozano-tazobactam: Principalmente para Pseudomonas aeruginosa resistente
- Polimixina B ou Colistina: 2,5-5 mg/kg/dia (dose de ataque 300-400 mg, seguida de manutenção). Reserva terapêutica, nefrotoxicidade significativa (Ref. 165)
- Tigeciclina: 100mg ataque EV, seguido de 50mg EV 12/12h. Baixa concentração urinária e pulmonar, útil em infecções intra-abdominais (Ref. 165)
- Fosfomicina EV: 4-8g EV 8/8h (útil em ITU por MDRO)
Terapia combinada: Recomendada para infecções graves por ERC, associando 2-3 antimicrobianos com mecanismos de ação distintos (ex: polimixina + meropenem + tigeciclina) (Ref. 165)
IMPORTANTE: O antibiograma e a identificação molecular do tipo de carbapenemase (se disponível) são fundamentais para guiar a escolha terapêutica (Ref. 159)(Ref. 162)(Ref. 165).
5.4.3 Duração da Antibioticoterapia
A duração do tratamento antimicrobiano deve ser individualizada conforme:
- Foco infeccioso identificado: Seguir diretrizes específicas para cada sítio
- Resposta clínica: Resolução da febre, melhora dos parâmetros inflamatórios, estabilidade hemodinâmica
- Resultado de culturas: Ajustar duração conforme agente identificado
Exemplos:
- Bacteremia sem foco definido: 7-14 dias
- Pneumonia nosocomial: 7-8 dias (se boa resposta clínica) (Ref. 30)
- Infecções intra-abdominais: 4-7 dias após controle do foco (drenagem, cirurgia) (Ref. 86)
- Endocardite: 4-6 semanas (conforme agente e tipo de válvula) (Ref. 100)
- Neutropenia febril sem foco: Pode ser suspenso após 72h afebril, melhora clínica e capacidade de monitorização, mesmo com neutropenia persistente (Ref. 121)
5.4.4 Tratamento de Causas Não Infecciosas
Febre medicamentosa:
- Suspensão do fármaco suspeito: Geralmente resulta em resolução da febre em 48-72h (Ref. 99)(Ref. 102)(Ref. 108)
- Considerar alternativas terapêuticas se o medicamento for essencial
Tromboembolismo pulmonar:
- Anticoagulação plena (heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou anticoagulantes orais diretos)
- Trombolíticos em casos de TEP maciço com instabilidade hemodinâmica
Síndrome pós-pericardiotomia:
- AINEs (ibuprofeno 600-800mg VO 8/8h)
- Colchicina 0,5-1mg VO 1-2x/dia
- Corticosteroides (prednisona 0,25-0,5 mg/kg/dia) em casos refratários (Ref. 101)(Ref. 107)
Colite por C. difficile:
- Casos leves a moderados: Vancomicina oral 125mg VO 6/6h por 10 dias OU Fidaxomicina 200mg VO 12/12h por 10 dias (Ref. 84)(Ref. 90)
- Casos graves: Vancomicina oral 125mg VO 6/6h + Metronidazol 500mg EV 8/8h
- Casos fulminantes: Vancomicina oral dose elevada + Metronidazol EV + considerar colectomia subtotal de urgência (Ref. 84)(Ref. 90)
- Suspender antibiótico causador, se possível
Abscessos:
- Drenagem (percutânea guiada por imagem ou cirúrgica) + antibioticoterapia (Ref. 83)
5.5 Medidas de Suporte em Sepse e Choque Séptico
Pacientes com sepse/choque séptico requerem medidas de suporte intensivo além da antibioticoterapia (Ref. 154)(Ref. 160)(Ref. 163):
Ressuscitação volêmica:
- Cristaloides (Ringer lactato, solução salina 0,9%) 30 mL/kg nas primeiras 3 horas
- Alvo: PAM ≥ 65 mmHg, diurese ≥ 0,5 mL/kg/h, lactato em queda
Vasopressores (se hipotensão refratária à reposição volêmica):
- Noradrenalina: Droga de primeira linha (0,05-2 mcg/kg/min)
- Vasopressina: Adicionar como segunda droga (0,03-0,04 unidades/min)
- Adrenalina: Se necessária terceira droga (Ref. 154)(Ref. 160)(Ref. 163)
Suporte de oxigênio:
- Oxigenoterapia para manter SpO2 92-96% (evitar hiperoxemia – FiO2 > 60% por períodos prolongados causa toxicidade pulmonar) (Ref. 154)(Ref. 160)(Ref. 166)
- Intubação orotraqueal e ventilação mecânica se insuficiência respiratória aguda
Corticosteroides:
- Hidrocortisona 50mg EV 6/6h em pacientes com choque séptico refratário a vasopressores (Ref. 154)(Ref. 163)
Controle glicêmico:
- Manter glicemia < 180 mg/dL, evitando hipoglicemia (Ref. 154)
Profilaxia de TVP:
- Heparina de baixo peso molecular (enoxaparina 40mg SC 1x/dia) ou heparina não fracionada (5000 UI SC 12/12h) (Ref. 154)
Profilaxia de úlcera de estresse:
- Inibidor de bomba de prótons (omeprazol 40mg EV 1x/dia) (Ref. 154)
5.6 Monitorização e Reavaliação
Acompanhamento clínico:
- Sinais vitais a cada 4-6 horas (ou mais frequente em pacientes instáveis)
- Avaliação de resposta à antibioticoterapia (defervescência, melhora clínica)
- Reavaliação do exame físico diariamente
Monitorização laboratorial:
- Hemograma, PCR, procalcitonina (a cada 48-72h)
- Função renal (diária em pacientes em uso de nefrotóxicos)
- Culturas de controle (hemoculturas de controle se bacteremia persistente)
Reavaliação de imagem:
- Repetir exames se ausência de resposta clínica após 48-72h de tratamento adequado
- TC de abdome se suspeita de abscesso não drenado, coleção residual
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A febre no paciente hospitalizado representa um desafio clínico multifacetado que demanda conhecimento aprofundado de fisiopatologia, epidemiologia hospitalar, microbiologia e terapêutica. A abordagem sistematizada, iniciando por uma anamnese e exame físico detalhados, seguida de investigação laboratorial e radiológica direcionada, é fundamental para identificação precoce da causa e instituição de tratamento adequado.
O reconhecimento de que a febre pode ser tanto uma resposta adaptativa benéfica quanto um sinal de infecção grave exige discernimento clínico para decisões individualizadas sobre tratamento antipirético. A antibioticoterapia empírica precoce, quando indicada, é crucial para redução de morbimortalidade, especialmente em pacientes com sepse e neutropenia febril.
O crescente problema da resistência bacteriana, particularmente de bacilos Gram-negativos produtores de carbapenemases, impõe a necessidade de programas de stewardship antimicrobiano robustos, uso racional de antibióticos de amplo espectro e vigilância epidemiológica contínua.
Finalmente, a abordagem multidisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros, farmacêuticos e profissionais de controle de infecção, é essencial para otimização do cuidado ao paciente hospitalizado com febre, visando melhores desfechos clínicos e uso sustentável de recursos terapêuticos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Abordagem da Febre Aguda em Pediatria e Reflexões sobre Febre nas Arboviroses. Rio de Janeiro: SBP, 2025. Disponível em: https://www.sbp.com.br.
- SPENCER, I. M. Febre, padrões de febre e o seu impacto na patologia. Universidade de Coimbra, 2015. Disponível em: https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/37469/1/Febre%20padroes%20de%20febre%20e%20o%20seu%20impacto%20na%20patologia.pdf.
- Febre: um sinal de alerta. Sanar Med, 2024. Disponível em: https://sanarmed.com/febre-um-sinal-de-alerta/.
- VARELLA, M. Nova definição de febre em crianças: o que muda? Portal Drauzio Varella, 2025. Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/coluna-da-mariana-varella/nova-definicao-de-febre-em-criancas-o-que-muda/.
- RIBEIRO, L. S. Mecanismos inflamatórios envolvidos na indução de febre. Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstreams/448adfda-5652-4d07-a671-063ddaacaa17/download.
- Febre de origem desconhecida (FOD). MSD Manuals – Versão para Profissionais de Saúde, 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/biologia-das-doen%C3%A7as-infecciosas/febre-de-origem-desconhecida-fod.
- Por que temperatura considerada febre mudou? BBC News Brasil, 2025. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy0ydny99reo.
- MACKOWIAK, P. A. Conceitos de Febre. JAMA Internal Medicine, v. 158, n. 17, 1998. DOI: https://doi.org/10.1001/archinte.158.17.1870.
- LAMBERTUCCI, J. R. Febre de origem indeterminada em adultos. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 38, n. 6, 2005. DOI: https://doi.org/10.1590/S0037-86822005000600012.
- Mudou, você sabia? Sociedade Brasileira de Pediatria atualizou a definição de febre. Instagram @flaviopediatra, 2025. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DKb6pUdNspu/.
- OGOINA, D. Fever, febrile patterns and diseases called “fever”. Journal of Infection and Public Health, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiph.2011.05.002.
- Febre de origem indeterminada: relato de caso em hospital de Aracaju. Atena Editora. Disponível em: https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/febre-de-origem-indeterminada-relato-de-caso-em-hospital-de-aracaju.
- É sempre necessário tratar a febre? G1, 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/saude/noticia/2025/10/29/e-sempre-necessario-tratar-a-febre-o-sintoma-que-intrigou-os-medicos-durante-milenios.ghtml.
- WALTER, E. J. Base fisiopatológica e consequências da febre. Critical Care, 2016. DOI: https://doi.org/10.1186/s13054-016-1375-5.
- Febre de Origem Indeterminada. Medical Suite Einstein. Disponível em: https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/Pathways/Febre-de-Origem-Indeterminada.pdf.
- Entenda quantos graus é febre em adultos e em bebês. Novalgina, 2025. Disponível em: https://www.novalgina.com.br/dor-e-febre/febre/quantos-graus-e-febre.
- MACKOWIAK, P. A. Conceitos de Febre. JAMA Network, 1998. DOI: https://doi.org/10.1001/archinte.158.17.1870.
- Febre no Paciente de Terapia Intensiva. StatPearls [Internet]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570583/.
- Documento da SBP. Sociedade Brasileira de Pediatria. Disponível em: https://www.sbp.com.br/index.php?file=1166.
- VOLTARELLI, J. C. Febre e inflamação. Medicina (Ribeirão Preto), v. 27, n. 1/2, 1994. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-163657.
- Contaminação em hospital pode ter começado em sistema de água ou ar-condicionado. G1 Espírito Santo, 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2025/10/24/contaminacao-em-hospital-no-es-pode-ter-comecado-em-sistema-de-agua-ou-ar-condicionado-diz-secretario.ghtml.
- Infecções Associadas a Cateter Intravascular. Tá de Clínica Gem, 2024. Disponível em: https://www.tadeclinicagem.com.br/guia/350/infeccoes-associadas-a-cateter-intravascular/.
- Febre no pós-operatório: saiba identificar as causas. Inspirali, 2024. Disponível em: https://www.inspirali.com/educacao/febre-no-pos-operatorio/.
- Quais os sintomas de contaminação misteriosa de hospital no ES. G1 Espírito Santo, 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2025/10/28/dor-de-cabeca-no-corpo-febre-muito-alta-tosse-e-dificuldade-para-respirar-quais-os-sintomas-da-contaminacao-misteriosa-em-hospital-do-es.ghtml.
- Resumo sobre flebite: o que é, manifestações clínicas. Sanar Med, 2024. Disponível em: https://sanarmed.com/resumo-sobre-flebite-completo-sanarflix/.
- Febre no Pós-Operatório. Tá de Clínica Gem, 2023. Disponível em: https://www.tadeclinicagem.com.br/guia/184/febre-no-pos-operatorio/.
- HDT orienta sobre a Pneumonia Silenciosa. Governo de Goiás, 2024. Disponível em: https://goias.gov.br/saude/hdt-orienta-sobre-a-pneumonia-silenciosa/.
- Infecções da corrente sanguínea relacionadas ao cateter central (CLABSI). Together by St. Jude, 2024. Disponível em: https://together.stjude.org/pt-br/medical-care/immunity-illness-infection/central-line-associated-bloodstream-infections-clabsi.html.
- SARDINHA, R. T. A. M. Abordagem da febre no paciente cirúrgico. Brazilian Journal of Development, v. 9, n. 4, 2023. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv9n4-079.
- Nova Diretriz Americana de 2025 sobre Tratamento de Pneumonia. Tá de Clínica Gem, 2025. Disponível em: https://www.tadeclinicagem.com.br/guia/474/nova-diretriz-americana-de-2025-sobre-tratamento-de-pneumonia/.
- Qual o tratamento da tromboflebite superficial? APS Repositório BVS, 2018. Disponível em: https://aps-repo.bvs.br/aps/qual-o-tratamento-da-tromboflebite-superficial/.
- GELAPE, C. L. Infecção do sítio operatório em cirurgia cardíaca. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 89, n. 1, 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0066-782X2007001300009.
- O que os médicos gostariam que os pacientes soubessem sobre pneumonia. AMA, 2025. Disponível em: https://www.ama-assn.org/delivering-care/population-care/what-doctors-wish-patients-knew-about-pneumonia.
- Manejo da tromboflebite venosa superficial associada a cateteres venosos periféricos. GJSCR, 2025. Disponível em: https://www.gjscr.com/article/118529.
- Febre pós-operatória. StatPearls [Internet], 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482299/.
- Entenda o que é pneumonia silenciosa. CNN Brasil, 2025. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-o-que-e-pneumonia-silenciosa-que-tem-alertado-autoridades-de-saude/.
- Tromboflebite Séptica. StatPearls [Internet], 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430731/.
- Infecção Após Cirurgia – Tudo Sobre Infecção Cirúrgica. YouTube, 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SOVRo94PfIM.
- Onda de pneumonia bacteriana já era prevista depois da pandemia. Jornal da USP, 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/onda-de-pneumonia-bacteriana-ja-era-prevista-depois-da-pandemia-de-covid-segundo-oms/.
- Flebite e tromboflebite: o que é, sintomas, tratamentos. Rede D’Or São Luiz, 2024. Disponível em: https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/flebite-e-tromboflebite.
- Novo guideline para avaliação de febre em pacientes no CTI. Portal Afya Infectologia, 2023. Disponível em: https://portal.afya.com.br/infectologia/novo-guideline-para-avaliacao-de-febre-em-pacientes-no-cti.
- Hemocultura: o que é, quando é indicada e como é feita. Tua Saúde, 2025. Disponível em: https://www.tuasaude.com/hemocultura/.
- 4 principais remédios para baixar a febre. Tua Saúde, 2025. Disponível em: https://www.tuasaude.com/remedio-para-febre/.
- Protocolo sobre Febre sem Sinais de Localização. Prefeitura de São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/HIMJ_protocolo_febre_1254773653.pdf.
- O Que é Hemocultura e Como é Feita a Coleta. YouTube, 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PkkDPOUmuwo.
- Dipirona Sódica + Paracetamol: bula, para que serve. Consulta Remédios, 2021. Disponível em: https://consultaremedios.com.br/dipirona-sodica-paracetamol/bula.
- Nova Diretriz de Febre na UTI. Tá de Clínica Gem, 2023. Disponível em: https://www.tadeclinicagem.com.br/guia/212/nova-diretriz-de-febre-na-uti/.
- Manual de Orientações e Critérios Diagnósticos. Secretaria de Saúde de São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/infeccao-hospitalar/outros/ih13_manualsve_hospgeral_crit_diag.pdf.
- WANNMACHER, L. Febre: mitos que determinam condutas. Ministério da Saúde, Brasil, 2024. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/HSE_URM_FEB_0804.pdf.
- Hemoculturas: Importância do Diagnóstico Laboratorial. Lab Class Pardini, 2023. Disponível em: https://www.labclasspardini.com.br/hemoculturas-importancia-do-diagnostico-laboratorial/.
- Pode tomar dipirona e paracetamol juntos? Neosaldina, 2025. Disponível em: https://www.neosaldina.com.br/blog/prevencao-da-dor-de-cabeca/pode-tomar-dipirona-e-paracetamol-juntos-veja-se-e-seguro.
- Protocolo Manejo da Febre em Adultos. INTS, 2025. Disponível em: https://ints.org.br/wp-content/uploads/2025/02/PR.AST_.009-00-Manejo-da-Febre-em-Adultos-1.pdf.
- Bacteremia oculta e febre sem origem aparente em lactentes e crianças pequenas. MSD Manuals, 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/pediatria/miscelânea-de-infecções-bacterianas-em-lactentes-e-crianças/bacteremia-oculta-e-febre-sem-origem-aparente-em-lactentes-e-crianças-pequenas.
- Descubra em quanto tempo o antitérmico faz efeito. Novalgina, 2025. Disponível em: https://www.novalgina.com.br/dor-e-febre/febre/febre-alta-em-quanto-tempo-um-antitermico-comeca-a-baixar-a-temperatura.
- Guia de prática clínica: sinais e sintomas não específicos. Conselho Federal de Farmácia, 2025. Disponível em: https://www.cff.org.br/userfiles/GuiaFebre.pdf.
- Manual de Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde. Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_microbiologia_completo.pdf.
- WANNMACHER, L. Paracetamol versus Dipirona: como mensurar o risco? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2025. Disponível em: https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340026793novo_paracetamol.pdf.
- Principais Questões sobre Abordagem da Febre na Emergência Pediátrica. Portal de Boas Práticas IFF/Fiocruz, 2025. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/principais-questoes-sobre-abordagem-da-febre-na-emergencia-pediatrica/.
- Infecção urinária. Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2023. Disponível em: https://sbn.org.br/publico/doencas-comuns/infeccao-urinaria/.
- Ibuprofeno. Drogaria São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.drogariasaopaulo.com.br/ibuprofeno.
- Febre. Lecturio, 2025. Disponível em: https://www.lecturio.com/pt/concepts/febre/.
- Ibuprofeno: bula, para que serve e quais as indicações de uso. Saúde Abril, 2020. Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/ibuprofeno/.
- Assim como a febre, hipotermia é defesa natural do organismo durante infecção. Instituto de Ciências Biomédicas USP, 2025. Disponível em: https://ww3.icb.usp.br/assim-como-a-febre-hipotermia-e-defesa-natural-do-organismo-durante-infeccao/.
- Ciclooxigenase (COX): Estrutura, Funções. Dafratec, 2025. Disponível em: https://dafratec.com/glossario/ciclooxigenase-cox.
- Quando tomar nimesulida ou ibuprofeno? Einstein Vida Saudável, 2025. Disponível em: https://vidasaudavel.einstein.br/quando-tomar-nimesulida-ou-ibuprofeno-entenda-as-diferencas-e-indicacoes/.
- Febre: Amiga ou Inimiga? Alergia e Imunologia, 2024. Disponível em: https://www.alergiaeimunologia.com.br/febre-amiga-ou-inimiga/.
- O que é: Prostaglandinas – Entenda sua Importância. Laboratório Goes, 2024. Disponível em: https://laboratoriogoes.com.br/glossario/o-que-e-prostaglandinas-entenda-sua-importancia/.
- Ibuprofeno é anti-inflamatório? Para que serve? Como tomar? Buscofem, 2024. Disponível em: https://www.buscofem.com.br/blog/tratamentos/ibuprofeno-e-anti-inflamatorio-saiba-para-que-serve-e-como-tomar.
- Febre e regulação térmica da imunidade. PLOS Pathogens, 2015. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004705.
- MENDES, R. T. Inibição seletiva da ciclo-oxigenase-2: riscos e benefícios. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 52, n. 5, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0482-50042012000500010.
- AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais): usos. Cleveland Clinic, 2025. Disponível em: https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/11086-non-steroidal-anti-inflammatory-medicines-nsaids.
- Tudo sobre a febre – um guia de Novalgina. Novalgina, 2025. Disponível em: https://www.novalgina.com.br/dor-e-febre/febre/tudo-sobre-febre.
- A prostaglandina E2 que desencadeia a febre. PNAS, 2015. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1515894113.
- Ibuprofeno 100mg/ml Suspensão Oral Gotas 20ml. Pague Menos, 2021. Disponível em: https://www.paguemenos.com.br/ibuprofeno-100mg-gotas-20ml-generico-cimed/p.
- Mitos e verdades sobre a febre. Portal Drauzio Varella, 2022. Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/pediatria/mitos-e-verdades-sobre-a-febre/.
- Resumo sobre a febre e uma visão geral. Sanar Med, 2024. Disponível em: https://sanarmed.com/resumo-sobre-a-febre-e-uma-visao-geral-colunistas/.
- Ibuprofeno. Healthdirect Australia, 2025. Disponível em: https://www.healthdirect.gov.au/ibuprofen.
- Se a febre defende nosso corpo, é seguro tomar remédio para febre? Médico 24HS, 2025. Disponível em: https://medico24hs.com.br/blog/saude/se-a-febre-defende-nosso-corpo-e-seguro-tomar-remedio-para-febre.
- Brazilian Journal of Biology, v. 84, 2024. SciELO. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bjb/i/2024.v84/.
- Causas de Febre no Pós-Operatório. Instagram @estrategiamed, 2025. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DJ7g7g2KEpm/.
- Colite pseudomembranosa: o que é, sintomas, causas. Tua Saúde, 2025. Disponível em: https://www.tuasaude.com/colite-pseudomembranosa/.
- Febre pós-operatória. Wikipédia, 2025. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Postoperative_fever.
- Abscessos intra-abdominais. MSD Manual Profissional, 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/distúrbios-gastrointestinais/abdome-agudo-e-gastroenterologia-cirúrgica/abscessos-intra-abdominais.
- Resumo de colite pseudomembranosa. Sanar Med, 2024. Disponível em: https://sanarmed.com/resumo-de-colite-pseudomembranosa-epidemiologia-fisiopatologia-diagnostico-e-tratamento/.
- Complicações pós-cirúrgicas. EM Docs, 2025. Disponível em: https://www.emdocs.net/post-surgical-complications/.
- COELHO, J. C. U. Seleção e uso de antibióticos em infecções intra-abdominais. Arquivos de Gastroenterologia, v. 44, n. 3, 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0004-28032007000300015.
- Colite pseudomembranosa. Portal Drauzio Varella, 2020. Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/colite-pseudomembranosa/.
- STIER, A. Causas da febre pós-operatória: usando os 5 M. Disponível em: https://www.andreasastier.com/blog/causes-of-post-operative-fever-using-the-5-w-and-its-management.
- Manejo de abscessos intra-abdominais. NCBI Bookshelf, 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6937/.
- *Doença associada ao Clostridioides difficile. BMJ Best Practice, 2025. Disponível em: https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/230.
- Pós-operatório e complicações cirúrgicas. SlideShare, 2014. Disponível em: https://pt.slideshare.net/slideshow/ps-operatrio-e-complicaes-cirrgicas/33976433.
- Suspeita de abscesso abdominal. Colégio Brasileiro de Radiologia, 2017. Disponível em: https://cbr.org.br/wp-content/uploads/2017/06/03_15.pdf.
- Colite pseudomembranosa: o que é, sintomas. Rede D’Or São Luiz, 2021. Disponível em: https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/colite-pseudomembranosa.
- Pérolas Educacionais da UMEM. UMEM, 2025. Disponível em: https://umem.org/educational_pearls/2313/.
- Abscesso Intra-Abdominal. Johns Hopkins Medicine, 2025. Disponível em: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/intraabdominal-abscess.
- *Colite induzida por Clostridioides difficile. MSD Manual Paciente, 2023. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/casa/infecções/infecções-bacterianas-bactérias-anaeróbias/colite-induzida-por-clostridioides-anteriormente-clostridium-difficile.
- Manual de procedimentos e condutas na prática médica. Universidade de Passo Fundo, 2025. Disponível em: https://www.upf.br/_uploads/Conteudo/Manual_de_procedimentos_e_condutas_na_pratica_medica.pdf.
- Apresentação clínica do abscesso abdominal. Medscape, 2025. Disponível em: https://emedicine.medscape.com/article/1979032-clinical.
- HU, Y. et al. Drug fever induced by β-lactams after cardiovascular surgery. Frontiers in Pharmacology, v. 9874219, 2023. DOI: https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1092538.
- Endocardite infecciosa. MSD Manual Profissional, 2025. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doenças-cardiovasculares/endocardite/endocardite-infecciosa.
- CARVALHO, E. A. Síndrome de Dressler secundária a pericardiotomia. Revista Médica de Minas Gerais, v. 29, 2019. DOI: https://doi.org/10.5935/2238-3182.20190079.
- The truth about drug fever. University of Florida Drug Information Service, 2025. Disponível em: https://ufhealth.org/assets/media/Professionals-Bulletins/0611-drugs-therapy-bulletin.pdf.
- Relato de caso: endocardite infecciosa de válvula tricúspide. BJID, 2020. Disponível em: https://www.bjid.org.br/en-relato-de-caso-endocardite-infecciosa-articulo-S1413867020306127.
- Pericardite. MSD Manual Profissional, 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doenças-cardiovasculares/miocardite-e-pericardite/pericardite.
- Beta-lactam allergy: real practice in a regional hospital. WPRIM, 2025. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/wpr-894552.
- Achados clínicos da endocardite infecciosa. Medway, 2023. Disponível em: https://www.medway.com.br/conteudos/achados-clinicos-da-endocardite-infecciosa/.
- Síndrome de Dressler: tudo que você precisa saber. Medway, 2022. Disponível em: https://www.medway.com.br/conteudos/sindrome-de-dressler-tudo-que-voce-precisa-saber/.
- Febre induzida por fármacos. Revista Portuguesa de Imunoalergologia, v. 32, n. 3, 2024. DOI: https://doi.org/10.32932/rpia.2024.12.150.
- Endocardite infecciosa. SOCESP, 2025. Disponível em: https://socesp.org.br/revista/assets/upload/revista/15062053281657117120pdfpt14_revistasocesp_v32_02.pdf.
- Síndrome de Dressler. StatPearls [Internet], 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441988/.
- Febre medicamentosa: uma revisão narrativa. BMC Pharmacology and Toxicology, 2024. DOI: https://doi.org/10.1186/s40360-024-00729-y.
- *Embolia pulmonar séptica e endocardite por Staphylococcus aureus. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 52, n. 6, 1989. Disponível em: http://cardiol.br/portal-publicacoes/Pdfs/ABC/1989/V52N6/52060009.pdf.
- Síndrome de Dressler – sintomas e causas. Mayo Clinic, 2025. Disponível em: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dresslers-syndrome/symptoms-causes/syc-20371811.
- LV, J. et al. Um caso incomum de febre induzida por piperacilina-tazobactam. European Journal of Hospital Pharmacy, v. 29, n. e1, 2022. DOI: https://doi.org/10.1136/ejhpharm-2020-002495.
- Endocardite da valva tricúspide. StatPearls [Internet], 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538423/.
- Síndrome pós-pericardiotomia. Medscape, 2025. Disponível em: https://emedicine.medscape.com/article/891471-overview.
- Terapia empírica para febre neutropênica: regimes de tratamento. Medscape, 2025. Disponível em: https://emedicine.medscape.com/article/2012185-overview.
- NUCIFORA, G. et al. Embolia pulmonar e febre: quando a endocardite tricúspide deve ser considerada. Circulation, v. 116, 2007. DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.674358.
- SALGADO, P. O. et al. Métodos físicos para tratamento de febre em pacientes críticos. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 50, n. 5, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/S0080-623420160000600005.
- STEINER, A. Em estágios iniciais da COVID-19, febre pode ser grande aliada contra a doença. Instituto de Ciências Biomédicas USP, 2025. Disponível em: https://ww3.icb.usp.br/em-estagios-iniciais-da-covid-19-febre-pode-ser-grande-aliada-contra-a-doenca-afirma-pesquisador/.
- Febre neutropênica. MSD Manual Profissional, 2025. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/hematologia-e-oncologia/complicações-do-tratamento-do-câncer/febre-neutropênica.
- Neutropenia febril: o que é, sintomas, causas e tratamento. Oncoguia, 2024. Disponível em: https://www.oncoguia.org.br/conteudo/neutropenia-febril-o-que-e-sintomas-causas-e-tratamento/17554/7/.
- Neutropenia febril: diagnóstico e tratamento. Hospital Israelita Albert Einstein – Medicina Diagnóstica, 2024. Disponível em: https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/pathways/neutropenia-febril-diagnostico-tratamento.pdf.
- Protocolo de manejo clínico da febre neutropênica. Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_febre_neutropenica.pdf.
- Febre e infecção em pacientes neutropênicos. NCBI Bookshelf, 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560755/.
- PEREIRA, J. A. Febre neutropênica: diagnóstico e conduta. Revista Médica de Minas Gerais, v. 30, n. 2, 2020. DOI: https://doi.org/10.5935/2238-3182.20200041.
- Neutropenia febril em pacientes oncológicos: orientações clínicas. INCA, 2024. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/guia-neutropenia-febril.pdf.
- Abordagem terapêutica da febre neutropênica. Brazilian Journal of Infectious Diseases, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjid.2019.07.004.
- Guia de boas práticas no uso de antimicrobianos. ANVISA, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/boas-praticas/guia-de-boas-praticas-no-uso-de-antimicrobianos.pdf.
- Antimicrobial Stewardship Programs. WHO, 2024. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240002604.
- Sepsis: guidelines and management. Critical Care Medicine, 2024. DOI: https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005835.
- MORAES, E. N. Manejo da sepse: aspectos clínicos e microbiológicos. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 36, 2024. DOI: https://doi.org/10.5935/0103-507X.20240041.
- Pacientes febris e infecção sistêmica. UpToDate, 2025. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-fever-in-hospitalized-adults.
- Guia Rápido de Manejo da Sepse. Hospital Sírio-Libanês, 2024. Disponível em: https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/Documents/guia-rapido-sepse-2024.pdf.
- Sepse: o que é, sintomas e diagnóstico. Tua Saúde, 2025. Disponível em: https://www.tuasaude.com/sepse/.
- Manejo inicial da sepse no pronto-socorro. Medway, 2023. Disponível em: https://www.medway.com.br/conteudos/manejo-inicial-da-sepse-no-pronto-socorro/.
- SILVA, R. C. et al. Estratégias de intervenção no controle da resistência bacteriana. Revista Panamericana de Saúde Pública, 2023. DOI: https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.51.
- Resistência antimicrobiana no Brasil. Fiocruz, 2025. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/resistencia-antimicrobiana-no-brasil.
- Bactérias multirresistentes: o que são e por que preocupam. G1, 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2025/08/12/bacterias-multirresistentes-o-que-sao-e-por-que-preocupam.ghtml.
- Boletim Epidemiológico de Resistência Microbiana. ANVISA, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/controledeinfeccoes/arquivos/boletim_resistencia_2025.pdf.
- Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/iras-infeccoes-relacionadas-a-assistencia-a-saude/.
- Controle de infecção hospitalar e resistência microbiana. Hospital das Clínicas FMUSP, 2024. Disponível em: https://www.hc.fm.usp.br/noticias/controle-de-infeccao-hospitalar-e-resistencia-microbiana.
- Mecanismos de resistência bacteriana. Nature Reviews Microbiology, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41579-024-00877-2.
- KASPER, D. L. et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21. ed. New York: McGraw-Hill, 2023. Disponível em: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=3095.
- KUMAR, A. et al. Timing of antibiotic therapy in sepsis. Critical Care Medicine, v. 34, n. 6, 2006. DOI: https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000217961.75225.E7.
- Guia de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_prevencao_controle_infeccoes_iras.pdf.
- Cultura de segurança do paciente. Fiocruz, 2025. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/cultura-de-seguranca-do-paciente.
- GRAZIANO, K. U. Limpeza e desinfecção em serviços de saúde: princípios e práticas. São Paulo: Atheneu, 2024.
- QUEIROZ DE SOUZA, R. Esterilização em baixa temperatura com formaldeído e óxido de etileno. CCIH Cursos, 2024.
- BARIJAN, A. T. Avançando na prática clínica no método VH₂O₂. CCIH Cursos, 2024.
- BRUNA, C. Q. M. Gestão do processamento de PPS suspeito de contaminação por príons. CCIH Cursos, 2024.
- HAJAR, K. S. Risco de infecção pelo uso de PPS semicríticos. CCIH Cursos, 2024.
- MATTEI, D. F. M. Gestão e cuidados com materiais de alto custo sob controle do CME. CCIH Cursos, 2024.
- UCHIKAWA GRAZIANO, K. Desinfecção térmica e química. CCIH Cursos, 2024.
- UCHIKAWA GRAZIANO, K. Desafios atuais na limpeza de produtos para saúde. CCIH Cursos, 2024.
- UCHIKAWA GRAZIANO, K. Polêmicas na esterilização de PPS termorresistentes. CCIH Cursos, 2024.
- Controle de infecção hospitalar: guia atualizado 2025. Hospital Israelita Albert Einstein, 2025. Disponível em: https://www.einstein.br/guia-controle-infeccao-2025.pdf.
- Segurança do paciente e qualidade assistencial. ANVISA, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/seguranca-do-paciente.
- Controle de antimicrobianos e stewardship hospitalar. Revista Panamericana de Infectologia, 2024. DOI: https://doi.org/10.26633/RPI.2024.39.
- Resistência bacteriana: um desafio global. OMS, 2025. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance.
- Emergência da resistência microbiana. Nature Microbiology, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41564-024-01597-9.
- Manual de Biossegurança Hospitalar. Fiocruz, 2024. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/manual-de-biosseguranca-hospitalar.
- Infecções associadas à assistência em saúde no Brasil: relatório anual 2024. ANVISA, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/controledeinfeccoes/arquivos/relatorio-iras-2024.pdf.
- FERNANDES, A. T. Prevenção e controle de infecções hospitalares: o desafio da eficácia. São Paulo: Atheneu, 2025.
- Microbiota e resistência antibiótica: impacto hospitalar. Lancet Microbe, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(25)00210-4.
- Resistência bacteriana e o uso racional de antibióticos. CCIH Cursos, 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/resistencia-bacteriana-uso-racional-antibioticos/.
- Boas práticas no CME e controle de infecção. CCIH Cursos, 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/boas-praticas-cme-controle-infeccao/.
- MBA em Controle de Infecção e CME – Programa Interação. CCIH+, 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/mba-controle-infeccao-cme/.
- TV CCIH+: mais de 1.000 lives sobre prevenção de infecção e gestão hospitalar. YouTube, 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/@ccihcursos.
- Programa de Stewardship de Antimicrobianos. Hospital Sírio-Libanês, 2025. Disponível em: https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/institucional/projetos/Pages/stewardship.aspx.
- Indicadores de desempenho hospitalar: segurança e infecção. CCIH Cursos, 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/indicadores-de-desempenho-hospitalar/.
- Manual de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH+. São Paulo: Instituto CCIH+, 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/manual-de-controle-de-infeccao-hospitalar/.
- Guia prático de controle de infecção e biossegurança. CCIH Cursos, 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/guia-pratico-biosseguranca-controle-infeccao/.
Dicas práticas para abordar o paciente hospitalizado febril
I. Introdução: A Febre como Sinal Vital e Desafio Nosocomial
A febre no paciente hospitalizado é um dos sinais clínicos mais frequentes, complexos e, paradoxalmente, um dos mais rotineiramente mal interpretados na prática clínica moderna. Este fenômeno fisiológico, caracterizado pela elevação controlada da temperatura corporal (Ref. 1, 2), constitui um desafio diagnóstico e terapêutico diário para as equipes de controle de infecção (CCIH), médicos intensivistas e enfermeiros. Longe de ser um simples inconveniente, a febre é um diálogo biogeoquímico entre o hospedeiro e um estímulo, seja ele um patógeno ou uma intervenção médica.
No contexto nosocomial, a febre assume particularidades que a distinguem da febre de origem comunitária. A epidemiologia é dominada por microrganismos multirresistentes, pela presença onipresente de dispositivos médicos invasivos (cateteres, tubos, próteses), por traumas teciduais cirúrgicos e por um arsenal farmacêutico onde múltiplos medicamentos são, por si só, pirogênicos (Ref. 3, 4). Esta complexidade amplia exponencialmente o diagnóstico diferencial.
Este artigo oferece uma análise crítica e moderna da febre nosocomial, com o propósito de desconstruir a abordagem reflexiva e por vezes fóbica da febre — a “febrefobia” (Ref. 5) — e equipar o clínico com o conhecimento fisiopatológico e epidemiológico necessário para diferenciar suas vastas causas infecciosas e não infecciosas. O objetivo é otimizar o stewardship de antimicrobianos, reduzir investigações desnecessárias e, em última análise, melhorar os desfechos dos pacientes.
II. A Perspectiva Moderna da Febre: O Que Sabíamos e o Que Aprendemos
Desconstruindo o Legado de Wunderlich
A prática médica moderna ainda é assombrada por um dogma estabelecido em 1868 por Carl Reinhold August Wunderlich: a definição da temperatura corporal “normal” como 37,0°C (ou 98,6°F) (Ref. 1, 6). Este valor, derivado de milhões de medições axilares em uma população do século XIX, persiste como um limiar inflexível em muitos protocolos e monitores de sinais vitais.
Contudo, este dogma foi conclusivamente refutado. O trabalho fundamental de Mackowiak e colegas em 1992, analisando voluntários saudáveis com termômetros orais modernos, estabeleceu que a temperatura corporal normal é uma faixa com um nítido ritmo circadiano (Ref. 1, 6). A média oral encontrada foi de 36,8oC +/- 0,4oC ou 98,2°F), com um vale às 6h da manhã e um pico às 16h. O limite superior da normalidade (percentil 99) foi de 37,7oC (99,9°F) (Ref. 1).
A persistência do “dogma de Wunderlich” (Ref. 6) na prática clínica tem implicações diretas para a CCIH: leva à supernotificação de “febre baixa”, desencadeando investigações diagnósticas e, frequentemente, o início de antibioticoterapia empírica para elevações de temperatura que são, na verdade, variações fisiológicas.
Definições Operacionais da Febre Hospitalar
Para uma abordagem baseada em evidências, definições operacionais precisas são cruciais, variando conforme a população de pacientes (Ref. 2, 3):
- Febre (Adultos): Com base nos dados modernos, febre é definida como uma temperatura oral matinal igual ou maior que 37,2oC (99,0°F) ou uma temperatura igual ou maior a 37,8oC (100°F) a qualquer hora do dia (Ref. 1).
- Febre Pediátrica (Brasil): A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em diretriz de 2025, padronizou a definição de febre em crianças como temperatura axilar igual ou maior que 37,5oC visando reduzir a “febrefobia” e o uso desnecessário de antitérmicos (Ref. 5, 7).
- Febre em Idosos: Esta população frequentemente apresenta temperaturas basais mais baixas e uma resposta febril atenuada, mesmo em vigência de infecção grave. Neles, deve-se considerar febre uma elevação igual ou maior que 1,1oC acima da temperatura basal do paciente, ou uma temperatura axilar persistente maior que 37,2oC (Ref. 3, 8).
- Febre Neutropênica: Seguindo as diretrizes da Infectious Diseases Society of America (IDSA), define-se como uma temperatura oral única igual ou maior que 38,3oC (101°F) ou uma temperatura igual ou maior que 38,0oC (100,4°F) sustentada por mais de 1 hora, em um paciente com contagem de neutrófilos <500$ células/mm³ (Ref. 3, 9).
- Febre Nosocomial de Origem Indeterminada (FNOI): Esta é uma definição formal e rigorosa: Temperatura igual ou maior que 38,3oC registrada em múltiplas ocasiões em um paciente hospitalizado (que não apresentava infecção ou incubação na admissão), cujo diagnóstico permanece incerto após 3 dias de investigação, incluindo pelo menos 2 dias de incubação de culturas (Ref. 6).
O Valor Biológico da Febre
A febre não é um epifenômeno da doença; é um componente central, altamente conservado e adaptativo da resposta de fase aguda (Ref. 1, 10). Tratá-la como um inimigo a ser suprimido ignora sua função fisiológica:
- Potencialização Imune: Temperaturas febris aumentam a motilidade e a atividade bactericida de neutrófilos, otimizam a proliferação de linfócitos T e B, e aumentam a produção de citocinas e anticorpos (Ref. 1, 10, 11).
- Inibição Patogênica: A replicação de muitos vírus e bactérias é termossensível e inibida em temperaturas acima da faixa fisiológica (Ref. 10, 11).
- Evidência Clínica na Sepse: Estudos em pacientes com sepse sugerem que a febre está associada a melhores desfechos. Em contrapartida, a hiportermia — que, assim como a febre, é uma resposta ativamente regulada em inflamação grave — está consistentemente associada a uma mortalidade significativamente maior (Ref. 1).
A “febrefobia” (Ref. 5) e a supressão agressiva da febre podem, paradoxalmente, estar atenuando a própria resposta imune inata que tentamos auxiliar com os antimicrobianos.
III. Fisiopatologia Aplicada: Decodificando a Resposta Febril na Prática Clínica
A compreensão da via molecular da febre é essencial para entender por que causas tão díspares — uma bactéria e um hematoma cirúrgico — podem produzir o mesmo sinal clínico.
A Cascata Pirogênica
A febre é iniciada pelo reconhecimento de padrões moleculares pelo sistema imune inato. Existem duas classes principais de gatilhos (Ref. 1, 2, 10):
- PAMPs (Padrões Moleculares Associados a Patógenos): Moléculas exógenas, como o lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias Gram-negativas, peptidoglicanos de Gram-positivos ou RNA viral.
- DAMPs (Padrões Moleculares Associados a Danos): Moléculas endógenas liberadas por células estressadas ou necróticas, como em trauma, cirurgia, isquemia, infarto ou grandes hematomas (Ref. 1, 4).
Independentemente do gatilho (PAMP ou DAMP), eles se ligam a Receptores de Reconhecimento de Padrões (PRRs) em células imunes (como macrófagos), desencadeando a liberação de pirogênios endógenos (citocinas), notavelmente a Interleucina-1 (IL-1), Interleucina-6 (IL-6) e o Fator de Necrose Tumoral-alfa (TNF-alpha) (Ref. 1, 2, 10).
O Eixo Central Hipotalâmico
O passo crucial e unificador da via febril ocorre no sistema nervoso central. As citocinas circulantes (especialmente IL-1) induzem a expressão da enzima Ciclooxigenase-2 (COX-2) nas células endoteliais que revestem os capilares cerebrais (Ref. 1, 12).
A COX-2, por sua vez, sintetiza a Prostaglandina E2 (PGE2). A PGE2 é a molécula-chave final; ela cruza a barreira hematoencefálica (BHE) ou atua em áreas onde a BHE é ausente (como os órgãos vasculares da lâmina terminal, OVLT) (Ref. 1, 2). A PGE2 liga-se a receptores (EP3) em neurônios termossensíveis na área pré-óptica do hipotálamo anterior, efetivamente “elevando o ponto de ajuste” (set point) térmico do corpo (Ref. 1, 12).
O corpo, percebendo sua temperatura atual como “baixa” em relação ao novo set point elevado, ativa mecanismos de produção de calor (tremores, calafrios, termogênese) e conservação de calor (vasoconstrição periférica), resultando na febre (Ref. 2).
Implicações Clínicas da Fisiopatologia
Esta via unificada (PAMP/DAMP – Citocinas – COX-2 – Febre) tem duas implicações clínicas profundas para a CCIH:
- A Febre Não Infecciosa é Fisiologicamente Idêntica: Um trauma cirúrgico extenso (DAMP) ou um grande hematoma retroperitoneal (DAMP) inicia a mesma cascata inflamatória (IL-1, IL-6) que uma bacteremia por E. coli (PAMP). O resultado é clinicamente indistinguível: febre. Isso explica fisiologicamente por que uma alta porcentagem de febres nosocomiais não é infecciosa.
- A Ausência de Febre Não Exclui Infecção: Em pacientes idosos ou imunossuprimidos, a capacidade de montar uma resposta robusta de citocinas está frequentemente atenuada (Ref. 3, 8). Sem os pirogênios endógenos, a cascata da PGE2 não é ativada e a febre não ocorre, apesar de uma infecção grave estar presente. A diretriz da IDSA para Influenza (Ref. 13) formaliza este conceito, recomendando que pacientes hospitalizados com sintomas respiratórios sejam testados, independentemente da presença de febre.
IV. Etiologias da Febre Nosocomial: O Principal Achado Epidemiológico
O desafio central para o profissional de controle de infecção é o fato de que, no ambiente hospitalar, febre não é sinônimo de infecção. A falha em reconhecer isso leva ao uso excessivo de antibióticos, pressão seletiva, aumento de custos e falhas diagnósticas em condições graves não infecciosas.
O principal achado epidemiológico de estudos prospectivos recentes sobre Febre Nosocomial (FN) é a surpreendente prevalência de causas não infecciosas. Em um estudo de coorte prospectivo de 2021 (Ref. 4) que analisou 86 casos de FN em enfermarias gerais, a etiologia foi rigorosamente determinada como:
- Infecciosa: 66,3% (57 casos)
- Não Infecciosa: 32,5% (28 casos)
- Indeterminada: 1,2% (1 caso)
Este dado é o pilar deste artigo: para cada três pacientes febris investigados pela CCIH, um terá uma causa não infecciosa.
A. As Causas Infecciosas (IRAS) (66,3% dos casos)
As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) permanecem como a causa mais comum de febre hospitalar, mas seu diagnóstico diferencial é específico (Ref. 3, 4).
- Pneumonia Hospitalar (PAV/PH): É a causa infecciosa mais comum de FN, respondendo por 47,4% de todos os casos infecciosos no estudo (Ref. 4). O diagnóstico (Ref. 14) requer o “mnemônico do vento” (Wind), mas deve ser diferenciado de pneumonite química aspirativa (Ref. 15) e atelectasia, esta última sendo uma causa questionável de febre significativa (Ref. 3). A prevenção, conforme as diretrizes da SHEA 2022 (Ref. 16), é uma meta primária da CCIH.
- Infecção do Trato Urinário (ITU-AC): A segunda causa infecciosa mais comum (22,8% das infecções) (Ref. 4). Associada ao “mnemônico da água” (Water), quase sempre ligada ao uso de cateter vesical de demora (Ref. 3).
- Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCSL): Frequentemente relacionada a cateteres venosos centrais (CVC), ou “Wound/Site” (Ref. 3). Pode se manifestar como tromboflebite séptica e é uma das causas mais graves de FN.
- Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) e Abscessos: O “mnemônico da ferida” (Wound). A febre que surge após o 5º dia de pós-operatório é altamente suspeita de ISC ou de abscesso intra-abdominal, que requer investigação por imagem (Ref. 3).
- Infecção por Clostridioides difficile: Uma causa clássica de febre e diarreia nosocomial, diretamente ligada ao stewardship de antimicrobianos (Ref. 3).
Wind (Vento – Pulmão; 0-48 horas): Tradicionalmente atribuída à atelectasia. No entanto, evidências robustas questionam essa relação causal (REF. 10). A febre pós-operatória imediata é mais provavelmente uma resposta inflamatória sistêmica (SIRS) benigna e autolimitada ao trauma cirúrgico (REF. 6; REF. 10). A Pneumonia (incluindo PAV) torna-se uma suspeita infecciosa relevante após as primeiras 48 horas.
Water (Água – Urina; 3º ao 5º dia): Corresponde à Infecção do Trato Urinário associada a cateter (ITU-AC), especialmente em pacientes com sonda vesical de demora.
Wound (Ferida – Sítio Cirúrgico; 5º ao 7º dia): Refere-se à Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC). Febre que surge ou persiste após o 5º dia pós-operatório deve sempre levantar suspeita de ISC ou abscesso de cavidade.
Walk (Caminhar – Trombose; > 5º dia): Relaciona-se à Trombose Venosa Profunda (TVP) e Tromboembolismo Pulmonar (TEP) em pacientes imobilizados, que podem cursar com febre (geralmente baixa).
Wonder Drugs (Drogas “Maravilhosas”): Refere-se à febre medicamentosa, que pode ocorrer a qualquer momento
B. Os Grandes Confundidores – Causas Não Infecciosas (32,5% dos casos)
Esta categoria é frequentemente negligenciada. A falha em diagnosticá-la resulta em pacientes recebendo semanas de antibióticos desnecessários para condições como linfoma ou febre medicamentosa (Ref. 4).
- Malignidade: A causa não infecciosa mais comum de FN (17,8% das causas não infecciosas), sendo o linfoma a etiologia predominante (Ref. 4).
- Hematomas: Grandes hematomas (ex: retroperitoneais, em sítio cirúrgico) foram a segunda causa não infecciosa mais comum (14,3%) (Ref. 4). A febre é causada pela reabsorção do sangue e pela resposta inflamatória (DAMPs).
- Febre Medicamentosa (“Wonder Drugs”): Causa clássica de FNOI, respondendo por 10,7% dos casos não infecciosos (Ref. 4). Frequentemente associada a beta-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas) (Ref. 3) e sedativos de UTI, como a dexmedetomidina (Ref. 15).
- Isquemia/Infarto de Órgão: Inclui Tromboembolismo Pulmonar (TEP) (10,7% dos casos não infecciosos) (Ref. 4). O TEP (o “Walk” do mnemônico) classicamente cursa com febre baixa (<39°C) (Ref. 15).
- Resposta Pós-Operatória Benigna: Febre nos primeiros 1-3 dias pós-operatórios, geralmente abaixo de 39°C, é considerada uma resposta inflamatória (DAMP) inespecífica ao trauma cirúrgico e não requer investigação, a menos que persistente ou acompanhada de instabilidade (Ref. 15).
Tabela 1: Diagnóstico Diferencial Etiológico da Febre Nosocomial (FN)
| Categoria Etiológica | Prevalência (Ref. 4) | Causas Principais (Ref. 3, 4, 15) | % Relativa (Ref. 4) |
| ETIOLOGIAS INFECCIOSAS | 66,3% | 1. Pneumonia Hospitalar (PAV/PH) | 47,4% (das infecciosas) |
| 2. Infecção do Trato Urinário (ITU-AC) | 22,8% (das infecciosas) | ||
| 3. Bacteremia/IPCSL | 8,8% (das infecciosas) | ||
| 4. Infecção Gastrointestinal (incl. C. difficile) | 8,8% (das infecciosas) | ||
| 5. Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) / Abscesso | (Não especificado no Ref. 4) | ||
| ETIOLOGIAS NÃO INFECCIOSAS | 32,5% | 1. Malignidade (ex: Linfoma) | 17,8% (das não infecciosas) |
| 2. Hematomas (ex: Pós-cirúrgico) | 14,3% (das não infecciosas) | ||
| 3. Febre Medicamentosa | 10,7% (das não infecciosas) | ||
| 4. Isquemia/Infarto (incl. TEP) | 10,7% (das não infecciosas) | ||
| 5. Doença Inflamatória / Artrite | 14,2% (combinado) | ||
| 6. Resposta Pós-Operatória Benigna | (Não quantificado, mas comum) | ||
| ETIOLOGIA INDETERMINADA | 1,2% |
Fonte: Adaptado de Chen et al., 2021 (Ref. 4) e outras fontes (Ref. 3, 15).
V. A Abordagem Metodológica: Investigando a Febre Hospitalar
Uma vez que 1/3 dos casos não são infecciosos, a investigação não pode focar-se apenas em “encontrar a cultura positiva”.
A Tríade Inicial
- Anamnese e Exame Físico Focados: A investigação deve ser centrada no ambiente nosocomial: data da cirurgia, data de início de todos os medicamentos, integridade e tempo de permanência de todos os dispositivos (CVC, SVD, ferida operatória, drenos) (Ref. 3).
- Hemoculturas: A pedra angular da investigação infecciosa. Devem ser coletados 2 a 3 pares (total de 4-6 frascos) de sítios distintos (ex: 1 periférico, 1 de cada lúmen do CVC) (Ref. 3). Devem ser colhidos antes da primeira dose de antibiótico (Ref. 3, 17).
- Remoção de Dispositivos: Na ausência de um foco claro, a remoção e cultura de dispositivos invasivos (especialmente CVCs > 7 dias) é uma medida diagnóstica e terapêutica.
O Papel Crítico dos Biomarcadores
No dilema “Inflamação (DAMP) vs. Infecção (PAMP)”, os biomarcadores são a ferramenta mais moderna para auxiliar o stewardship.
- Proteína C Reativa (PCR): Apresenta alta sensibilidade, mas baixíssima especificidade. Eleva-se em qualquer processo inflamatório, seja ele um TEP, um hematoma pós-operatório ou uma infecção (Ref. 18). É útil para monitorar a resposta terapêutica, mas não para o diagnóstico etiológico inicial.
- Procalcitonina (PCT): Apresenta especificidade muito superior para infecção bacteriana sistêmica. Níveis de PCT são minimamente elevados em inflamações estéreis (DAMPs) ou infecções virais, mas aumentam drasticamente na sepse bacteriana (PAMPs) (Ref. 18, 19).
- A PCT não é apenas diagnóstica; é uma ferramenta de stewardship. Níveis seriadamente baixos ou em queda (<0,5 ng/mL) podem ser usados para justificar a não introdução ou a suspensão precoce de antibióticos em um paciente febril, mas estável (Ref. 18).
Avanços em Imagem
- A Tomografia Computadorizada (TC) de tórax é superior à radiografia simples e deve ser o exame de escolha em pacientes neutropênicos febris, nos quais a radiografia pode ser falsamente negativa (Ref. 3).
- A TC de abdome e pelve é essencial na investigação de febre pós-operatória tardia (>5 dias) para excluir abscessos (Ref. 3).
- O Ecocardiograma Transesofágico (ETE) é mandatório na suspeita de endocardite quando o transtorácico (ETT) é negativo (Ref. 3).
- Para casos de FNOI (Febre Nosocomial de Origem Indeterminada), o 18-FDG–PET/CT (PET-Scan) emergiu como uma ferramenta de alta sensibilidade para localizar focos ocultos de inflamação, infecção ou malignidade (Ref. 6).
VI. Manejo Terapêutico: O Dilema Central da Prática Clínica
O manejo da febre hospitalar se divide em duas ações distintas: o tratamento do sintoma (antipirese) e o tratamento da causa (antibioticoterapia ou outros).
A. O Dilema dos Antipiréticos: Tratar o Paciente ou o Termômetro?
A prática reflexa de administrar antitérmicos (“se tem febre, medicar”) é onipresente, mas é cada vez mais questionada pela literatura.
- A Evidência de Desfecho: O estudo de mais alto nível sobre o tema é uma revisão sistemática e meta-análise publicada na BMJ Open em 2022 (Ref. 10). Analisando 42 ensaios clínicos (5.140 pacientes), o estudo concluiu, com alta certeza de evidência, que a terapia para febre (incluindo paracetamol, AINEs e métodos físicos) não afeta a mortalidade ou a ocorrência de eventos adversos graves (Ref. 10). A evidência de que melhora o conforto do paciente foi classificada como de “muito baixa certeza”.
- Os Riscos da Antipirese: A supressão da febre não é benigna. Pode mascarar a evolução clínica da doença, dificultando a avaliação da resposta terapêutica. Além disso, evidências sugerem que antitérmicos podem suprimir a resposta de anticorpos (ex: pós-vacinação) e prolongar a eliminação viral em infecções respiratórias (Ref. 1).
- A Crítica aos Métodos Físicos: O uso de métodos de resfriamento externo (como mantas térmicas) é particularmente questionável em pacientes sépticos. Diferente dos antipiréticos (que baixam o set point hipotalâmico), o resfriamento físico força a temperatura para baixo contra um set point elevado. Isso induz calafrios, tremores, vasoconstrição e uma resposta pressórica fria, aumentando drasticamente o consumo metabólico de oxigênio — um efeito deletério em um paciente que já está no limite da sua reserva fisiológica (Ref. 1).
- Recomendação dos Autores: A antipirese não deve ser rotineira. Deve ser reservada para indicações específicas:
- Desconforto significativo relatado pelo paciente.
- Febre extrema (ex: >39,5oC)..
- Pacientes com reserva cardiopulmonar ou neurológica limítrofe (ex: insuficiência cardíaca grave, hipertensão intracraniana), nos quais o aumento da demanda metabólica da febre pode ser prejudicial (Ref. 1, 3).
Tabela 2: Manejo de Antipiréticos: Evidências versus Prática Comum
| Intervenção | Efeito na Mortalidade (Ref. 10) | Efeito no Conforto (Ref. 10) | Riscos Potenciais (Ref. 1) | Recomendação Baseada em Evidência |
| Paracetamol (Acetaminofeno) / Dipirona | Nenhum (Evidência Alta) | Incerto (Evidência Baixa) | Mascaramento diagnóstico; Hepatotoxicidade (Paracetamol). | Uso Seletivo. Não rotineiro. |
| AINEs (Ibuprofeno, etc.) | Nenhum (Evidência Alta) | Incerto (Evidência Baixa) | Nefrotoxicidade; Sangramento GI; Supressão imune. | Uso Seletivo. Evitar em pacientes de risco. |
| Métodos Físicos (Mantas, Banhos) | Nenhum (Evidência Alta) | Incerto; Causa desconforto. | Aumento do consumo de O2; Calafrios; Vasoconstrição. | Questionável. Evitar como terapia primária na sepse. |
B. O Pilar Central: Abordagem da Causa Base (Sepse vs. Não Infecção)
A verdadeira emergência no paciente febril não é a temperatura, mas a sepse. A gestão clínica é definida pelo conflito entre a necessidade de tratar a sepse rapidamente e o conhecimento de que muitas febres não são sepse.
- Rastreio e Reconhecimento da Sepse: As diretrizes de sepse (Ref. 17) evoluíram. Enquanto o qSOFA é útil pela sua alta especificidade (poucos falsos positivos), ele sofre de baixa sensibilidade (perde muitos casos precoces). Uma atualização de 2023 (Ref. 20) recomenda o uso de escores de rastreio com maior sensibilidade no ambiente hospitalar e de emergência, como o NEWS (National Early Warning Score) ou o próprio SIRS, para garantir que menos casos de sepse sejam perdidos.
- A “Hora de Ouro” (Golden Hour): Em pacientes com sepse provável ou choque séptico, a administração de antibióticos empíricos de amplo espectro (após a coleta de culturas) deve ocorrer na primeira hora (Ref. 17, 20, 21). Cada hora de atraso está associada a um aumento significativo da mortalidade (Ref. 20).
- Manejo do Choque Séptico: A ressuscitação moderna foca em (Ref. 20, 21):
- Vasopressor de Primeira Linha: Norepinefrina (para manter PAM > 65 mmHg).
- Vasopressor de Segunda Linha: Vasopressina (adicionada para reduzir a dose de norepinefrina).
- Fluidos: Uso de cristaloides (ex: Ringer Lactato) guiado por medidas de fluidorresponsividade, evitando a sobrecarga volêmica.
C. O Desafio dos Microrganismos Multirresistentes (MDRO)
A escolha do antibiótico empírico na FN deve ser guiada pela epidemiologia institucional e pelos fatores de risco do paciente (Ref. 3). O surgimento de Enterobactérias Resistentes a Carbapenêmicos (ERC) — produtoras de KPC, NDM, OXA-48 — tornou obsoletos muitos esquemas clássicos. O tratamento de infecções graves por ERC agora depende de (Ref. 22, 23, 24):
- Novos Inibidores de Beta-Lactamase: Ceftazidima-avibactam (para KPC, OXA-48) ou Meropenem-vaborbactam (para KPC).
- Terapias de Combinação: Frequentemente necessárias, envolvendo Polimixinas (Colistina), Tigeciclina ou Fosfomicina EV (Ref. 22, 24).
A gestão da febre nosocomial é, portanto, um exercício de stewardship em tempo real. A pressão para tratar (Sepse) deve ser equilibrada pelo conhecimento de que um terço dos casos não são infecciosos (Ref. 4). A reavaliação diária (“de-escalation”) (Ref. 20) e o uso criterioso de biomarcadores como a PCT (Ref. 18) são as ferramentas-chave para mediar esse conflito.
VII. Conclusões Finais e Recomendações
A febre no paciente hospitalizado é um sinal clínico cuja complexidade é frequentemente subestimada. A abordagem moderna exige um afastamento de dogmas centenários e uma reavaliação crítica de práticas rotineiras.
Principal Achado (Síntese): A febre no paciente hospitalizado é um fenômeno bifásico: dois terços dos casos têm origem infecciosa (IRAS), mas um terço substancial (32,5%) tem causas não infecciosas, incluindo malignidade, febre medicamentosa e hematomas pós-operatórios (Ref. 4).
Conclusão: A febre é uma resposta adaptativa (Ref. 1). O tratamento antipirético rotineiro, seja farmacológico ou físico, não oferece benefício de mortalidade (Ref. 10) e pode ser fisiologicamente deletério (Ref. 1). A prioridade clínica absoluta não é a supressão do sintoma, mas o diagnóstico etiológico, diferenciando a inflamação estéril (DAMPs) da infecção (PAMPs).
Recomendações para a Prática da CCIH:
- Reconhecer a Epidemiologia: Implementar protocolos de investigação de febre nosocomial que incluam ativamente causas não infecciosas no diagnóstico diferencial, evitando a “visão em túnel” focada apenas em infecção.
- Adotar Biomarcadores de Stewardship: Promover o uso seriado da Procalcitonina (PCT) como uma ferramenta objetiva para guiar o stewardship de antimicrobianos, auxiliando na decisão de iniciar ou, mais importante, suspender antibióticos (Ref. 18, 19).
- Combater a “Febrefobia”: Educar as equipes clínicas sobre a evidência de que a antipirese rotineira é desnecessária (Ref. 10). O tratamento antitérmico deve ser uma decisão clínica seletiva, baseada no conforto do paciente ou em riscos fisiológicos específicos, e não um reflexo automático.
- Priorizar o Rastreio de Sepse: Adotar escores de rastreio de alta sensibilidade (como NEWS ou SIRS) para a detecção precoce de sepse, conforme as diretrizes atualizadas (Ref. 20), garantindo que a “Hora de Ouro” seja respeitada nos casos em que a infecção é, de fato, a etiologia.
A febre em pacientes hospitalizados é um fenômeno complexo que transcende o simples registro de temperatura.
Ela exige interpretação clínica refinada, investigação sistemática e decisões rápidas baseadas em evidência.
O profissional que compreende o papel adaptativo da febre — sem cair no impulso de suprimí-la indiscriminadamente — está melhor preparado para diferenciar infecção, inflamação e reações adversas a medicamentos.
Mais do que tratar números no termômetro, o desafio é entender o que o corpo está comunicando.
Nesse cenário, a integração entre equipe multiprofissional, vigilância microbiológica e programas de stewardship antimicrobiano torna-se a chave para reduzir morbimortalidade e uso irracional de antibióticos.
A febre, portanto, continua sendo o sinal mais antigo e mais atual da medicina — e talvez o mais eloquente.
Referências Bibliográficas Comentadas
Nota: As referências foram selecionadas a partir do material de base que colocarei a seguir1 e complementadas com pesquisas em bases de dados para fornecer o contexto mais atualizado, conforme solicitado.
(Ref. 1) SAJADI, M. M.; ROMANOVSKY, A. A. Temperature Regulation and the Pathogenesis of Fever. In: Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9. ed. Elsevier, 2020. Cap. 55..1
Resumo do Artigo: Este capítulo de referência detalha a fisiopatologia moderna da febre, estabelecendo-a como uma resposta regulada mediada por PGE2. Critica o dogma de Wunderlich, discute o valor biológico da febre e adverte contra o uso rotineiro de antipiréticos (especialmente físicos) em pacientes sépticos, citando valor limitado e riscos fisiológicos (aumento do consumo de O2).
(Ref. 2) SPENCER, I. M. Febre, padrões de febre e o seu impacto na patologia. Universidade de Coimbra, 2015. Disponível em: https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/37469/1 /Febre padroes de febre e o seu impacto na patologia.pdf ..1
Resumo do Artigo: Esta dissertação revisa os mecanismos fisiopatológicos clássicos da febre, detalhando a ação de pirogênios exógenos e endógenos (IL-1, IL-6, TNFalpha) e a via neural alternativa (vagal) para a indução da febre, complementando a via humoral clássica (PGE2).
(Ref. 3) ANEXO NO FINAL DESTE ARTIGO. Febre no paciente hospitalizado: definição, patogenia, causas, investigação e conduta terapêutica.
Resumo do Artigo: Este serviu como estrutura base, fornecendo definições operacionais para febre em diferentes populações (pediatria, idosos, neutropênicos), um resumo das causas pós-operatórias (os “5 Ws”) e uma visão geral do manejo de IRAS, febre medicamentosa e sepse.
(Ref. 4) CHEN, C. et al. The etiology of nosocomial fever: A prospective cohort study in general medical wards. Medicine (Baltimore), v. 100, n. 39, p. e27380, 2021. DOI:(https://doi.org/10.1097/MD.0000000000027380
Resumo do Artigo: Este é o estudo prospectivo central citado no artigo, analisando 86 casos de febre nosocomial. O principal achado foi a divisão etiológica: 66,3% infecciosa (liderada por pneumonia com 47,4%) e 32,5% não infecciosa (liderada por malignidade com 17,8% e hematoma com 14,3%). Conclui que a febre não infecciosa é uma causa prevalente que deve ser ativamente investigada.
(Ref. 5) VARELLA, M. Nova definição de febre em crianças: o que muda? Portal Drauzio Varella, 25 ago. 2025..
Resumo do Artigo: Reportagem sobre a atualização de 2025 da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) que ajustou o limiar de febre axilar para 37,5oC, com o objetivo explícito de reduzir a “febrefobia” e o tratamento excessivo de febres baixas.
(Ref. 6) WRIGHT, W. F.; AUWAERTER, P. G. Fever and Fever of Unknown Origin: Review, Recent Advances, and Lingering Dogmas. Open Forum Infectious Diseases, v. 7, n. 5, p. ofaa132, 2020. DOI: 10.1093/ofid/ofaa132
Resumo do Artigo: Esta revisão discute a história da termometria, os dogmas persistentes (como a temperatura normal de 37,0°C, citando Mackowiak 1992) e os avanços no diagnóstico de FOI. Fornece a definição formal de FOI Nosocomial (>38,3°C, 3 dias de investigação) e destaca o papel emergente do 18-FDG-PET/CT.
(Ref. 7) SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP). Abordagem da Febre Aguda em Pediatria […]. Rio de Janeiro: SBP, 2025..1
Resumo do Artigo: Documento oficial da SBP que estabelece a nova diretriz para definição de febre em pediatria (acima de 37,5oC $ axilar), fornecendo a base para a mudança de paradigma no tratamento sintomático em crianças no Brasil.
Resumo do Artigo: Revisão clássica brasileira sobre FOI, que destaca as particularidades do diagnóstico em idosos, onde a resposta febril é frequentemente atenuada e a ausência de febre não exclui infecção grave.
(Ref. 8) LAMBERTUCCI, J. R. Febre de origem indeterminada em adultos. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 38, n. 6, p. 507-513, 2005.DOI: https://doi.org/10.1590/S0037-86822005000600012
(Ref. 9) CONSENSO Brasileiro de Neutropenia Febril. Guia TdC (Tá de Clinicagem), 2 jun. 2025. Link: https://www.tadeclinicagem.com.br/guia/438/consenso-brasileiro-de-neutropenia-febril/
Resumo do Artigo: Este consenso 1 estabelece a definição padrão-ouro para febre neutropênica (oral $\ge38,3^{\circ}C$ única ou $\ge38,0^{\circ}C$ por 1h) e a urgência do manejo, exigindo antibioticoterapia empírica de amplo espectro na primeira hora.
(Ref. 10) WIBLIN, R. T. et al. Fever therapy: A systematic review and meta-analysis of its effects on mortality and serious adverse events. BMJ Open, v. 12, n. 7, p. e069620, 2022. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-069620 ..6
Resumo do Artigo: Esta revisão sistemática e meta-análise de 42 ensaios (5140 pacientes) é a principal fonte de evidência contra a antipirese rotineira. Concluiu, com alta certeza de evidência, que a terapia para febre (farmacológica ou física) não afeta a mortalidade ou eventos adversos graves em adultos febris.
(Ref. 11) STEINER, A. Em estágios iniciais da COVID-19, febre pode ser grande aliada contra a doença. Instituto de Ciências Biomédicas USP, 18 maio 2025..1
Resumo do Artigo: Artigo de divulgação científica 1 que reforça o conceito do valor biológico da febre, explicando como a elevação da temperatura otimiza a resposta imune inata e adaptativa contra patógenos, servindo de base para o argumento contra a supressão rotineira.
(Ref. 12) RIBEIRO, L. S. Mecanismos inflamatórios envolvidos na indução de febre. Universidade Federal de Minas Gerais, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstreams/448adfda-5652-4d07-a671-063ddaacaa17/download..1
Resumo do Artigo: Esta revisão 1 foca nos mediadores inflamatórios, detalhando o papel central da PGE2 e da enzima COX-2 na sinalização hipotalâmica que culmina na elevação do ponto de ajuste térmico.
(Ref. 14) Original: (Ref. 14) Nova Diretriz Americana de 2025 sobre Tratamento de Pneumonia. Tá de Clínica Gem, 31 ago. 2025. Link: https://www.tadeclinicagem.com.br/guia/474/nova-diretriz-americana-de-2025-sobre-tratamento-de-pneumonia/
Resumo do Artigo: Este resumo 1 de uma nova diretriz enfatiza a importância do diagnóstico preciso da pneumonia hospitalar/PAV, a principal causa infecciosa de FN. Discute o uso de culturas e a importância do descalonamento em 7-8 dias.
(Ref. 15) Internet Book of Critical Care (IBCC). Non-infectious fever. EMCrit Project. Disponível em: Link: https://emcrit.org/ibcc/fever/
Resumo do Artigo: Esta revisão 2 de medicina intensiva lista as principais causas de febre não infecciosa na UTI, incluindo febre pós-operatória benigna (dias 1-3, <39°C), pneumonite aspirativa, TEP e febre medicamentosa (citando especificamente a dexmedetomidina).
(Ref. 16) KLUGER, M. J. et al. Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia, ventilator-associated events, and nonventilator hospital-acquired pneumonia in acute-care hospitals: 2022 update. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 43, n. 9, p. 1-37, 2022 DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2022.164
Resumo do Artigo: Esta é a diretriz de prática clínica 8 da SHEA/IDSA/APIC, fundamental para a CCIH. Ela detalha intervenções essenciais e adicionais baseadas em evidências para prevenir a VAP/PAV, que é a principal causa infecciosa de febre nosocomial (Ref. 4).
(Ref. 17) EVANS, L. et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Critical Care Medicine, v. 49, n. 11, p. e1063-e1143, 2021. DOI: https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005337
Resumo do Artigo: A diretriz global para manejo da sepse. É a fonte primária para a recomendação de antibióticos na “Hora de Ouro” (Ref. 20, 21), ressuscitação volêmica com cristaloides e uso de norepinefrina como vasopressor de primeira escolha.
(Ref. 18) WALKER, C.; MISTRY, C. Procalcitonin. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024. Disponível em:(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547669/
Resumo do Artigo: Esta revisão 10 descreve o papel dos biomarcadores. Destaca que a Procalcitonina (PCT) é o biomarcador mais confiável para diferenciar SIRS (inflamação estéril) de Sepse (infecção bacteriana) e que seus níveis seriados auxiliam na decisão de descalonamento de antibióticos.
(Ref. 19) HU, L. et al. Diagnostic Value of PCT and CRP for Detecting Serious Bacterial Infections in Patients With Fever of Unknown Origin: A Systematic Review and Meta-analysis. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, v. 25, n. 8, p. e61-e69, 2017. DOI: https://doi.org/10.1097/PAI.0000000000000557
Resumo do Artigo: Esta meta-análise 10 confirma o valor diagnóstico da PCT e CRP na FOI, demonstrando que a PCT, em particular, tem alta especificidade para diferenciar infecções bacterianas graves de outras causas de febre.
(Ref. 20) DREW, R. Y. et al. 2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department. Medicina (Kaunas), v. 59, n. 5, p. 916, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/medicina59050916
Resumo do Artigo: Esta revisão 9 atualiza o manejo da sepse pós-diretriz de 2021. Destaca a preferência por escores de rastreio de alta sensibilidade (NEWS/SIRS) sobre o qSOFA isolado no DE, e reforça o manejo com antibióticos precoces, fluidos guiados por responsividade e norepinefrina.
(Ref. 21) Sepse e choque séptico. MSD Manuals – Versão para Profissionais de Saúde, 02 abr. 2025..1
Resumo do Artigo: Artigo de revisão 1 que define sepse e choque séptico, corroborando as diretrizes da Surviving Sepsis Campaign (Ref. 17) sobre a necessidade de antibioticoterapia imediata e suporte hemodinâmico (fluidos e vasopressores).
(Ref. 22) Bacilos gram-negativos (BGN) Multirresistentes. Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), 2024. Disponível em:(https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2024/08/BGN.pdf
Resumo do Artigo: Documento da SBI 1 que detalha as opções terapêuticas para bactérias MDRO, incluindo ERCs (KPC). Recomenda terapia combinada para infecções graves e discute o uso de Polimixinas, Tigeciclina e as novas combinações de inibidores.
(Ref. 23) INSTITUTO CCIH+ Resistência aos Carbapenêmicos: O Desafio Crítico da Infectologia Moderna. CCIH.med.br, 05 out. 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/resistencia-aos-carbapenemicos-o-desafio-critico-da-infectologia-moderna/
Resumo do Artigo: Artigo do portal que discute a epidemiologia das carbapenemases (KPC, NDM, OXA-48), enfatizando o desafio terapêutico que elas representam no ambiente hospitalar, o que justifica a necessidade de terapia empírica agressiva na suspeita de sepse por MDRO.
(Ref. 24) LI, Q. et al. Carbapenem-resistant Gram-negative bacteria. Frontiers in Public Health, v. 12, 2024. DOI : https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.13765131
Resumo do Artigo: Revisão recente sobre os mecanismos de resistência aos carbapenêmicos e as opções de tratamento, corroborando o uso de novas drogas como Ceftazidima-avibactam e Meropenem-vaborbactam como escolhas direcionadas para ERCs.
Autor:
Antonio Tadeu Fernandes:
https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/
https://www.instagram.com/tadeuccih/
#Infectologia #MedicinaIntensiva #Enfermagem #MedicinaHospitalar #CCIH #SegurançaDoPaciente #GestãoEmSaúde #Febre #FebreNosocomial #InfecçãoHospitalar #IRAS #Sepse #ChoqueSéptico #Febrefobia #FebreNaoInfecciosa #FebreMedicamentosa #Antipireticos #SIRS #Procalcitonina #Biomarcadores #AntimicrobialStewardship #UsoRacionalDeAntibioticos #ResistenciaMicrobiana #MDRO #KPC
Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação
Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:
MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção
MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização
MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica