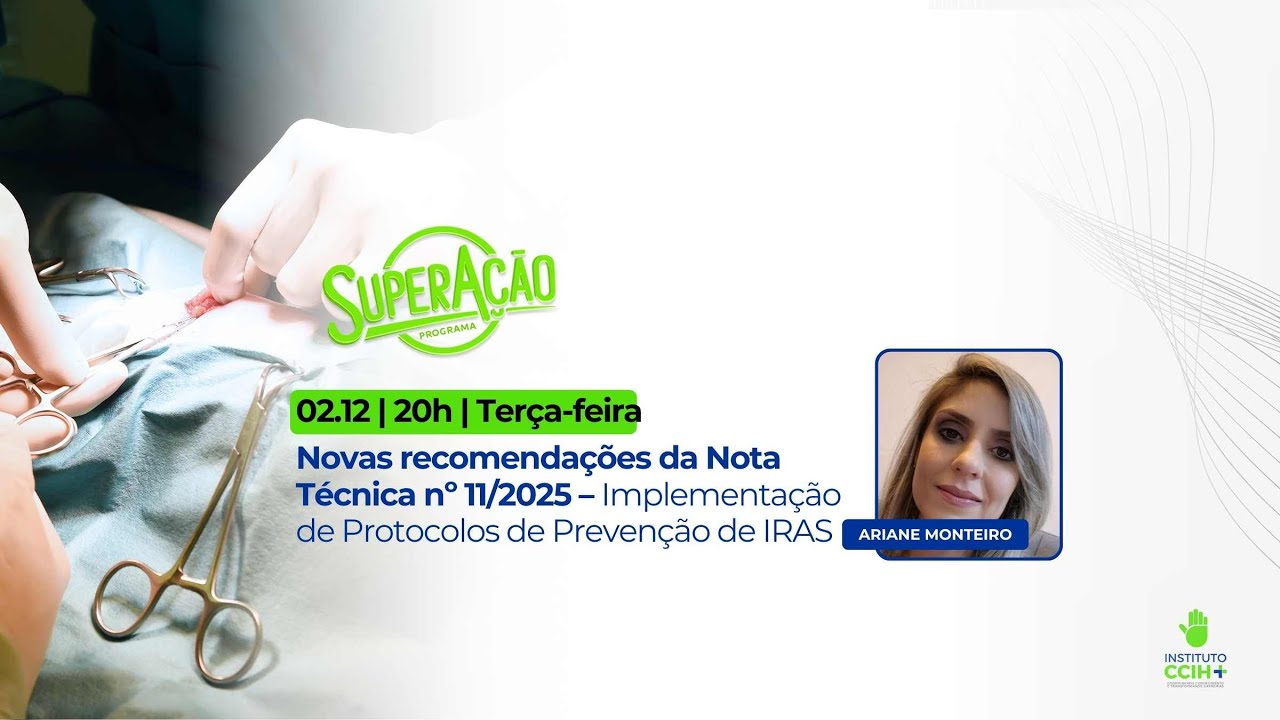O estado de nutrição do paciente tem um grande imacto na ocorrência de infecções hospitalares e deveria ser avaliado em todos pacientes internados. Saiba por que lendo este artigo.
Apesar dos avanços em assepsia, esterilização e stewardship de antimicrobianos, as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) seguem como um dos maiores desafios da medicina moderna. Mas, enquanto olhamos obsessivamente para patógenos e antibióticos, um determinante crucial permanece à margem: o estado nutricional do paciente.
Este texto revela como a desnutrição — presente em até metade dos hospitalizados no Brasil — e até mesmo a obesidade criam um hospedeiro vulnerável, comprometendo barreiras, células imunes e respostas vacinais. Mais do que um detalhe coadjuvante, a nutrição é um fator de risco modificável e, portanto, uma poderosa ferramenta de prevenção. O desafio para gestores e controladores de infecção é claro: reposicionar a nutrição no centro da estratégia de segurança do paciente.
FAQ: O Impacto da Nutrição no Controle de Infecções Hospitalares para Profissionais de Saúde
Esta página de Perguntas Frequentes (FAQ) foi elaborada para fornecer a médicos, farmacêuticos, nutrólogos, nutricionistas e enfermeiros informações essenciais e baseadas em evidências sobre o papel crucial da nutrição na prevenção e no manejo de infecções hospitalares. O conteúdo foi desenvolvido a partir do artigo “Quando a dieta vira defesa: o impacto da nutrição no controle de infecções hospitalares” e enriquecido com materiais do portal CCIH.med.br e referências científicas atualizadas.
Questões Gerais e Fundamentais
-
Qual a relação direta entre o estado nutricional do paciente e o risco de desenvolver infecções hospitalares?
O estado nutricional inadequado, especialmente a desnutrição, compromete seriamente o sistema imunológico, diminuindo a capacidade do corpo de combater patógenos. Pacientes desnutridos apresentam uma resposta inflamatória desregulada, menor produção de anticorpos e uma barreira intestinal fragilizada, o que aumenta a translocação bacteriana. Isso os torna mais suscetíveis a infecções do sítio cirúrgico, pneumonias e outras infecções associadas aos cuidados de saúde (IRAS).
- Referência:
-
O que é imunonutrição e quando deve ser considerada no ambiente hospitalar?
A imunonutrição é uma estratégia terapêutica que utiliza nutrientes específicos, como arginina, glutamina, ácidos graxos ômega-3 e nucleotídeos, em doses farmacológicas para modular a resposta imune e inflamatória. É especialmente indicada para pacientes em estado crítico, pacientes cirúrgicos de grande porte e pacientes com sepse, visando reduzir complicações infecciosas, o tempo de internação e a mortalidade.
- Referências:
-
Quais são os principais nutrientes que atuam no fortalecimento do sistema imunológico de pacientes hospitalizados?
Diversos nutrientes são essenciais para uma função imune competente. As vitaminas A, C, D e E, juntamente com os minerais Zinco e Selênio, são cruciais para a proliferação e o funcionamento de células de defesa. Aminoácidos como a glutamina e a arginina também desempenham papéis vitais na resposta imune e na cicatrização.
- Referências:
-
Como a desnutrição hospitalar afeta a resposta a tratamentos e a recuperação do paciente?
A desnutrição aumenta o risco de complicações pós-operatórias, retarda a cicatrização de feridas, prolonga a necessidade de ventilação mecânica e aumenta o tempo de permanência hospitalar. Além disso, pode diminuir a eficácia de tratamentos, incluindo a antibioticoterapia, e está associada a maiores taxas de reinternação e mortalidade.
- Referências:
- CCIH.med.br: Segurança na Administração de Medicamentos e Nutrição
- Referência Adicional: Hospital malnutrition: prevalence, causes, and consequences
-
Qual a importância da triagem nutricional na admissão hospitalar?
A triagem nutricional precoce, realizada nas primeiras 24 a 48 horas de internação, é fundamental para identificar pacientes em risco nutricional ou já desnutridos. Ferramentas como a NRS-2002 ou a MUST permitem uma intervenção nutricional rápida e direcionada, o que é um passo crucial para prevenir o declínio do estado nutricional e reduzir o risco de infecções.
- Referências:
- Referência Adicional: Nutritional screening tools for hospitalized patients: a systematic review
Para Médicos e Nutrólogos
-
Como a terapia nutricional deve ser ajustada para pacientes com sepse?
Em pacientes com sepse, a terapia nutricional deve ser iniciada precocemente, preferencialmente por via enteral, para manter a integridade da barreira intestinal. A oferta calórica deve ser progressiva, evitando a superalimentação na fase aguda. Dietas enriquecidas com imunonutrientes podem ser consideradas, e a monitorização de eletrólitos e da glicemia é crucial.
- Referências:
- CCIH.med.br: Dia Mundial da Sepse 2024
- Referência Adicional: Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient
-
Qual o papel da microbiota intestinal na prevenção de infecções hospitalares?
A microbiota intestinal saudável atua como uma barreira contra a colonização por patógenos (resistência à colonização). O uso de antibióticos e o estresse da hospitalização podem causar disbiose, aumentando o risco de infecções por Clostridioides difficile e outros microrganismos multirresistentes. A terapia nutricional, incluindo o uso de fibras e probióticos, pode ajudar a modular a microbiota.
- Referências:
-
Quando indicar a nutrição parenteral (NP) e quais os riscos infecciosos associados?
A NP é indicada quando o trato gastrointestinal não está funcionante ou acessível. No entanto, ela está associada a um maior risco de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter. A manipulação asséptica da bolsa e do cateter, a monitorização rigorosa do sítio de inserção e a transição para a nutrição enteral assim que possível são essenciais para a prevenção.
- Referências:
- CCIH.med.br: Segurança na Administração de Medicamentos e Nutrição
- Referência Adicional: Parenteral Nutrition: Indications, Access, and Complications
-
Como o controle glicêmico em pacientes recebendo terapia nutricional impacta no risco de infecção?
A hiperglicemia é um fator de risco independente para infecções hospitalares, pois prejudica a função de neutrófilos e outros componentes do sistema imune. Em pacientes recebendo nutrição enteral ou parenteral, o monitoramento rigoroso da glicemia e o uso de insulina, quando necessário, são fundamentais para reduzir o risco infeccioso.
- Referências:
- Referência Adicional: Hyperglycemia and outcomes in critically ill patients
-
Qual a importância de reavaliar continuamente a terapia nutricional do paciente hospitalizado?
As necessidades nutricionais de um paciente hospitalizado são dinâmicas e mudam conforme a evolução clínica, a resposta inflamatória e o estado metabólico. A reavaliação periódica permite ajustar a oferta de calorias, proteínas e micronutrientes, garantindo uma terapia adequada e prevenindo complicações como a síndrome de realimentação e a superalimentação.
- Referências:
- Referência Adicional: Monitoring the Adequacy of Nutrition Therapy in Critically Ill Patients
Para Nutricionistas e Nutrólogos
-
Quais as principais ferramentas de avaliação nutricional recomendadas para o ambiente hospitalar?
Além da triagem inicial, a Avaliação Subjetiva Global (ASG) é uma ferramenta validada e amplamente utilizada para um diagnóstico mais aprofundado do estado nutricional. Medidas antropométricas, como a circunferência do braço e a prega cutânea tricipital, e exames laboratoriais, como albumina e pré-albumina, podem complementar a avaliação, embora devam ser interpretados com cautela na presença de inflamação.
- Referências:
- Referência Adicional: Subjective Global Assessment: A Review of Its Use in Clinical Practice
-
Como o uso de probióticos e simbióticos pode beneficiar pacientes hospitalizados?
Probióticos e simbióticos podem ajudar a restaurar a microbiota intestinal, prevenir a diarreia associada a antibióticos e a Clostridioides difficile, e modular a resposta imune. A indicação deve ser criteriosa, considerando o tipo de cepa, a dose e a condição clínica do paciente, sendo contraindicados em pacientes gravemente imunossuprimidos.
- Referências:
-
Qual a estratégia nutricional para o período perioperatório visando a redução de infecções?
Protocolos como o ACERTO (Aceleração da Recuperação Total Pós-operatória) recomendam a abreviação do jejum pré-operatório com oferta de bebidas enriquecidas com carboidratos e a reintrodução precoce da alimentação no pós-operatório. Em cirurgias de grande porte, a imunonutrição no período pré-operatório pode reduzir significativamente as complicações infecciosas.
- Referências:
- Referência Adicional: The ACERTO project: a Brazilian initiative to accelerate postoperative recovery
-
Como manejar a terapia nutricional enteral em pacientes com alto resíduo gástrico?
O alto volume de resíduo gástrico pode ser um sinal de intolerância à dieta enteral. Estratégias incluem a redução da taxa de infusão, o uso de agentes procinéticos, a mudança para uma fórmula de mais fácil digestão (hidrolisada) ou o avanço da sonda para uma posição pós-pilórica.
- Referências:
- Referência Adicional: Management of High Gastric Residual Volume in Critically Ill Patients
-
Qual a recomendação de oferta proteica para pacientes críticos com risco de infecção?
Pacientes críticos apresentam um intenso catabolismo proteico. A recomendação geral é de uma oferta elevada de proteínas, variando de 1.2 a 2.0 g/kg de peso por dia, para preservar a massa muscular, apoiar a função imune e promover a cicatrização. A oferta deve ser individualizada e monitorada.
- Referências:
- Referência Adicional: Protein Requirements in the Critically Ill: A Review
Para Farmacêuticos
-
Quais os principais cuidados na manipulação e dispensação da Nutrição Parenteral (NP) para evitar contaminação?
A NP é uma formulação de alto risco para contaminação microbiana. A manipulação deve ocorrer em área limpa, com técnica asséptica rigorosa, sob fluxo laminar. O farmacêutico é responsável por garantir a estabilidade, a compatibilidade dos componentes e a correta rotulagem da bolsa, além de orientar a equipe sobre o armazenamento e o tempo de infusão.
- Referências:
- CCIH.med.br: Segurança na Administração de Medicamentos e Nutrição
- Referência Adicional: Safe Practices for Parenteral Nutrition
-
Como o farmacêutico pode colaborar na prevenção de interações fármaco-nutriente na terapia enteral?
O farmacêutico deve avaliar a compatibilidade dos medicamentos prescritos com a dieta enteral, evitando a administração conjunta de fármacos que possam obstruir a sonda ou ter sua absorção alterada. É essencial orientar a equipe de enfermagem sobre a forma correta de preparo e administração de medicamentos via sonda.
- Referências:
- Referência Adicional: Guidelines for the Administration of Drugs Through Enteral Feeding Tubes
-
Qual o papel do farmacêutico na monitorização da estabilidade de emulsões lipídicas na NP?
As emulsões lipídicas são o componente mais instável da NP. O farmacêutico deve inspecionar visualmente a bolsa antes da dispensação, procurando por sinais de quebra da emulsão (separação de fases, formação de gotículas de óleo). A estabilidade pode ser comprometida por pH inadequado ou alta concentração de eletrólitos.
- Referências:
- Referência Adicional: Lipid Emulsion Stability in Parenteral Nutrition
-
Quais as diretrizes para o tempo de troca dos equipos de nutrição enteral e parenteral?
A troca regular dos equipos é uma medida importante de prevenção de infecção. Para nutrição parenteral com lipídios, o equipo deve ser trocado a cada 24 horas. Para formulações sem lipídios, a troca pode ocorrer a cada 72-96 horas. Para nutrição enteral em sistema aberto, o equipo deve ser trocado a cada 24 horas.
- Referências:
- CCIH.med.br: Quando Trocar? Boas Práticas na Troca de Dispositivos em Saúde
- Referência Adicional: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections
-
Como o farmacêutico pode contribuir para a gestão de custos da terapia nutricional hospitalar?
O farmacêutico clínico pode otimizar a terapia nutricional através da seleção de produtos custo-efetivos, da prevenção de desperdícios, do manejo de interações que poderiam levar a complicações e do auxílio na transição segura da nutrição parenteral para a enteral, que é menos custosa e mais fisiológica.
- Referências:
- Referência Adicional: The Role of the Pharmacist in a Nutrition Support Service
Para Enfermeiros
-
Quais são os principais cuidados de enfermagem na administração da nutrição enteral para prevenir infecções?
Os cuidados incluem a lavagem das mãos antes e depois da manipulação, a elevação da cabeceira do leito a 30-45 graus para prevenir aspiração, a lavagem da sonda com água antes e após a administração de dieta e medicamentos, e a troca do equipo e do frasco de dieta conforme os protocolos institucionais para evitar contaminação bacteriana.
- Referências:
- Referência Adicional: Enteral Nutrition Practice Recommendations
-
Como a enfermagem deve realizar o cuidado com o sítio de inserção do cateter venoso central para NP?
O cuidado rigoroso é vital para prevenir a infecção de corrente sanguínea. Isso inclui a realização do curativo com técnica asséptica, utilizando clorexidina alcoólica, a troca do curativo conforme o protocolo (ou sempre que estiver úmido ou sujo), e a avaliação diária do sítio de inserção para identificar precocemente sinais flogísticos.
- Referências:
- CCIH.med.br: Segurança na Administração de Medicamentos e Nutrição
- Referência Adicional: Standardizing Central Line Care to Prevent Infections
-
Quais os sinais de intolerância à dieta enteral que a equipe de enfermagem deve monitorar?
A equipe de enfermagem deve estar atenta a sinais como distensão abdominal, náuseas, vômitos, diarreia e aumento do resíduo gástrico. A identificação precoce desses sinais permite a comunicação com a equipe multiprofissional para ajustar a terapia nutricional.
- Referências:
- Referência Adicional: Gastrointestinal Complications of Enteral Nutrition
-
Qual o papel da enfermagem na educação do paciente e da família sobre a terapia nutricional?
A enfermagem desempenha um papel chave na orientação sobre a importância da nutrição, os cuidados com a sonda ou cateter, e os sinais de alerta de complicações. Essa educação é fundamental para o sucesso da terapia e para a segurança do paciente, especialmente na transição para o cuidado domiciliar.
- Referências:
- Referência Adicional: The Nurse’s Role in Patient Education
-
Como garantir a administração segura de medicamentos por sonda enteral?
A enfermagem deve seguir os “cinco certos” da administração de medicamentos, verificar a compatibilidade do fármaco com a dieta, utilizar formas farmacêuticas líquidas sempre que possível, triturar adequadamente os comprimidos permitidos, e lavar a sonda antes e depois de cada medicamento para evitar obstruções e interações.
- Referências:
- Referência Adicional: Administering Drugs Via Enteral Feeding Tubes: A Guide for Nurses
Atuação Multiprofissional
-
Qual a importância da equipe multiprofissional de terapia nutricional (EMTN)?
A EMTN, composta por médico, nutricionista, farmacêutico e enfermeiro, é essencial para garantir uma terapia nutricional segura e eficaz. A colaboração entre os profissionais permite uma avaliação completa do paciente, a elaboração de um plano terapêutico individualizado e a prevenção de complicações.
- Referências:
- Referência Adicional: The Value of the Nutrition Support Team: A Multidisciplinary Approach
-
Como a comunicação entre as diferentes equipes de saúde pode otimizar a terapia nutricional e prevenir infecções?
Uma comunicação clara e regular, por meio de rounds multiprofissionais e registros em prontuário, garante que toda a equipe esteja alinhada quanto aos objetivos da terapia nutricional, às metas a serem alcançadas e aos planos de monitoramento. Isso evita erros, melhora a adesão aos protocolos e contribui para a prevenção de infecções.
- Referências:
- CCIH.med.br: Canal no YouTube CCIH Cursos (conteúdos sobre a importância da equipe multiprofissional)
- Referência Adicional: Teamwork in healthcare: key discoveries enabling safer, high-quality care
-
Quais são os principais indicadores de qualidade em terapia nutricional que devem ser monitorados?
Indicadores como o percentual de pacientes com triagem nutricional realizada em 48h, o tempo para início da terapia nutricional em pacientes de risco, a adequação calórico-proteica atingida e a incidência de complicações (broncoaspiração, infecção de corrente sanguínea) são fundamentais para avaliar e melhorar a qualidade da assistência.
- Referências:
- Referência Adicional: Quality Indicators for Nutrition Support
-
De que forma os protocolos institucionais de terapia nutricional contribuem para a segurança do paciente?
Protocolos bem definidos padronizam as condutas, desde a triagem e avaliação nutricional até a prescrição, administração e monitoramento da terapia. Isso reduz a variabilidade da prática clínica, minimiza a ocorrência de erros e garante que as melhores evidências científicas sejam aplicadas no cuidado ao paciente.
- Referências:
- Referência Adicional: The Role of Clinical Pathways in Improving Patient Outcomes
-
Qual o futuro da nutrição no controle de infecções hospitalares?
O futuro aponta para uma personalização ainda maior da terapia nutricional, com base em biomarcadores do estado inflamatório e nutricional do paciente. A modulação da microbiota intestinal através de dietas específicas, probióticos de nova geração e até mesmo o transplante de microbiota fecal são áreas promissoras na prevenção e tratamento de infecções hospitalares.
- Referências:
- CCIH.med.br: Transplante de Microbiota Fecal: uma comparação da eficácia de diferentes métodos
- Referência Adicional: Personalized Nutrition and the Gut Microbiome
Introdução – O Elo Esquecido na Prevenção de Infecções
Apesar de décadas de avanços em práticas de assepsia, esterilização e programas de stewardship de antimicrobianos, as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) persistem como um dos desafios mais significativos e onerosos para os sistemas de saúde em todo o mundo. Elas representam uma ameaça formidável à segurança do paciente, contribuindo de forma substancial para o aumento da morbidade, mortalidade e custos hospitalares. Neste cenário de busca contínua por estratégias de prevenção mais eficazes, uma fronteira fundamental, embora frequentemente subestimada, emerge com clareza cristalina: o estado metabólico e nutricional do hospedeiro.
Este artigo defende uma tese central: a condição nutricional do paciente não é um fator secundário ou um mero coadjuvante no drama da infecção hospitalar, mas sim um determinante primário e, crucialmente, modificável de sua vulnerabilidade. A intrincada e bidirecional relação entre nutrição, imunidade e infecção constitui um pilar essencial para a compreensão e o manejo dos riscos infecciosos no ambiente hospitalar. Ignorar este elo é negligenciar uma das ferramentas mais potentes à nossa disposição para fortalecer as defesas do paciente e melhorar os desfechos clínicos.
Ao longo desta análise aprofundada, exploraremos as bases que conectam o estado nutricional à competência imune, dissecando como tanto a carência quanto o excesso de nutrientes comprometem as defesas do organismo. Navegaremos pelas evidências robustas e pelas controvérsias que cercam o uso de micronutrientes específicos e da imunonutrição em populações de alto risco. Finalmente, argumentaremos que a implementação sistemática da triagem nutricional na admissão hospitalar não é apenas uma boa prática clínica, mas um imperativo estratégico para qualquer programa de controle de infecção que aspire à excelência. Convidamos o leitor a uma jornada que reposiciona a nutrição no centro do palco da prevenção de IRAS, transformando-a de uma preocupação acessória em uma intervenção proativa e essencial.
O Fundamento da Resposta Imune: Uma Perspectiva Nutricional
A observação de que indivíduos desnutridos sucumbem mais facilmente a infecções é tão antiga quanto a própria medicina. Contudo, foi apenas nas últimas décadas que a ciência desvendou os mecanismos moleculares e celulares que governam essa relação simbiótica e, muitas vezes, perversa. A interação entre nutrição e infecção é classicamente descrita como um ciclo vicioso: a desnutrição compromete a função imune, aumentando a suscetibilidade e a gravidade das infecções; por sua vez, a infecção agrava a desnutrição ao aumentar as demandas metabólicas, induzir o catabolismo e reduzir a ingestão de nutrientes (Ref. 3).
Imunidade Inata e Adaptativa Sob Estresse Nutricional
O sistema imune, uma rede complexa e energeticamente dispendiosa, depende de um suprimento contínuo e adequado de macro e micronutrientes para sua manutenção e funcionamento ótimo. A deficiência nutricional, especialmente a Desnutrição Proteico-Calórica (DPC), impõe um severo tributo a praticamente todos os componentes da resposta imune.
- Barreiras Físicas e Químicas: A primeira linha de defesa do corpo é composta pelas barreiras epiteliais da pele e das mucosas. A integridade dessas barreiras é ativamente mantida por um processo de renovação celular que exige nutrientes como a vitamina A. A deficiência nutricional compromete essa integridade, facilitando a translocação de patógenos (Ref. 3).
- Imunidade Inata: A resposta imune inata, rápida e não específica, é profundamente afetada. A DPC está associada a uma redução na produção de citocinas inflamatórias essenciais, diminuição da capacidade de fagocitose por neutrófilos e macrófagos, e depleção de componentes cruciais do sistema complemento, como C3 e C5 (Ref. 3).
- Imunidade Adaptativa: Os braços celular e humoral da imunidade adaptativa são igualmente vulneráveis. Documenta-se uma redução significativa nos subconjuntos de linfócitos T CD4+ e CD8+, uma diminuição na razão CD4/CD8 e uma capacidade proliferativa linfocitária atenuada. A produção de anticorpos, como a Imunoglobulina G (IgG) sérica e a Imunoglobulina A (IgA) secretória, também é prejudicada, resultando em respostas vacinais deficientes e uma maior suscetibilidade a infecções mucosas e sistêmicas (Ref. 3).
O principal achado que emerge dessas observações é que o estado nutricional funciona como um modulador direto e potente da competência imunológica. A relevância clínica deste fato é alarmante, considerando que a prevalência de desnutrição em pacientes hospitalizados pode atingir de 35% a 65% em nações desenvolvidas (Ref. 3) e números igualmente elevados em países em desenvolvimento. No Brasil, o estudo multicêntrico IBRANUTRI (Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar), um marco na epidemiologia nutricional do país, revelou uma prevalência de desnutrição de 48,1% em uma amostra de 4.000 pacientes, sendo 12,5% classificados como desnutridos graves (Ref. 4). Este cenário transforma a desnutrição em um dos fatores de risco mais prevalentes e, teoricamente, mais passíveis de intervenção para as IRAS.
O ambiente hospitalar, paradoxalmente, pode funcionar como um catalisador para o ciclo vicioso entre desnutrição e infecção. Um paciente pode ser admitido com um estado nutricional limítrofe, mas fatores iatrogênicos como longos períodos de jejum para procedimentos, efeitos colaterais de medicamentos que causam anorexia ou náuseas, e a baixa palatabilidade da dieta hospitalar podem precipitar rapidamente uma desnutrição clinicamente significativa (Ref. 8). Dados do próprio IBRANUTRI demonstram essa deterioração progressiva: a prevalência de desnutrição aumentava de 31,8% na admissão para 61% em pacientes com mais de 15 dias de internação (Ref. 4). Essa desnutrição adquirida no hospital, por sua vez, eleva a suscetibilidade a uma IRAS. Uma vez que a infecção se instala, a resposta inflamatória sistêmica desencadeia um estado hipermetabólico e hipercatabólico que acelera ainda mais a depleção de reservas nutricionais, aprofundando o déficit e comprometendo a recuperação (Ref. 3). Essa cascata de eventos transforma a desnutrição não apenas em uma comorbidade preexistente, mas em um evento adverso diretamente relacionado ao processo de cuidado, colocando-a firmemente no domínio de responsabilidade das comissões de controle de infecção e das equipes de segurança do paciente.
A Dupla Face da Desnutrição: Da Carência ao Excesso
O espectro da má nutrição é amplo, abrangendo não apenas a deficiência, mas também o excesso. Tanto a desnutrição proteico-calórica quanto a obesidade representam estados de desequilíbrio metabólico que desregulam a função imune, embora por mecanismos distintos, e ambos constituem fatores de risco significativos para desfechos infecciosos adversos no ambiente hospitalar.
Desnutrição Proteico-Calórica (DPC): O Fator de Risco Clássico
A DPC, manifestada em suas formas clássicas de marasmo (deficiência calórica) e kwashiorkor (deficiência proteica), é citada como a principal causa de imunodeficiência em escala global (Ref. 3). Em pacientes hospitalizados, a DPC é um achado alarmantemente comum. Estudos na América Latina, incluindo o Brasil, consistentemente reportam prevalências que oscilam entre 30% e 50%, com um impacto devastador nos resultados clínicos (Ref. 4, 8).
A conexão entre DPC e o risco de IRAS é direta e robusta. A desnutrição é um fator de risco independente para o desenvolvimento de infecções nosocomiais. Uma análise demonstrou que pacientes desnutridos tinham uma chance 6,1 vezes maior de adquirir uma IRAS em comparação com pacientes bem nutridos, mesmo antes de ajustes para outros fatores de risco (Ref. 5). Essa vulnerabilidade aumentada é a consequência clínica direta das deficiências imunológicas detalhadas anteriormente, que deixam o paciente com um arsenal defensivo severamente comprometido para enfrentar os desafios microbianos do ambiente hospitalar.
A Epidemia da Obesidade: Um Estado de Inflamação Crônica
No outro extremo do espectro, a obesidade, definida por um Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m², emergiu como uma epidemia global e um problema de saúde pública de primeira magnitude (Ref. 3). Longe de ser um estado de “reserva nutricional” protetora, a obesidade é caracterizada por um estado de inflamação crônica de baixo grau, impulsionado pelo tecido adiposo, que funciona como um órgão endócrino ativo, secretando uma miríade de adipocinas e citocinas pró-inflamatórias, como a leptina e o TNF-α.
Este ambiente inflamatório crônico leva a uma complexa disfunção imune. Observa-se uma regulação positiva de respostas inflamatórias agudas, o que pode ser deletério em certas infecções, ao mesmo tempo em que há um comprometimento das respostas imunes celulares e da formação de memória imunológica de longa duração (Ref. 3). Isso explica, por exemplo, por que indivíduos obesos podem apresentar uma soroconversão inicial adequada após a vacinação contra influenza, mas a duração da imunidade protetora é encurtada.
O Paradoxo da Obesidade e Infecções Hospitalares
A relação entre obesidade e o risco de IRAS é notavelmente complexa e não uniforme, apresentando o que é frequentemente chamado de “paradoxo da obesidade”.
- Risco Aumentado: Para certas infecções, a obesidade é um fator de risco claro e consistente. O exemplo mais proeminente são as infecções de sítio cirúrgico (ISC). Múltiplos estudos confirmam que a obesidade aumenta independentemente o risco de ISC em uma variedade de procedimentos, desde cirurgias abdominais a artroplastias (Ref. 3). Fatores contribuintes incluem a menor penetração de antibióticos profiláticos no tecido adiposo, tempos cirúrgicos mais longos, maior trauma tecidual e o próprio estado pró-inflamatório local do tecido adiposo.
- Risco Reduzido ou Neutro (O Paradoxo): Em contraste, para outras condições, a obesidade parece conferir um efeito protetor ou neutro. Há uma associação consistente e surpreendente com melhores desfechos de sobrevivência em pacientes obesos com pneumonia adquirida na comunidade em comparação com seus pares não obesos (Ref. 3). Para a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), a evidência é mais ambígua, com grandes análises recentes sugerindo que a obesidade não tem um impacto significativo na sua incidência.
Essa dicotomia sugere que o impacto da obesidade no risco de infecção é altamente dependente do contexto. O estado pró-inflamatório que é deletério no trauma tecidual de uma cirurgia, exacerbando a inflamação local e prejudicando a cicatrização, pode ser paradoxalmente benéfico em uma infecção pulmonar sistêmica, talvez por modular a resposta inflamatória de uma maneira diferente ou por fornecer maiores reservas energéticas para sustentar uma resposta imune prolongada. Além disso, pesquisas emergentes sugerem que o próprio tecido adiposo pode ser um alvo para patógenos nosocomiais, como o Acinetobacter baumannii, cujo lipopolissacarídeo (LPS) pode induzir uma resposta inflamatória exacerbada nos adipócitos, potencialmente elevando o risco de sepse em pacientes obesos (Ref. 7).
Esta complexidade impõe uma mudança de paradigma para o controle de infecção. A obesidade não pode ser tratada como um fator de risco monolítico. A estratificação de risco deve ser mais granular, considerando o tipo de procedimento, o sítio potencial de infecção e o perfil do paciente. Um protocolo de prevenção de ISC para um paciente obeso submetido a uma colectomia deve ser intensificado, enquanto a abordagem para o mesmo paciente em ventilação mecânica pode não necessitar de modificações específicas relacionadas ao seu IMC, mas sim a um manejo rigoroso de suas comorbidades associadas, como diabetes e apneia do sono. A questão evolui de “a obesidade é um fator de risco?” para “para quais IRAS específicas a obesidade é um fator de risco crítico e como devemos adaptar nossas estratégias de prevenção?”.
Micronutrientes: Os Reguladores Essenciais da Imunocompetência
Enquanto a desnutrição proteico-calórica e a obesidade representam os desequilíbrios de macronutrientes, as deficiências de micronutrientes – vitaminas e oligoelementos – constituem uma forma mais insidiosa, porém igualmente impactante, de comprometimento nutricional. Esses compostos, necessários em quantidades mínimas, atuam como cofatores enzimáticos e moléculas de sinalização essenciais para praticamente todas as etapas da resposta imune, desde a manutenção da integridade das barreiras até a proliferação de linfócitos e a produção de anticorpos.
Vitaminas Lipossolúveis
- Vitamina A (Retinol): Fundamental para a manutenção da integridade das células epiteliais que revestem os tratos respiratório e gastrointestinal, constituindo a primeira barreira contra patógenos. Além disso, desempenha um papel na diferenciação de linfócitos e na promoção de respostas Th2, que são cruciais para a defesa contra parasitas extracelulares e para a produção de anticorpos. A evidência clínica de sua importância é robusta: uma revisão sistemática da Cochrane demonstrou que a suplementação de vitamina A em crianças de países em desenvolvimento reduziu significativamente a mortalidade geral (Risco Relativo 0.76; Intervalo de Confiança [IC] 95% 0.69-0.83), a incidência de diarreia (RR 0.85; IC 95% 0.82-0.87) e a incidência de sarampo (RR 0.50; IC 95% 0.37-0.67) (Ref. 3).
- Vitamina D (Calciferol): Reconhecida por seu papel no metabolismo do cálcio, a vitamina D emergiu como um potente imunomodulador. É essencial para a função da imunidade inata, particularmente na ativação de defesas mediadas por macrófagos contra patógenos intracelulares, como o Mycobacterium tuberculosis. A deficiência de vitamina D é extremamente comum, mesmo em países desenvolvidos, e está associada a uma maior suscetibilidade à tuberculose. No entanto, ensaios clínicos de suplementação em pacientes com tuberculose ativa não demonstraram melhora na mortalidade ou nas taxas de conversão do escarro (Ref. 3).
- Vitamina E (α-tocoferol): Um potente antioxidante lipossolúvel que protege as membranas celulares do dano oxidativo. A suplementação com vitamina E demonstrou em alguns estudos melhorar a proliferação de células T e as respostas de hipersensibilidade tardia em idosos. Contudo, os resultados clínicos são mistos. Um estudo notou que, embora o número de infecções não tenha diminuído, a gravidade dos sintomas foi pior no grupo suplementado. É crucial notar que altas doses (> 400 UI/dia) foram associadas a um aumento da mortalidade por todas as causas em uma meta-análise, aconselhando cautela em seu uso indiscriminado (Ref. 3).
Vitaminas Hidrossolúveis e Oligoelementos
- Vitamina C (Ácido Ascórbico): Atua como um antioxidante e cofator enzimático, concentrando-se em altas quantidades em células fagocíticas, como os neutrófilos, onde se acredita que melhore sua função quimiotática e microbicida. Uma revisão abrangente da Cochrane concluiu que a suplementação de vitamina C não reduz a incidência do resfriado comum na população geral, mas consistentemente reduz sua duração (em 8% para adultos e 14% para crianças) (Ref. 3). De forma mais provocativa, um estudo retrospectivo do tipo “antes e depois” que avaliou um protocolo de administração de hidrocortisona, vitamina C e tiamina em pacientes com sepse grave e choque séptico encontrou uma redução drástica na mortalidade hospitalar (8.5% no grupo de tratamento vs. 40.4% no grupo controle; P<0.001). Embora esses resultados sejam promissores, eles aguardam confirmação por meio de ensaios clínicos randomizados de grande escala antes que possam ser incorporados à prática clínica padrão (Ref. 3).
- Zinco: Este oligoelemento é um cofator para centenas de enzimas e é absolutamente crítico para o desenvolvimento, maturação e função dos linfócitos. A deficiência de zinco prejudica gravemente a imunidade celular. A suplementação em crianças de países em desenvolvimento demonstrou reduzir a duração e a intensidade da diarreia e das infecções respiratórias agudas. No contexto do resfriado comum, uma meta-análise de dados de pacientes individuais mostrou que pastilhas de acetato de zinco em doses de pelo menos 75 mg/dia aceleraram significativamente a recuperação dos sintomas (Ref. 3).
- Selênio: Essencial para a função das selenoproteínas, que desempenham papéis cruciais na regulação redox e na resposta antioxidante. A deficiência de selênio prejudica a função de neutrófilos e linfócitos. A suplementação em indivíduos com níveis adequados pode ter efeitos imunoestimulantes, mas doses excessivas podem ser imunossupressoras, indicando uma janela terapêutica estreita. Um aspecto fascinante e preocupante é que a deficiência de selênio no hospedeiro pode aumentar a taxa de mutação de certos vírus (como Coxsackievirus e Influenza), levando ao surgimento de cepas mais virulentas que podem, então, infectar hospedeiros bem nutridos (Ref. 3).
- Ferro: A deficiência de ferro é a deficiência de oligoelementos mais comum no mundo. Embora o ferro seja essencial para a proliferação de linfócitos e para a atividade de enzimas microbicidas em neutrófilos, sua suplementação durante uma infecção ativa é altamente controversa. Muitos patógenos, incluindo bactérias e parasitas, desenvolveram mecanismos sofisticados para adquirir ferro do hospedeiro, sendo este um fator limitante para sua replicação. A suplementação de ferro, especialmente por via parenteral, pode exacerbar infecções por patógenos como Yersinia enterocolitica e Vibrio vulnificus e tem sido associada a piores desfechos na malária. Portanto, a regra geral é adiar a reposição de ferro, particularmente a intravenosa, em pacientes com infecção ativa (Ref. 3).
A tabela a seguir resume as funções e considerações clínicas dos principais micronutrientes na imunidade.
Tabela 1: O Papel dos Principais Micronutrientes na Função Imune
| Micronutriente | Principal Função Imunológica | Evidência Clínica de Suplementação | Considerações Clínicas/Advertências |
| Vitamina A | Integridade epitelial, diferenciação de linfócitos, resposta Th2. | Reduz mortalidade geral, por diarreia e sarampo em crianças de países em desenvolvimento. | Risco de toxicidade aguda e crônica com doses excessivas. |
| Vitamina D | Ativação de macrófagos, defesa contra patógenos intracelulares. | Associada à suscetibilidade à tuberculose, mas a suplementação não melhora os desfechos no tratamento. | Deficiência é muito prevalente; a suplementação deve ser considerada em populações de risco, mas não como tratamento para infecção ativa. |
| Vitamina E | Antioxidante, protege membranas celulares, melhora proliferação de células T. | Resultados mistos em idosos; sem benefício claro na prevenção de infecções. | Doses altas ($ \ge 400 $ UI/dia) estão associadas ao aumento da mortalidade por todas as causas. |
| Vitamina C | Antioxidante, melhora a função dos neutrófilos. | Reduz a duração, mas não a incidência, do resfriado comum. Evidência promissora, mas não confirmada, em sepse. | Geralmente segura, mesmo em altas doses. |
| Zinco | Cofator enzimático, maturação e função de linfócitos T. | Reduz a duração da diarreia e de infecções respiratórias em crianças; acelera a recuperação do resfriado comum. | A suplementação deve ser considerada em populações com alta prevalência de deficiência. |
| Selênio | Regulação redox, função de linfócitos T e células NK. | Efeitos imunoestimulantes, mas com risco de imunossupressão em excesso. A deficiência pode aumentar a virulência viral. | A suplementação generalizada não é recomendada sem evidência de deficiência. |
| Ferro | Proliferação de linfócitos, atividade da mieloperoxidase em neutrófilos. | A reposição é essencial para tratar a anemia, mas deve ser feita com cautela. | Evitar a suplementação, especialmente parenteral, durante infecções ativas, pois pode piorar o prognóstico. |
Imunonutrição em Pacientes Críticos: Da Teoria à Controvérsia Clínica
O reconhecimento do profundo impacto do estado nutricional na função imune deu origem ao conceito de “imunonutrição”. Esta abordagem terapêutica utiliza nutrientes específicos, não apenas para suprir as necessidades metabólicas, mas como agentes farmacológicos capazes de modular ativamente a resposta inflamatória e imune do hospedeiro. Nutrientes como arginina, glutamina, ácidos graxos ômega-3 e nucleotídeos têm sido extensivamente estudados com este propósito, gerando um corpo de evidências marcado tanto por sucessos notáveis quanto por controvérsias significativas (Ref. 3, 9).
Evidências em Pacientes Cirúrgicos: Um Cenário de Consenso
O campo onde a imunonutrição demonstrou seu benefício mais consistente é no cuidado perioperatório de pacientes submetidos a cirurgias de grande porte, especialmente oncológicas do trato gastrointestinal. Pacientes cirúrgicos de alto risco frequentemente desenvolvem um estado de imunossupressão pós-operatória que os predispõe a complicações infecciosas. Múltiplas meta-análises de ensaios clínicos randomizados concluíram que o uso de fórmulas enterais enriquecidas, particularmente com uma combinação de arginina e ácidos graxos ômega-3 (derivados de óleo de peixe), quando administradas no período perioperatório, resulta em uma redução estatisticamente significativa das complicações infecciosas pós-operatórias e do tempo de internação hospitalar (Ref. 3, 6, 9). É importante ressaltar que, embora a morbidade seja reduzida, um impacto significativo na mortalidade geralmente não é observado.
A Controvérsia em Pacientes com Sepse: Um Terreno Instável
Em contraste com o sucesso em pacientes cirúrgicos, a aplicação da imunonutrição em pacientes com sepse grave e choque séptico é um dos tópicos mais controversos na medicina intensiva. A controvérsia centra-se principalmente na arginina. A arginina é um precursor do óxido nítrico (NO), um potente vasodilatador. A hipótese levantada é que a suplementação de arginina em um paciente já em choque séptico, caracterizado por vasodilatação sistêmica, poderia exacerbar a instabilidade hemodinâmica e piorar os desfechos (Ref. 6, 9).
Os ensaios clínicos produziram resultados conflitantes. Alguns estudos e meta-análises sugeriram um aumento da mortalidade em subgrupos de pacientes sépticos que receberam fórmulas contendo arginina, enquanto outros não encontraram danos ou até mesmo sugeriram benefícios (Ref. 3, 6). Essa heterogeneidade nos resultados levou as principais diretrizes clínicas a adotarem uma postura de cautela. As diretrizes da Sociedade de Medicina Intensiva (SCCM) e da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral (A.S.P.E.N.) de 2016, citadas no material de base, já recomendavam não usar rotineiramente fórmulas imunomoduladoras em pacientes com sepse grave (Ref. 3).
Em meio a essa controvérsia, as fórmulas ricas em ácidos graxos ômega-3, conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias (através da produção de eicosanoides menos inflamatórios), mostraram-se mais promissoras. Algumas meta-análises sugeriram que dietas enriquecidas com óleo de peixe poderiam melhorar os desfechos em pacientes de UTI médica com sepse ou Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), incluindo redução da mortalidade e do tempo de internação (Ref. 6, 9). No entanto, a evidência ainda não é definitiva.
O Papel da Glutamina: Uma Lição sobre Doses e Populações
A glutamina, o aminoácido mais abundante no corpo, foi por muito tempo considerada um nutriente condicionalmente essencial em estados críticos, com a hipótese de que a suplementação poderia preservar a integridade da mucosa intestinal e a função imune. No entanto, o ensaio clínico randomizado de grande escala REDOXS (Reducing Deaths from Oxidative Stress) testou a suplementação de altas doses de glutamina e antioxidantes em pacientes críticos e encontrou não apenas uma falta de benefício, mas também uma tendência a um aumento da mortalidade no grupo que recebeu glutamina. Este e outros estudos levaram a uma reversão nas recomendações, e as diretrizes atuais, tanto da A.S.P.E.N./SCCM quanto da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN), desaconselham o uso rotineiro de suplementação de glutamina em pacientes críticos (Ref. 3).
A saga da imunonutrição ilustra uma evolução crucial no pensamento clínico. O conceito inicial de uma fórmula “imunoestimulante” única para todos os pacientes críticos provou ser simplista e potencialmente perigoso. Os resultados díspares da arginina em cirurgia versus sepse, os potenciais benefícios do óleo de peixe em estados inflamatórios e os danos da glutamina em altas doses em pacientes não selecionados forçaram um refinamento do conceito. O campo está se movendo de uma abordagem de “imunonutrição” para uma de “farmaconutrição”. Nesta nova perspectiva, nutrientes específicos são considerados agentes farmacológicos com indicações, contraindicações, janelas terapêuticas e efeitos dependentes da dose e do contexto fisiopatológico do paciente. A questão clínica deixou de ser “devemos usar imunonutrição?” para se tornar uma série de perguntas mais precisas: “Qual nutriente específico, em que dose, em que momento da doença e para qual fenótipo de paciente crítico pode oferecer benefício?”. Esta abordagem, que espelha os princípios da farmacologia, guiará a próxima geração de pesquisas e a aplicação clínica da terapia nutricional na UTI.
O Estado Nutricional como Fator de Risco e Alvo Terapêutico para IRAS
A vasta evidência que conecta o estado nutricional à função imune e aos desfechos infecciosos deve ser traduzida em ação clínica pragmática. Para o profissional de controle de infecção, isso significa reconhecer o estado nutricional não como um problema exclusivo da equipe de nutrição, mas como um fator de risco modificável para IRAS, que exige uma abordagem proativa de triagem e intervenção. A identificação precoce de pacientes em risco nutricional é o primeiro passo para mitigar essa vulnerabilidade.
Triagem Nutricional como Ferramenta de Estratificação de Risco
Felizmente, existem ferramentas de triagem validadas, rápidas e de fácil aplicação que podem ser integradas ao processo de admissão hospitalar para identificar pacientes que necessitam de uma avaliação nutricional mais aprofundada. Duas das ferramentas mais estudadas e recomendadas são a Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) e a Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) (Ref. 1, 2).
A força dessas ferramentas reside em sua capacidade preditiva. Um escore elevado não apenas indica risco nutricional, mas também prediz de forma independente a ocorrência de desfechos clínicos adversos, incluindo infecções.
- Malnutrition Universal Screening Tool (MUST): Um estudo transversal demonstrou uma forte associação entre o risco de desnutrição avaliado pelo MUST e a prevalência de IRAS. Pacientes com um escore MUST ≥2 (indicativo de alto risco) tiveram uma chance 4,3 vezes maior de apresentar uma IRAS (Odds Ratio 4.3; IC 95% 1.7-11.2) em comparação com pacientes de baixo risco. A análise multivariada confirmou que um escore MUST mais alto permaneceu um preditor significativo de IRAS, mesmo após o ajuste para outros fatores de risco, como cirurgia e uso de dispositivos invasivos (Ref. 1).
- Nutritional Risk Screening (NRS 2002): Uma meta-análise de estudos prospectivos em pacientes submetidos à cirurgia abdominal mostrou que um escore pré-operatório de NRS 2002 ≥3 (indicativo de risco nutricional) foi um poderoso preditor de complicações. Pacientes em risco nutricional tiveram uma chance 3,13 vezes maior de desenvolver complicações pós-operatórias em geral (OR 3.13; IC 95% 2.51-3.90), um risco 3,61 vezes maior de mortalidade (OR 3.61; IC 95% 1.38-9.47) e um tempo de internação hospitalar significativamente maior (Diferença Média Ponderada de 5,58 dias) (Ref. 2). Outros estudos corroboram que um escore NRS 2002 elevado está associado a piores desfechos e maior mortalidade na UTI (Ref. 2).
Fatores Limitantes e Confundidores
É importante reconhecer que, em pacientes hospitalizados, especialmente os críticos, é um desafio isolar o impacto da nutrição de outros fatores. A gravidade da doença subjacente é um poderoso fator de confusão, pois pacientes mais graves tendem a ser mais desnutridos e, ao mesmo tempo, mais propensos a infecções e outros desfechos negativos. No entanto, a força da evidência reside no fato de que muitas das análises citadas utilizaram modelos de regressão multivariada que controlaram para a gravidade da doença e outras comorbidades, e mesmo assim, a desnutrição emergiu como um fator de risco independente (Ref. 1, 3). Isso significa que, para um mesmo nível de gravidade da doença, o paciente desnutrido ainda apresenta um risco maior.
Análise Crítica e Conclusões Finais
A convergência das evidências desenha um quadro inequívoco. A desnutrição é altamente prevalente na população hospitalar brasileira (Ref. 4). Ela compromete a função imune e atua como um fator de risco independente e significativo para o desenvolvimento de IRAS e outros desfechos clínicos adversos (Ref. 3, 5). Ferramentas de triagem simples e validadas são capazes de identificar eficazmente os pacientes em risco na admissão (Ref. 1, 2).
A conclusão lógica e inescapável é que a triagem nutricional universal na admissão hospitalar deve ser considerada uma estratégia fundamental de segurança do paciente e um componente integral dos programas de prevenção e controle de infecção. Identificar um paciente com um escore MUST ≥2 ou NRS 2002 ≥3 deve desencadear um alerta e uma avaliação nutricional completa, da mesma forma que a identificação de um paciente colonizado por um microrganismo multirresistente desencadeia precauções de contato. Trata-se de uma intervenção de baixo custo e alto impacto potencial para estratificar o risco e direcionar recursos terapêuticos que podem, em última análise, prevenir uma infecção.
A tabela a seguir consolida a validade preditiva dessas ferramentas de triagem.
Tabela 2: Validade Preditiva das Ferramentas de Triagem Nutricional para Desfechos Relacionados à Infecção
| Ferramenta de Triagem | População do Estudo | Desfecho Associado ao Risco Nutricional | Magnitude do Risco (Odds Ratio / Risco Relativo) | Referência |
| MUST (escore ≥2) | Pacientes hospitalizados em geral | Infecção Associada aos Cuidados de Saúde (IRAS) | OR: 4.3 (IC 95%: 1.7-11.2) | Fitzpatrick F, et al. (2019) (Ref. 1) |
| NRS 2002 (escore ≥3) | Pacientes submetidos à cirurgia abdominal | Complicações pós-operatórias gerais | OR: 3.13 (IC 95%: 2.51-3.90) | Guo W, et al. (2015) (Ref. 2) |
| NRS 2002 (escore ≥3) | Pacientes submetidos à cirurgia abdominal | Mortalidade pós-operatória | OR: 3.61 (IC 95%: 1.38-9.47) | Guo W, et al. (2015) (Ref. 2) |
| NRS 2002 (escore ≥3) | Pacientes submetidos à cirurgia abdominal | Tempo de internação prolongado | Diferença Média: +5.58 dias | Guo W, et al. (2015) (Ref. 2) |
| NRI (Índice de Risco Nutricional) | Pacientes hospitalizados em geral | Prevalência de IRAS | OR: 1.46 (moderadamente desnutrido) a 4.98 (gravemente desnutrido) | Schneider SM, et al. (2004) (Ref. 3) |
Conclusões e Perspectivas Futuras: Rumo ao “Imuno-Stewardship”
A jornada através da complexa interação entre nutrição, imunidade e infecção nos leva a conclusões robustas e a uma visão renovada para o futuro do controle de infecções hospitalares. O estado nutricional de um paciente não é uma condição de fundo passiva, mas sim um determinante ativo e dinâmico de sua capacidade de resistir e responder a desafios infecciosos. A evidência é clara: tanto a deficiência quanto o excesso nutricional criam um hospedeiro vulnerável, e essa vulnerabilidade é um fator de risco independente e significativo para o desenvolvimento de IRAS.
As intervenções nutricionais, desde a correção de deficiências de micronutrientes até o uso farmacológico de nutrientes específicos em pacientes críticos, devem ser guiadas por evidências, com uma apreciação aguçada do contexto clínico, da população de pacientes e do momento da doença. A era da abordagem “tamanho único” na terapia nutricional está chegando ao fim, dando lugar a uma era de precisão e personalização.
Para que esses insights se traduzam em melhorias tangíveis na segurança do paciente, propomos a adoção de um novo paradigma: o “Imuno-Stewardship” ou “Stewardship Nutricional”. Este conceito posiciona a otimização do estado imune e nutricional do paciente como um pilar central da prevenção de infecções, com o mesmo rigor e importância que atualmente dedicamos ao Stewardship de Antimicrobianos (Ref. 10). Um programa de Stewardship nutricional eficaz seria construído sobre quatro pilares fundamentais:
- Triagem (Screening): Implementação de triagem nutricional universal e obrigatória para todos os pacientes na admissão hospitalar, utilizando ferramentas validadas para identificar o risco precocemente.
- Avaliação (Assessment): Encaminhamento automático de pacientes de alto risco para uma avaliação nutricional abrangente por uma equipe especializada, a fim de diagnosticar déficits específicos e formular um plano terapêutico.
- Intervenção (Intervention): Prescrição e administração de terapia nutricional baseada em evidências, personalizada para corrigir deficiências, modular a resposta imune e atender às demandas metabólicas da doença do paciente.
- Monitoramento (Monitoring): Acompanhamento contínuo do estado nutricional, da tolerância à terapia e dos marcadores clínicos e laboratoriais relevantes ao longo de toda a internação, ajustando o plano conforme necessário.
A implementação de tal programa representa uma evolução natural e necessária para o controle de infecções. É um chamado à ação para que médicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e gestores hospitalares colaborem para integrar plenamente o cuidado nutricional no tecido da segurança do paciente. Ao fortalecer o hospedeiro, não apenas combatemos a infecção de forma mais eficaz, mas também promovemos uma recuperação mais rápida, reduzimos o tempo de internação e, em última análise, salvamos vidas. É hora de reconhecer a nutrição não como um complemento, mas como uma pedra angular da prevenção de infecções no século XXI.
A evidência é inequívoca: a triagem nutricional universal deve ser tratada como prioridade estratégica na prevenção de IRAS. Tanto a carência quanto o excesso de nutrientes comprometem a resposta imune e aumentam complicações, tempo de internação e mortalidade. Incorporar a avaliação e a intervenção nutricional como parte integrante dos programas de controle de infecção é mais do que boa prática clínica — é um imperativo ético e científico.
O futuro exige a adoção do Imuno-Stewardship Nutricional, onde médicos, nutricionistas, farmacêuticos e gestores hospitalares unem forças para fortalecer o hospedeiro, reduzir complicações e salvar vidas.
Referências Bibliográficas
- FITZPATRICK, F. et al. Food for thought. Malnutrition risk associated with increased risk of healthcare-associated infection. Journal of Hospital Infection, v. 101, n. 3, p. 300-304, mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2018.12.012.
- Resumo: Este estudo transversal explorou a associação entre o risco de desnutrição, avaliado pela ferramenta MUST, e a prevalência de infecções associadas aos cuidados de saúde (IRAS). Os resultados mostraram que pacientes com alto risco de desnutrição (escore MUST ≥2) tinham uma probabilidade 4,3 vezes maior de ter uma IRAS. A conclusão é que o risco de desnutrição é um preditor significativo para IRAS, destacando a necessidade de estudos prospectivos para investigar a associação temporal e as intervenções mais eficazes.
- GUO, W. et al. Nutritional Risk Screening 2002 as a Predictor of Postoperative Outcomes in Patients Undergoing Abdominal Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. PLoS One, v. 10, n. 7, p. e0132562, 2015. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132562.
- Resumo: Esta meta-análise avaliou a capacidade da ferramenta NRS 2002 em prever desfechos pós-operatórios em pacientes submetidos à cirurgia abdominal. O estudo concluiu que pacientes identificados com risco nutricional pré-operatório (NRS 2002 ≥3) apresentaram taxas significativamente maiores de complicações gerais, mortalidade e um tempo de internação hospitalar mais prolongado. Os achados reforçam o valor do NRS 2002 como uma ferramenta preditiva importante na prática cirúrgica.
- SCHNEIDER, S. M. et al. Malnutrition is an independent factor associated with nosocomial infections. The British Journal of Nutrition, v. 92, n. 1, p. 105-111, jul. 2004. DOI: https://doi.org/10.1079/bjn20041152.
- Resumo: Este estudo prospectivo investigou se a desnutrição, avaliada pelo Índice de Risco Nutricional (NRI), é um fator de risco independente para infecções nosocomiais (IN) em pacientes hospitalizados. A análise multivariada confirmou que a desnutrição é um fator de risco independente para IN, juntamente com idade e imunodeficiência. Os autores concluem que a triagem precoce da desnutrição pode ser útil para reduzir a alta prevalência de IN.
- WAITZBERG, D. L.; CAIAFFA, W. T.; CORREIA, M. I. T. D. Hospital malnutrition: the Brazilian national survey (IBRANUTRI): a study of 4000 patients. Nutrition, v. 17, n. 7-8, p. 573-580, jul./ago. 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/s0899-9007(01)00573-1.
- Resumo: Este estudo multicêntrico, conhecido como IBRANUTRI, foi o primeiro inquérito nacional sobre desnutrição hospitalar no Brasil, avaliando 4.000 pacientes. O estudo encontrou uma alta prevalência de desnutrição (48,1%), que piorava com o tempo de internação. A conclusão principal foi que a desnutrição hospitalar é um problema de saúde pública significativo no Brasil, com baixo nível de conscientização médica e subprescrição de terapia nutricional.
- GUPTA, S.; LUBREE, H.; SANGHAVI, S. Compromised Nutritional Status as a Risk Factor for the Incidence of Nosocomial Infections. Cureus, v. 15, n. 10, p. e46502, out. 2023. DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.46502.
- Resumo: Este estudo de coorte investigou o estado nutricional como fator de risco para infecções nosocomiais (IN). Os resultados demonstraram que pacientes desnutridos tiveram uma chance 6,1 vezes maior de adquirir uma IN em comparação com pacientes bem nutridos, estabelecendo o estado nutricional deficiente como um fator de risco independente e significativo. Os autores concluem recomendando a avaliação nutricional precoce na admissão hospitalar como uma estratégia para reduzir a incidência de IN.
- MARIK, P. E.; ZALOGA, G. P. Immunonutrition in High-Risk Surgical Patients: A Systematic Review and Analysis of the Literature. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, v. 34, n. 4, p. 378-386, jul. 2010. DOI: https://doi.org/10.1177/0148607110362692.
- Resumo: Esta meta-análise avaliou o efeito de dietas imunomoduladoras (IMDs) em pacientes cirúrgicos de alto risco. O estudo concluiu que a imunonutrição, especificamente com fórmulas contendo arginina e óleo de peixe, reduziu significativamente o risco de infecções, complicações de feridas e o tempo de internação, sem impactar a mortalidade. Os autores recomendam considerar o uso de IMDs em todos os pacientes de alto risco submetidos a cirurgias de grande porte.
- UNNO, Y. et al. Acinetobacter baumannii Lipopolysaccharide Influences Adipokine Expression in 3T3-L1 Adipocytes. Mediators of Inflammation, v. 2017, p. 9039302, 2017. DOI: https://doi.org/10.1155/2017/9039302.
- Resumo: Este estudo investigou os efeitos do lipopolissacarídeo (LPS) de Acinetobacter baumannii em adipócitos. Os resultados mostraram que o LPS induziu a expressão de citocinas inflamatórias e alterou a secreção de adipocinas. A conclusão reforça a hipótese de que a infecção por A. baumannii em pacientes obesos pode estar associada a um risco aumentado de eventos sépticos futuros, devido à capacidade do LPS de impactar diretamente a função inflamatória do tecido adiposo.
- VERAS, V. S.; FORTES, R. C. Prevalência de desnutrição ou risco nutricional em pacientes cirúrgicos hospitalizados. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, v. 13, n. 3, 2014. Link: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/Prevalencia_de_desnutricao_ou_risco.pdf.
- Resumo: Esta revisão de literatura investigou a prevalência de desnutrição e risco nutricional em pacientes cirúrgicos hospitalizados. O estudo concluiu que há uma alta prevalência de comprometimento do estado nutricional nesta população (variando de 6% a 87% nos estudos analisados), o que impacta negativamente o prognóstico. Os autores enfatizam a necessidade de implementar estratégias nutricionais para melhorar o estado nutricional e reduzir a morbimortalidade e o tempo de internação.
- SILVA, A. F.; PAZ, F. A. N.; CARVALHO, T. M. Imunonutrição no Tratamento de Pacientes Críticos: Uma Revisão Integrativa. Saúde em Foco, v. 4, n. 1, p. 7, 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.12819/rsf.2017.4.1.7.
- Resumo: Esta revisão integrativa analisou a produção científica sobre a contribuição da imunonutrição para a recuperação de pacientes críticos. O estudo concluiu que o uso de nutrientes imunomoduladores em terapias nutricionais demonstra efeitos benéficos, modulando os processos imunológicos, metabólicos e inflamatórios. A imunonutrição mostrou-se determinante na melhora do prognóstico e na redução do tempo de internação hospitalar.
- INSTITUTO CCIH. Imunidade em xeque: por que os anticorpos falham na prevenção da infecção hospitalar? CCIH Cursos, 8 set. 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/imunidade-em-xeque-por-que-os-anticorpos-falham-na-prevencao-da-infeccao-hospitalar/.
- Resumo: Este artigo discute por que as defesas humorais falham em prevenir IRAS, especialmente em pacientes críticos e imunocomprometidos. O texto propõe a expansão do conceito de Antibiotic Stewardship para o de Imuno-Stewardship, que foca em proteger e fortalecer a imunidade do paciente através de estratégias como nutrição adequada, imunoterapias e vacinação, destacando o papel crucial da equipe multidisciplinar nesse processo.
Autor:
Antonio Tadeu Fernandes:
https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/
https://www.instagram.com/tadeuccih/
#Nutrição #Imunidade #InfecçãoHospitalar #CCIH #SegurançaDoPaciente #ImunoStewardship# Steawardshipnutricional #IRAS
Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação
Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:
MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção
MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização
MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica