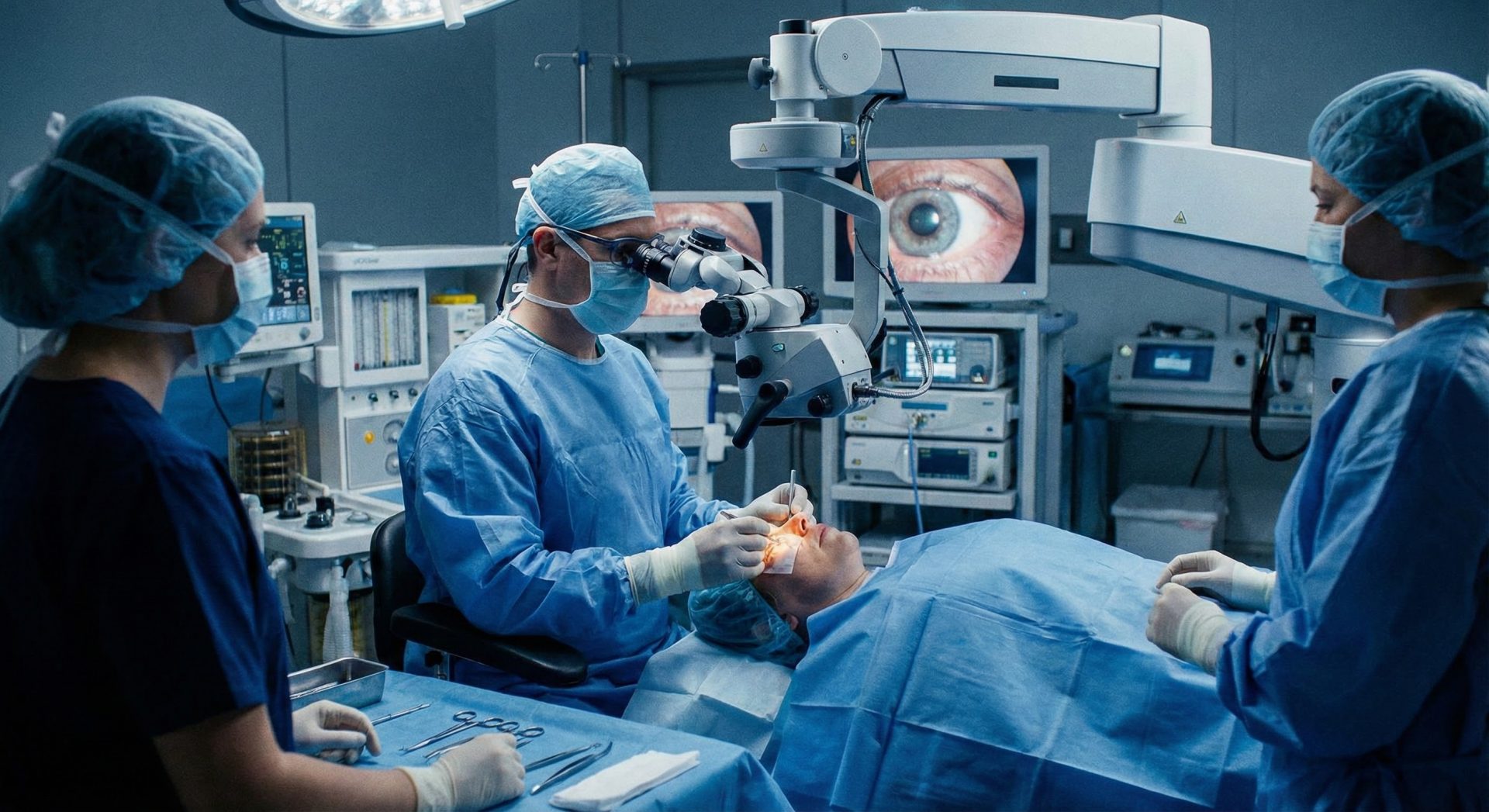Probióticos para prevenção de infecção, promessa ou risco? Vamos aprofundar neste tema?
Os probióticos ganharam espaço nas prateleiras e na imaginação coletiva como soluções naturais e seguras para o cuidado da saúde. Mas será que essa imagem resiste quando levada ao ambiente hospitalar? Em um cenário dominado pela ameaça da resistência antimicrobiana e pelo desafio das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), a discussão sobre probióticos deixa de ser moda e se torna questão estratégica. O artigo analisa criticamente as evidências, desmonta mitos e alerta sobre riscos que muitas vezes passam despercebidos — oferecendo um guia essencial para profissionais que atuam no controle de infecção e na gestão hospitalar.
FAQ — Probióticos no Hospital: Promessa Terapêutica ou Risco Oculto?
1) Do que trata o artigo?
Resposta:
O texto aborda a complexidade do uso de probióticos em ambiente hospitalar, destacando a disparidade entre chancelas mercadológicas e evidência científica. Analisa mitos, riscos e o panorama atual, com atenção especial à prevenção da infecção por C. difficile e à vulnerabilidade de pacientes graves. Leia na íntegra: Probióticos no Hospital: Promessa Terapêutica ou Risco Oculto?.
(ccih.med.br)
2) Quais são as promessas terapêuticas mais bem sustentadas até agora?
Resposta:
Prevenção da infecção por C. difficile: meta-análises (Cochrane e IPD-MA) revelam redução de risco de aproximadamente 65% com probióticos específicos — como Saccharomyces boulardii ou combinação de L. acidophilus + L. casei — em ambientes de risco elevado (incidência >5%) (CCIH Cursos).
Enterocolite Necrosante (ECN) em prematuros: evidência moderada a forte indica redução de mortalidade e incidência (CCIH Cursos).
3) Quais riscos ocultos o artigo destaca?
Resposta:
O risco aumenta em pacientes vulneráveis — principalmente os imunocomprometidos, críticos, prematuros, usuários de cateter central ou com barreira intestinal comprometida. Há relatos sérios: fungemia por Saccharomyces boulardii e sepses ligadas a probióticos (CCIH Cursos).
Exemplo dramático: o ensaio PROPATRIA (pancreatite aguda grave) mostrou mortalidade de 16% no grupo com probióticos versus 6% no controle, atribuída à isquemia intestinal (CCIH Cursos).
4) E quanto à regulação e qualidade dos produtos?
Resposta:
Nos EUA, nenhum probiótico é aprovado pelo FDA para tratamento ou prevenção de doença; muitos produtos apresentam discrepância entre o rótulo e o conteúdo, com falhas na contagem de organismos ou cepas incorretas (CCIH Cursos). Isso torna impróprio considerar a designação “Generally Recognized as Safe (GRAS)” como sinônimo de segurança clínica em pacientes hospitalizados.
5) Existe evidência beneficente em outras áreas clínicas?
Resposta:
Alguns benefícios foram sugeridos em cenários como:
- Diarréia associada a antibióticos em crianças, com número necessário para tratar (NNT) ≈ 10 — principalmente com L. rhamnosus GG ou S. boulardii (CCIH Cursos).
- Infecções pós-operatórias (SIS, ITU): meta-análises com probióticos ou simbióticos apontam redução de ISC e ITU, embora a qualidade da evidência seja baixa (CCIH Cursos).
6) Como devemos usar esta informação na prática hospitalar?
Resposta:
- O uso pode ser considerado com base em avaliação individualizada, apenas em pacientes com alto risco de CDI primária e sem fatores de vulnerabilidade (CCIH Cursos).
- A escolha do produto deve ser altamente específica: cepa, dose e formulação comprovadas em ECR de alta qualidade (CCIH Cursos).
- Em hospitais, essa não deve ser rotina nem base de checklist automático — prevalece o princípio “primum non nocere”.
7) Quais são os caminhos futuros apontados no artigo?
Resposta:
- Desenvolvimento de probióticos de nova geração: cepas geneticamente desenhadas com funções terapêuticas específicas (ex.: destruição de toxinas) (CCIH Cursos).
- Uso de consórcios microbianos definidos (não TMF total) para restauração ecológica segura (CCIH Cursos).
- Limpeza probiótica ambiental (biorevestimentos nos hospitais) como estratégia para controle de IRAS (CCIH Cursos).
- Inserção do conceito de “Microbiome Stewardship”, ao lado do antimicrobial stewardship, como futuro do controle de infecção (CCIH Cursos).
8) O canal TV CCIH (@CCIHCursosMBA) tem vídeo sobre isso?
Resposta:
Ainda não há vídeo específico sobre probióticos. Mas vale checar séries como segurança do paciente, microbioma e resistência microbiana — podem conter conteúdo relevante. Acesse o canal: TV CCIH – YouTube.
9) Para resumir: quando valer a pena considerar probióticos?
Resposta (Checklist prático):
- População: alta incidência local de CDI, pacientes não críticos/imunossuprimidos.
- Produto: cepa e dose com apoio de ECR (ex.: S. boulardii, L. acidophilus + L. casei).
- Risco: evitar em UTIs, neonatologia, imunossuprimidos, barreiras mucosas comprometidas.
- Gestão: monitorar adesão, resultados, eventos adversos e revisar periodicamente.
A Promessa e o Paradoxo dos Probióticos no Cuidado ao Paciente Crítico
No atual cenário da saúde global, marcado pela crescente ameaça da resistência antimicrobiana, a busca por estratégias inovadoras e não-antibióticas para a prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) tornou-se um imperativo clínico e científico (Ref 1). Nesse contexto, a modulação do microbioma intestinal emergiu como uma fronteira promissora, e os probióticos, em particular, capturaram a imaginação de clínicos, pacientes e da indústria, sendo agressivamente promovidos como uma solução natural para a saúde intestinal (Ref 2). Contudo, essa popularidade massiva e a ampla disponibilidade comercial criaram um perigoso paradoxo: de um lado, a promessa de uma intervenção segura e eficaz; do outro, um corpo de evidências científicas que permanece, em grande parte, heterogêneo, metodologicamente desafiador e, por vezes, alarmantemente contraditório (Ref 3, Ref 4).
Este artigo se propõe a navegar por essa complexa paisagem, realizando uma dissecção crítica da evidência atual sobre o uso de probióticos na prevenção de infecções hospitalares, com foco em cenários de alta relevância como a diarreia associada ao Clostridioides difficile. O objetivo é separar o fato da ficção, analisar os riscos frequentemente subestimados e guiar os profissionais de saúde, especialmente aqueles dedicados ao controle de infecção, na tomada de decisões informadas e seguras. Ao final, delineia-se uma visão de futuro que transcende a simples suplementação, apontando para uma era de “Microbiome Stewardship” – a gestão consciente do ecossistema microbiano do paciente como pilar fundamental da segurança e do cuidado.
Seção 1: O Panorama Atual: Relevância e Fundamentos Científicos
1.1. Principal Achado: O Grande Hiato entre Mercado e Evidência
O principal e mais contundente achado ao se analisar o campo dos probióticos é a dissonância fundamental entre sua onipresença no mercado e a robustez da evidência clínica que suporta seu uso terapêutico. Globalmente, milhões de indivíduos consomem probióticos diariamente, seja em alimentos funcionais ou como suplementos dietéticos (Ref 2). No entanto, nos Estados Unidos, por exemplo, não há um único probiótico aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para a prevenção ou tratamento de qualquer doença (Ref 2). Essa lacuna é agravada por uma preocupante falta de padronização e controle de qualidade na indústria. Estudos de verificação revelam que pelo menos 30% dos produtos probióticos comercializados apresentam discrepâncias significativas entre o rótulo e o conteúdo real, incluindo a contagem de organismos viáveis, as cepas presentes e, em alguns casos, a utilização de nomes taxonômicos incorretos ou fictícios (Ref 2).
Essa ausência de supervisão regulatória rigorosa, que não exige padrões mínimos de fabricação, cria um ambiente de incerteza que compromete tanto a pesquisa quanto a prática clínica (Ref 3). A situação configura um paradoxo regulatório notável: muitos probióticos recebem o status GRAS (“Generally Recognized as Safe”), uma designação baseada no histórico de uso seguro em alimentos consumidos pela população geral saudável (Ref 3). No entanto, o ambiente fisiológico de um paciente hospitalizado, especialmente em uma unidade de terapia intensiva, é radicalmente diferente, caracterizado por barreiras mucosas comprometidas, imunossupressão e polifarmácia (Ref 5). A aplicação de um padrão de segurança alimentar a uma intervenção com intenção terapêutica em uma população de alta vulnerabilidade é, no mínimo, problemática. O que é “seguro” em um iogurte para um indivíduo saudável não se traduz automaticamente em “seguro” para um paciente crítico, um ponto cego regulatório que tem implicações diretas na segurança do paciente.
1.2. Importância do Tema: A Nova Fronteira do Controle de Infecção
A relevância da discussão sobre probióticos transcende o debate sobre um único produto; ela serve como um portal para a compreensão da nova fronteira do controle de infecções: o microbioma humano. É hoje inquestionável que a disbiose intestinal – a perturbação do equilíbrio ecológico da microbiota – é um fator de risco primário para a colonização e subsequente infecção por patógenos oportunistas e multirresistentes, incluindo Clostridioides difficile, enterococos resistentes à vancomicina (VRE) e bacilos Gram-negativos produtores de carbapenemases (Ref 6, Ref 7, Ref 8). Essa disbiose é frequentemente iatrogênica, induzida por intervenções onipresentes no ambiente hospitalar, como a administração de antibióticos de amplo espectro, inibidores de bomba de prótons e outros medicamentos (Ref 5).
Nesse contexto, a modulação da microbiota deixa de ser uma curiosidade acadêmica e se torna um pilar estratégico para a prevenção de IRAS (Ref 6, Ref 9). A integridade do ecossistema microbiano confere uma defesa robusta conhecida como “resistência à colonização”, a primeira e mais formidável barreira contra invasores patogênicos (Ref 5). A falha dessa barreira é o evento inicial que permite a proliferação de patógenos. Portanto, a exploração de terapias que visam proteger ou restaurar esse ecossistema, como os probióticos, é de suma importância. Essa discussão nos impulsiona a evoluir do paradigma clássico de “combate ao micróbio” para um conceito mais sofisticado e holístico de “Microbiome Stewardship”: a gestão ativa e consciente do microbioma do paciente como uma estratégia central para a prevenção de infecções (Ref 9).
1.3. O que se Sabia sobre o Tema: Definições e Conceitos Basais
Para uma análise crítica, é essencial partir de definições claras e cientificamente rigorosas, conforme estabelecido por consensos internacionais como o da International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) (Ref 2).
- Probióticos: São definidos como “microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro”. Esta definição possui três componentes cruciais: os organismos devem estar vivos, devem ser administrados em uma dose suficiente para exercer efeito, e o benefício à saúde deve ser clinicamente demonstrado.
- Prebióticos: São “substratos não viáveis que são utilizados seletivamente por microrganismos do hospedeiro e conferem um benefício à saúde”. Diferentemente dos probióticos, eles não são organismos vivos, mas sim “alimentos” para as bactérias benéficas já residentes no intestino.
- Simbióticos: São combinações de probióticos e prebióticos, desenhadas para terem efeitos sinérgicos ou aditivos, onde o prebiótico pode favorecer a sobrevivência e a atividade do probiótico coadministrado.
É fundamental esclarecer que, sob esta definição estrita, outras modalidades de modulação da microbiota não se enquadram como probióticos. O transplante de microbiota fecal (TMF), por exemplo, não é um probiótico, mas sim um transplante de um ecossistema microbiano complexo e indefinido. Da mesma forma, organismos mortos (paraprobióticos) ou seus componentes e metabólitos (pós-bióticos) estão fora da definição clássica, embora também sejam áreas de intensa pesquisa (Ref 2).
1.4. Mecanismos de Ação Propostos: Uma Visão Multifatorial
A plausibilidade biológica do uso de probióticos se baseia em uma série de mecanismos de ação propostos, derivados em grande parte de estudos in vitro e em modelos animais. Embora a relevância clínica de cada um desses mecanismos no hospedeiro humano ainda precise ser mais bem elucidada, eles fornecem um arcabouço teórico para entender seu potencial terapêutico (Ref 10, Ref 5). Os principais mecanismos incluem:
- Resistência à Colonização: Este é o mecanismo mais intuitivo. Os probióticos podem competir diretamente com patógenos por nutrientes essenciais e por sítios de adesão na mucosa epitelial intestinal, fisicamente impedindo que os invasores se estabeleçam.
- Produção de Substâncias Antimicrobianas: Muitas cepas probióticas, especialmente dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, produzem substâncias com atividade antimicrobiana direta. Isso inclui a secreção de bacteriocinas (peptídeos que matam ou inibem bactérias relacionadas) e a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs) através da fermentação de fibras. Os AGCCs, como o butirato, diminuem o pH do lúmen colônico, criando um ambiente hostil para muitos patógenos entéricos.
- Fortalecimento da Barreira Epitelial: Os probióticos podem melhorar a integridade da barreira intestinal, um componente crítico na prevenção da translocação de bactérias e suas toxinas da luz intestinal para a corrente sanguínea. Eles podem fazer isso aumentando a expressão de proteínas de junção oclusiva (tight junctions), como a ocludina e as claudinas, que “selam” o espaço entre as células epiteliais.
- Imunomodulação: Os probióticos interagem de forma complexa com o sistema imune associado ao intestino (GALT), que constitui a maior massa de tecido linfoide do corpo. Essa interação pode modular as respostas imunes. Por exemplo, algumas cepas demonstraram a capacidade de atenuar respostas inflamatórias ao inibir vias de sinalização pró-inflamatórias, como a do fator nuclear kappa B (NF−κB). Outras podem aumentar respostas imunes protetoras, como a produção de imunoglobulina A secretória (sIgA), um anticorpo crucial na defesa da mucosa, ou melhorar a resposta a vacinas.
É crucial ressaltar que esses mecanismos não são universais; eles são altamente específicos para cada cepa. A capacidade de uma cepa de Lactobacillus rhamnosus de modular a resposta imune não pode ser extrapolada para outra cepa do mesmo gênero, muito menos para um Bifidobacterium.
Seção 2: Análise Crítica da Evidência Clínica
A transição da plausibilidade biológica para a prova clínica definitiva é o maior desafio no campo dos probióticos. A literatura científica é vasta, mas sua interpretação exige um olhar crítico sobre a qualidade metodológica dos estudos.
2.1. Metodologia dos Estudos e a Qualidade da Evidência: Um Campo Minado
A avaliação da eficácia dos probióticos é notoriamente complexa devido a uma série de limitações metodológicas que permeiam a literatura (Ref 3):
- Viés e Heterogeneidade: Muitos ensaios clínicos randomizados (ECRs) carecem de poder estatístico para detectar diferenças significativas, especialmente para desfechos com baixa incidência. Além disso, a qualidade metodológica é variável, com alto risco de viés em domínios como a geração da sequência de randomização, o ocultamento da alocação e o cegamento. As meta-análises, embora úteis para agrupar dados, são frequentemente prejudicadas por uma heterogeneidade clínica e estatística substancial. Essa heterogeneidade surge de diferenças nas formulações de probióticos (cepas únicas vs. múltiplas), doses, duração do tratamento, populações de pacientes (adultos, crianças, idosos, pacientes críticos) e definições de desfechos (Ref 3, Ref 11).
- Falta de Padronização e Reprodutibilidade: Uma falha crítica em muitos estudos é a falta de verificação independente do conteúdo e da viabilidade do produto probiótico utilizado. Sem a confirmação de que o produto administrado continha as cepas e as contagens de organismos vivos declaradas, a validade interna e a reprodutibilidade dos achados ficam seriamente comprometidas (Ref 3).
- Generalização Limitada: Muitos ECRs utilizam critérios de inclusão e exclusão muito restritos, resultando em uma população de estudo altamente selecionada que pode não refletir a diversidade de pacientes encontrados na prática clínica diária. Um exemplo notório é o estudo de Hickson et al. sobre a prevenção de diarreia associada a antibióticos, que, apesar de seus resultados positivos, conseguiu randomizar apenas 8% da população de pacientes potencialmente elegível, limitando drasticamente a generalização de suas conclusões (Ref 3).
Essas falhas metodológicas sistêmicas explicam por que, apesar de mais de 19.000 publicações sobre o tema, as diretrizes clínicas permanecem cautelosas e as conclusões, frequentemente controversas (Ref 2, Ref 4).
2.2. Principais Resultados com Significância Estatística: Uma Análise por Condição
Apesar dos desafios, a análise agregada da evidência, especialmente através de revisões sistemáticas rigorosas como as da Colaboração Cochrane, permite delinear um panorama da eficácia dos probióticos para condições específicas. A eficácia não é um conceito monolítico; ela varia drasticamente dependendo da indicação clínica.
Tabela 1: Sumário da Evidência do Uso de Probióticos na Prevenção de Infecções Hospitalares
| Condição Clínica | Nível da Evidência (Fonte) | Principais Achados (Redução de Risco) | Cepas/Formulações Mais Estudadas | Comentários Críticos |
| Prevenção de CDI Primária | Moderada (Cochrane; IPD-MA) (Ref 10, Ref 12) | Redução do risco de CDI. Benefício maior quando o risco basal é >5%. OR ajustado ~0.35 (Ref 12). | Saccharomyces boulardii, combinações de Lactobacillus e Bifidobacterium (e.g., L. acidophilus + L. casei) (Ref 10, Ref 13). | Evidência mais consistente entre as indicações de IRAS. A eficácia pode depender da cepa. Evidência para prevenção de recorrência é insuficiente (Ref 10). |
| Prevenção de DAA (Crianças) | Moderada (Cochrane) (Ref 10) | Efeito protetor na prevenção de DAA (NNT = 10) (Ref 10). | Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii (Ref 10). | Resultados mais consistentes nesta população, embora estudos recentes de alta qualidade em departamentos de emergência não tenham mostrado benefício para gastroenterite aguda (Ref 3). |
| Prevenção de DAA (Adultos) | Baixa a Incerta (Cochrane) (Ref 3) | Dados mistos e incertos. Estudos de grande porte e alta qualidade (e.g., PLACIDE) não encontraram benefício em populações de idosos hospitalizados (Ref 3). | Várias cepas de Lactobacillus, Bifidobacterium e S. boulardii (Ref 3). | A heterogeneidade dos estudos e resultados conflitantes impedem uma recomendação firme. |
| Prevenção de ECN em Prematuros | Moderada a Alta (Cochrane) (Ref 10) | Redução do risco de ECN grave e mortalidade por todas as causas. | Preparações contendo Lactobacillus e/ou Bifidobacterium (Ref 10). | Uma das áreas com evidência mais forte, embora ainda não seja prática padrão em todas as unidades neonatais. |
| Prevenção de PAV | Baixa a Muito Baixa (Cochrane) (Ref 14) | Dados insuficientes para tirar conclusões sobre eficácia e segurança. Alguns estudos sugerem diminuição da incidência de PAV, mas sem impacto na mortalidade (Ref 14). | Várias, incluindo Lactobacillus spp. (Ref 14). | A qualidade da evidência é muito baixa, não suportando o uso rotineiro para esta indicação. |
| Prevenção de ISC e ITU Pós-operatória | Baixa (Meta-análise) (Ref 11) | Sugestão de redução de ISC (RR 0.63) e ITU (RR 0.29) após cirurgia abdominal. | Combinações de probióticos/simbióticos (Ref 11). | Qualidade geral da evidência considerada baixa devido à imprecisão e risco de viés. Necessita de mais estudos robustos. |
CDI: Infecção por Clostridioides difficile; DAA: Diarreia Associada a Antibióticos; ECN: Enterocolite Necrosante; PAV: Pneumonia Associada à Ventilação; ISC: Infecção de Sítio Cirúrgico; ITU: Infecção do Trato Urinário; OR: Odds Ratio; RR: Risco Relativo; NNT: Número Necessário para Tratar; IPD-MA: Meta-análise de Dados Individuais de Pacientes.
2.2.1. Prevenção da Infecção por Clostridioides difficile (CDI): O Cenário Mais Promissor
A prevenção da CDI é, talvez, a área onde a evidência para o uso de probióticos é mais robusta, embora ainda não definitiva. Múltiplas revisões sistemáticas e meta-análises, incluindo uma revisão Cochrane e uma abrangente meta-análise de dados individuais de pacientes (IPD-MA) com quase 7.000 participantes, convergem para uma conclusão semelhante: com evidência de qualidade moderada, os probióticos parecem ser eficazes na prevenção da CDI primária em adultos e crianças recebendo antibioticoterapia (Ref 10, Ref 12). A IPD-MA encontrou uma redução de aproximadamente 65% nas chances de desenvolver CDI no grupo probiótico (odds ratio ajustado de 0.35) (Ref 12). O benefício parece ser mais pronunciado em ambientes de maior risco, especificamente quando a incidência basal de CDI é superior a 5% (Ref 10, Ref 12).
No entanto, mesmo neste cenário mais otimista, a aplicação prática é complexa. Estudos de implementação no mundo real, como um estudo de antes e depois em um grande hospital, mostraram que a adesão ao protocolo de probióticos pode ser muito baixa (apenas 26% dos pacientes elegíveis receberam o produto) e que o benefício na redução da incidência de CDI só foi observado de forma tardia, após seis meses de intervenção (Ref 15). Além disso, a evidência para a prevenção da CDI recorrente permanece insuficiente (Ref 10).
2.2.2. O Imperativo da Especificidade
A análise detalhada dos dados revela um princípio fundamental que deve guiar qualquer discussão sobre probióticos: o “Imperativo da Especificidade”. Falar de “probióticos” como uma classe homogênea de agentes é cientificamente incorreto e clinicamente perigoso. A evidência demonstra que os efeitos são altamente específicos da cepa, da dose, da formulação e da condição clínica. Por exemplo, uma meta-análise encontrou uma diferença estatisticamente significativa na eficácia para prevenção de CDI, favorecendo a combinação de L. acidophilus + L. casei em comparação com L. rhamnosus isoladamente (Ref 13). O debate, portanto, não deve ser “probióticos funcionam?”, mas sim “A cepa X, na dose Y, na população Z, para o desfecho A, possui um perfil de risco-benefício favorável?”. Essa especificidade tem implicações diretas para a prática: uma instituição de saúde não pode simplesmente adicionar “um probiótico” ao seu formulário; a decisão deve ser baseada em ECRs de alta qualidade que utilizaram exatamente aquele produto específico. A generalização de resultados entre produtos, mesmo que contenham espécies do mesmo gênero, não é suportada pela ciência atual (Ref 16).
Seção 3: O Lado Oculto da Intervenção: Riscos, Limitações e Fatores de Confusão
A narrativa popular frequentemente retrata os probióticos como intervenções “naturais” e, portanto, inócuas. A evidência científica, no entanto, pinta um quadro muito mais complexo e preocupante, especialmente quando se considera a administração desses agentes a populações de pacientes vulneráveis.
3.1. Fatores Limitantes e de Confusão: Por que a Certeza é questionável
Como já mencionado, a heterogeneidade dos estudos é um fator limitante primário. No entanto, o maior fator de confusão que impede a tradução da pesquisa para a prática é a caótica falta de padronização e regulação industrial (Ref 3). A ausência de supervisão regulatória rigorosa significa que a qualidade, a pureza, a viabilidade e a composição dos produtos disponíveis comercialmente podem variar enormemente, não apenas entre diferentes fabricantes, mas também entre diferentes lotes do mesmo produto (Ref 2, Ref 3, Ref 4). Isso cria um abismo entre o produto altamente controlado e verificado usado em um ECR e o que está disponível na prateleira da farmácia ou no estoque do hospital. Essa incerteza fundamental sobre a composição do agente que está sendo administrado mina qualquer tentativa de prática baseada em evidências.
3.2. Populações de Risco e o Princípio da Precaução: Primum Non Nocere
Contrariamente à percepção de segurança absoluta, o uso de probióticos não é isento de riscos. Os eventos adversos podem ser categorizados em efeitos colaterais gastrointestinais (geralmente leves e transitórios), atividades metabólicas deletérias e, o mais grave, infecções sistêmicas (Ref 17). O risco de eventos adversos graves é significativamente amplificado em populações de pacientes vulneráveis (Ref 17, Ref 18, Ref 5, Ref 4):
- Pacientes críticos e gravemente enfermos
- Hospedeiros imunocomprometidos (e.g., receptores de transplantes, pacientes em quimioterapia ou uso de corticosteroides)
- Extremos de idade (neonatos prematuros e idosos frágeis)
- Pacientes com cateteres venosos centrais, válvulas cardíacas anormais ou protéticas e outros dispositivos invasivos
- Pacientes com barreira intestinal comprometida (e.g., colite ativa, síndrome do intestino curto, mucosite grave)
Nesses pacientes, a administração de uma alta carga de microrganismos vivos pode levar à translocação bacteriana ou fúngica da luz intestinal para a corrente sanguínea, resultando em bacteremia ou fungemia, com complicações potencialmente fatais como endocardite e sepse (Ref 17, Ref 18). Episódios de fungemia por Saccharomyces boulardii (um subtipo de S. cerevisiae) foram fortemente associados à ingestão deste probiótico (Ref 17).
O exemplo mais dramático e instrutivo dos perigos potenciais é o estudo PROPATRIA (Probiotics in Pancreatitis Trial). Neste ECR multicêntrico, duplo-cego e controlado por placebo, a administração de uma preparação probiótica multiespécies a pacientes com pancreatite aguda grave, com o objetivo de reduzir complicações infecciosas, resultou em um aumento estatisticamente significativo da mortalidade no grupo de tratamento (16% no grupo probiótico vs. 6% no grupo placebo). A causa do excesso de mortes foi atribuída à isquemia intestinal (Ref 19). Este estudo serve como um poderoso lembrete de que intervenções biológicas podem ter consequências não intencionais e devastadoras em populações de alto risco.
A segurança de um probiótico não é uma característica intrínseca do microrganismo, mas sim uma propriedade emergente da interação entre o microrganismo e o estado fisiológico do hospedeiro. Existe um “abismo da vulnerabilidade” que separa a segurança presumida em populações saudáveis do risco real em pacientes hospitalizados. A fisiologia alterada de um paciente crítico – caracterizada por inflamação sistêmica, hipoperfusão esplâncnica e aumento da permeabilidade intestinal (“leaky gut”) – transforma o intestino de uma barreira em uma potencial porta de entrada para infecções sistêmicas. O que era para ser uma terapia adjuvante pode se tornar um fator de risco independente para mortalidade. Este fato exige a aplicação rigorosa do princípio da precaução (primum non nocere – primeiro, não causar dano) na prática clínica. Para agravar o problema, o relato de segurança nos ensaios clínicos é frequentemente inadequado. Uma revisão sistemática de 384 ECRs descobriu que apenas 2% relataram adequadamente os componentes chave de segurança, e um terço não forneceu nenhuma informação sobre danos, deixando os clínicos com dados insuficientes para uma avaliação completa do risco-benefício (Ref 17).
Seção 4: Da Evidência à Prática Clínica: Recomendações e Horizontes Futuros
4.1. Recomendações Atuais e Comentários Adicionais: Uma Abordagem Cautelosa e Baseada em Evidências
Com base na análise crítica da literatura, o uso rotineiro e indiscriminado de probióticos para a prevenção de IRAS em pacientes hospitalizados não pode ser recomendado (Ref 2, Ref 16). A decisão de utilizar um probiótico deve ser uma exceção, não a regra, e deve ser altamente individualizada, baseada em uma avaliação criteriosa do risco-benefício para cada paciente.
- Uso Potencialmente Justificável: A administração de um probiótico pode ser considerada em um cenário muito específico: pacientes adultos ou pediátricos com alto risco de desenvolver CDI primária (e.g., incidência local >5%, uso de múltiplos antibióticos ou de antibióticos de alto risco), desde que o paciente não pertença a nenhum dos grupos de vulnerabilidade para eventos adversos (i.e., não seja criticamente enfermo, imunocomprometido ou tenha outros fatores de risco para translocação). Se a decisão for proceder, a escolha deve recair sobre uma formulação específica (cepa e dose) que tenha demonstrado eficácia e segurança em ECRs de alta qualidade (Ref 12, Ref 10).
- Contraindicação e Precaução: Probióticos devem ser evitados em pacientes imunocomprometidos, criticamente enfermos, com pancreatite, ou com qualquer condição que comprometa a integridade da barreira intestinal ou envolva a presença de dispositivos invasivos como cateteres venosos centrais (Ref 16, Ref 19).
- Diálogo com o Paciente: Dada a percepção pública positiva e o marketing agressivo, é fundamental que os clínicos assumam um papel educativo, discutindo abertamente com os pacientes e seus familiares as incertezas científicas, os potenciais riscos e a falta de padronização dos produtos disponíveis (Ref 2, Ref 16).
4.2. O Futuro é Microbiano: Rumo ao “Microbiome Stewardship”
A discussão sobre probióticos, com todas as suas complexidades e controvérsias, é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira revolução no controle de infecções reside na mudança de um paradigma focado exclusivamente no patógeno para um que abraça a ecologia microbiana (Ref 6, Ref 9). O futuro da prevenção de IRAS não está em encontrar uma “pílula mágica” probiótica, mas em desenvolver uma abordagem sofisticada de “Microbiome Stewardship”.
Essa abordagem é subvertida por achados recentes e disruptivos. A premissa fundamental para o uso de probióticos após a antibioticoterapia é a de “restaurar” a flora intestinal. No entanto, pesquisas de ponta demonstraram que, em humanos, a administração de probióticos após um curso de antibióticos pode, na verdade, atrasar e impedir o retorno do microbioma nativo ao seu estado original. O probiótico, agindo como uma espécie invasora, compete com os membros comensais originais que tentam se restabelecer. Em contraste, o TMF autólogo (a reinfusão da própria microbiota do paciente, coletada antes do tratamento) demonstrou acelerar a recuperação ecológica completa (Ref 16). Esta descoberta desafia a lógica central por trás do uso empírico de probióticos e aponta para a necessidade de estratégias de restauração ecológica mais sofisticadas e guiadas.
Os horizontes futuros nesta área são vastos e inspiradores:
- Probióticos de Nova Geração: O desenvolvimento de cepas com mecanismos de ação precisamente elucidados, ou mesmo microrganismos comensais geneticamente modificados para realizar funções específicas, como a degradação de toxinas ou a produção de moléculas anti-inflamatórias (Ref 16).
- Consórcios Microbianos Definidos: Em vez de um TMF indefinido, a administração de “coquetéis” de cepas bacterianas comensais, cultivadas em laboratório e com composição conhecida, para restaurar a resistência à colonização de forma mais segura e reprodutível (Ref 16).
- Aplicações Ambientais: A exploração de probióticos não apenas no paciente, mas no ambiente hospitalar. Sistemas de limpeza baseados em probióticos (e.g., esporos de Bacillus) mostraram potencial para reduzir de forma estável a carga de patógenos em superfícies, correlacionando-se com uma redução nas taxas de IRAS (Ref 1).
Podemos dizer que o controle de infecção do século XXI integrará a ecologia microbiana como um de seus pilares. O “Microbiome Stewardship” se tornará tão central quanto o “Antimicrobial Stewardship”, exigindo uma abordagem holística que considere o impacto da nutrição, o uso criterioso de todos os fármacos e o desenvolvimento de novas bioterapias para proteger e, quando necessário, restaurar o ecossistema microbiano do paciente – nossa primeira, mais antiga e mais importante linha de defesa contra infecções (Ref 6, Ref 5).
5. Conclusão
O debate sobre probióticos no hospital é mais do que uma escolha terapêutica: é um teste da nossa capacidade de alinhar ciência, segurança e gestão responsável. Embora haja evidência promissora para situações específicas, como a prevenção de Clostridioides difficile em pacientes de alto risco, os riscos em populações vulneráveis (como críticos e imunocomprometidos) não podem ser ignorados. O caminho não é a adoção indiscriminada, mas sim a construção de uma abordagem baseada em evidências sólidas e no conceito de “Microbiome Stewardship” — a gestão ativa e consciente do ecossistema microbiano do paciente como pilar do controle de infecções. Mais do que nunca, a máxima “primum non nocere” precisa guiar nossas escolhas.
6. Referências bibliográficas
- CASSETTA, M. I. et al. Probiotic-Based Cleaning Solutions: From Research Hypothesis to Infection Control Applications. Microorganisms, v. 12, n. 6, p. 1195, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms12061195.
- Resumo: Este artigo de revisão avalia a evidência clínica e experimental sobre o uso de soluções de limpeza baseadas em probióticos como uma alternativa aos desinfetantes tradicionais no ambiente de saúde. Os dados emergentes são encorajadores, mostrando redução na contagem de patógenos em superfícies e sugerindo que essa abordagem pode ser considerada para o controle de infecções hospitalares, embora mais estudos sobre eficácia e segurança a longo prazo sejam necessários.
- CHEN, L. A.; SEARS, C. L. Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2020. cap. 3.
- Resumo: Este capítulo de livro-texto fornece uma visão geral abrangente sobre prebióticos, probióticos e simbióticos. Aborda definições, problemas de qualidade e regulação dos produtos comerciais, mecanismos de ação propostos e uma revisão crítica dos ensaios clínicos, destacando a falta de evidências robustas para a maioria das alegações de saúde e a necessidade de cautela.
- CHEN, L. A.; SEARS, C. L. Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2020. cap. 3.
- Resumo: Este capítulo discute as limitações e vieses dos estudos clínicos sobre probióticos, como a falta de poder estatístico, a heterogeneidade dos ensaios e a falta de padronização dos produtos. Apresenta uma análise crítica das revisões Cochrane e de ensaios clínicos randomizados importantes, como o estudo PLACIDE, que não encontrou benefício em idosos hospitalizados.
- MEDSHADOW FOUNDATION. The Pros & Cons of Probiotics. MedShadow, 2021. Disponível em: https://medshadow.org/pros-and-cons-of-probiotics/.
- Resumo: Este artigo de jornalismo de saúde independente resume os prós e contras do uso de probióticos, citando especialistas e estudos. Destaca a falta de regulamentação pela FDA, os riscos potenciais em populações imunocomprometidas e a insuficiência de evidências para muitas condições, ao mesmo tempo que reconhece o suporte de algumas evidências para a prevenção da diarreia associada a antibióticos.
- VITKO, H. A.; TROXELL, J. J. Probiotics in the critical care unit: fad, fact, or fiction? Journal of Emergency and Critical Care Medicine, v. 2, p. 104, 2018. DOI: https://doi.org/10.21037/jeccm.2018.11.02.
- Resumo: Esta revisão narrativa explora o uso de probióticos na UTI. Discute como a doença crítica leva à disbiose e o potencial dos probióticos para prevenir IRAS como PAV e CDI. Contrapõe os benefícios potenciais com os riscos de segurança significativos, como bacteremia e fungemia, especialmente em pacientes vulneráveis, e a falta de regulamentação rigorosa.
- CCIH.MED.BR. Microbioma Humano: A Nova Fronteira no Controle de Infecções Hospitalares. CCIH Cursos, 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/microbioma-humano-a-nova-fronteira-no-controle-de-infeccoes-hospitalares/.
- Resumo: Este artigo do site CCIH.med.br propõe uma mudança de paradigma no controle de infecções, da erradicação de patógenos para a gestão do ecossistema microbiano do paciente. Introduz o conceito de “Microbiome Stewardship” e discute como a manutenção de um microbioma saudável é crucial para a prevenção de IRAS.
- ZAWADZKA, K. et al. The Role of Probiotics in the Prevention of Clostridioides difficile Infection in Patients with Chronic Kidney Disease. Journal of Clinical Medicine, v. 13, n. 5, p. 1478, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/jcm13051478.
- Resumo: A revisão foca na alta incidência e gravidade da infecção por C. difficile (CDI) em pacientes com doença renal crônica. Discute a disbiose como principal fator de risco e analisa o potencial dos probióticos para restaurar a microbiota intestinal e prevenir a CDI nesta população vulnerável, embora reconheça que os resultados dos estudos clínicos são inconclusivos.
- MAVROMMATI, D. et al. Healthcare-Associated Infections: The Role of Microbial and Environmental Factors in Infection Control—A Narrative Review. International Journal of Molecular Sciences, v. 25, n. 9, p. 4988, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms25094988.
- Resumo: Esta revisão aborda a prevalência, fatores de risco e estratégias de controle para IRAS. Destaca intervenções baseadas no microbioma, como o transplante de microbiota fecal e a terapia com probióticos, como estratégias promissoras que se mostraram eficazes contra CDI recorrente e na redução da incidência de IRAS em pacientes hospitalizados sob antibioticoterapia.
- CCIH.MED.BR. Microbioma Humano: A Nova Fronteira no Controle de Infecções Hospitalares. CCIH Cursos, 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/microbioma-humano-a-nova-fronteira-no-controle-de-infeccoes-hospitalares/.
- Resumo: O artigo aprofunda o conceito de “Microbiome Stewardship”, defendendo que ele deve ir além do uso criterioso de antibióticos para incluir a atenção ao impacto da nutrição, de medicamentos não antibióticos e de procedimentos que afetam o microbioma. Discute o uso de probióticos de nova geração e a limpeza probiótica ambiental como estratégias futuras.
- CHEN, L. A.; SEARS, C. L. Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2020. cap. 3.
- Resumo: O capítulo resume as conclusões de revisões sistemáticas da Cochrane sobre a eficácia dos probióticos em doenças infecciosas. Aponta que os probióticos podem encurtar a duração da diarreia infecciosa aguda, prevenir a DAA em crianças e a CDI em adultos e crianças, e prevenir a enterocolite necrosante em prematuros, mas a qualidade da evidência varia de moderada a baixa para a maioria das indicações.
- KASAT, P. et al. Probiotics and synbiotics for the prevention of postoperative infections following abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Hospital Infection, v. 92, n. 2, p. 144-155, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2015.08.028.
- Resumo: Esta meta-análise sugere que probióticos/simbióticos reduzem infecções de sítio cirúrgico e infecções do trato urinário após cirurgias abdominais, sem evidência de risco à segurança. No entanto, a qualidade geral da evidência foi classificada como baixa, principalmente devido à imprecisão, indicando a necessidade de ensaios maiores.
- JOHNSTON, B. C. et al. Microbial preparations (probiotics) for the prevention of Clostridium difficile infection in adults and children: an individual patient data meta-analysis of 6,851 participants. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 39, n. 7, p. 771-781, 2018. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2018.84.
- Resumo: Esta robusta meta-análise de dados individuais de pacientes conclui que há evidência de qualidade moderada de que a profilaxia com probióticos é uma estratégia segura e útil para prevenir a CDI em adultos e crianças, especialmente em ambientes hospitalares onde o risco de CDI é de 5% ou mais e em pacientes que tomam dois ou mais antibióticos.
- GOLDENBERG, J. Z. et al. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews, n. 12, art. CD006095, 2017. DOI:(https://doi.org/10.1002/14651858.CD006095.pub4).
- Resumo: Esta revisão sistemática da Cochrane encontrou evidências de qualidade moderada de que os probióticos são eficazes para prevenir a diarreia associada ao C. difficile. A análise de subgrupos sugere que diferentes espécies e doses podem ter efeitos variados, mas não foi possível identificar claramente a formulação ideal.
- CHEN, L. A.; SEARS, C. L. Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2020. cap. 3.
- Resumo: O capítulo analisa a evidência para o uso de probióticos em infecções do trato urinário, saúde reprodutiva e doenças respiratórias. Conclui que, para a maioria dessas indicações, incluindo a prevenção de pneumonia associada à ventilação (PAV), os estudos são pequenos, de baixa qualidade e com alto risco de viés, não fornecendo evidências suficientes para apoiar o uso clínico.
- WANG, Z. et al. Effectiveness of Probiotic for Primary Prevention of Clostridium difficile Infection: A Single-Center Before-and-After Quality Improvement Intervention at a Tertiary-Care Medical Center. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 39, n. 7, p. 800-805, 2018. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2018.76.
- Resumo: Este estudo de implementação no mundo real avaliou uma política hospitalar de prescrição de probióticos para prevenir CDI. Apesar da baixa adesão ao protocolo (26%), observou-se uma redução tardia na incidência de CDI após 6 meses de intervenção, sugerindo um possível benefício, mas destacando os desafios práticos da implementação.
- CHEN, L. A.; SEARS, C. L. Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2020. cap. 3.
- Resumo: Esta seção final do capítulo discute as direções futuras, incluindo o debate sobre se os efeitos dos probióticos são específicos da cepa ou da classe. Cita pesquisas de ponta (Suez et al., Cell, 2018) que mostram que os probióticos podem retardar a reconstituição do microbioma pós-antibiótico, e discute o potencial de probióticos de nova geração e TMF autólogo.
- CHEN, L. A.; SEARS, C. L. Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2020. cap. 3.
- Resumo: O capítulo detalha os potenciais efeitos adversos da terapia com probióticos, classificando-os em efeitos colaterais gastrointestinais, infecções sistêmicas e atividades metabólicas deletérias. Enfatiza a falta de dados de segurança robustos e a inadequação dos relatos de danos em ensaios clínicos, citando uma revisão sistemática que encontrou que apenas 2% dos ensaios relataram adequadamente os componentes de segurança.
- CHEN, L. A.; SEARS, C. L. Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2020. cap. 3.
- Resumo: Esta seção do capítulo lista especificamente as populações consideradas em risco de danos pela ingestão de probióticos, incluindo gestantes, neonatos prematuros, idosos, pacientes hospitalizados, imunocomprometidos, pacientes com doença cardíaca estrutural, e pacientes criticamente enfermos. Fornece uma tabela detalhada dessas populações de risco.
- CHEN, L. A.; SEARS, C. L. Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2020. cap. 3.
- Resumo: O capítulo descreve em detalhes o estudo PROPATRIA, um ensaio clínico randomizado que levantou sérias preocupações sobre a segurança dos probióticos. A administração de uma preparação probiótica em pacientes com pancreatite aguda grave resultou em um aumento significativo da mortalidade (16% vs. 6%) devido à isquemia intestinal, servindo como um exemplo paradigmático de efeitos metabólicos deletérios.
Autor:
Antonio Tadeu Fernandes:
https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/
https://www.instagram.com/tadeuccih/
#ControleDeInfecção #SegurançaDoPaciente #Probióticos #IRAS #Microbioma #CDifficile #MedicinaBaseadaEmEvidências #Stewardship
Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação
Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:
MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção
MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização
MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica