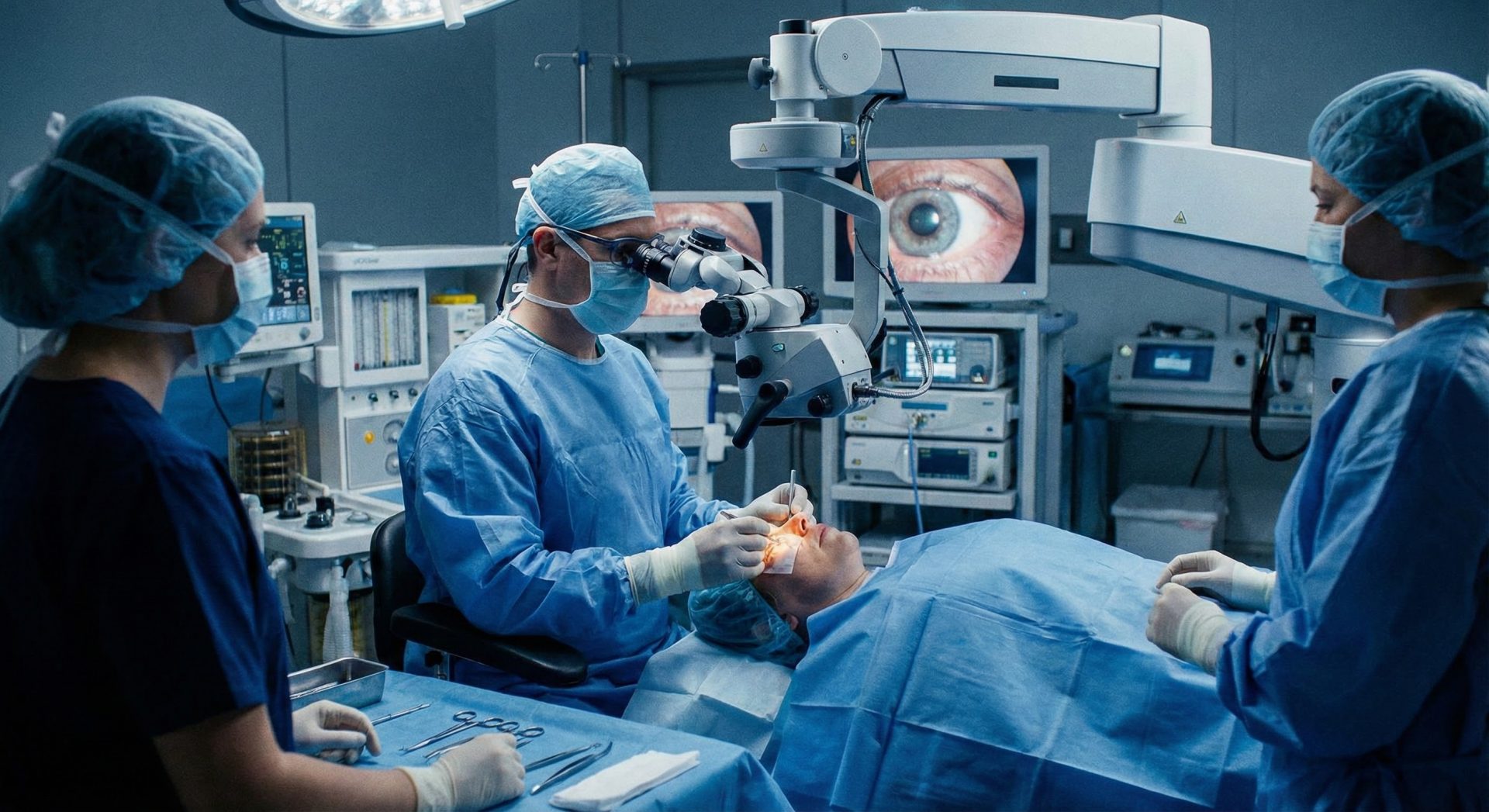Entender o microbioma humano e sua interface com as IRAS é a nova fronteira do controle de infecção, que pode mudar muitos paradigmas estabelecidos pelos controladores de infecção, neste artigo que apresenta possíveis implicações desse conhecimento, agora comprovado por metagenômica.
Você sabia que o maior aliado — ou inimigo — no combate às infecções hospitalares pode não estar no ambiente, mas dentro do próprio paciente?
O artigo “Microbioma Humano: A Nova Fronteira no Controle de Infecções Hospitalares” revela como a disbiose, frequentemente induzida por antibióticos e pelo ambiente hospitalar, abre caminho para patógenos oportunistas como Clostridioides difficile, MRSA e Enterobactérias resistentes a carbapenêmicos.
Trata-se de uma mudança radical de paradigma: sair da visão clássica de “combate ao micróbio invasor” para uma gestão do ecossistema interno do paciente.
FAQ — Microbioma Humano: A Nova Fronteira no Controle de Infecções Hospitalares
1) Qual a grande proposta do artigo?
Resposta:
O artigo apresenta uma mudança de paradigma: em vez de focar apenas no “invasor externo”, propõe proteger o ecossistema interno do paciente, ou seja, o microbioma humano, como estratégia para prevenir infecções hospitalares. Veja o texto completo no Instituto CCIH+: Microbioma Humano: A Nova Fronteira no Controle de Infecções Hospitalares.
(ccih.med.br)
2) O que são eubiose e disbiose?
Resposta:
- Eubiose: equilíbrio saudável do microbioma, com diversidade e funções protetoras.
- Disbiose: desequilíbrio, com perda de comensais e supercrescimento de patógenos, aumentando o risco de IRAS.
Conceito bem explicado na revisão sobre microbioma humano: Wikipedia – Microbioma Humano.
(pt.wikipedia.org)
3) Como a disbiose facilita infecções hospitalares?
Resposta:
A disbiose diminui a resistência à colonização, permitindo patógenos como C. difficile, MRSA e Enterobactérias resistentes se proliferarem. Estudos mostram que antibióticos de amplo espectro reduzem drasticamente a diversidade microbiana, favorecendo essas infecções.
Referência técnica complementar: revisão sistemática recente sobre microbioma e IRAS (CCIH Cursos).
4) Como esse tema dialoga com antimicrobial stewardship?
Resposta:
O artigo propõe um novo conceito: Microbioma Stewardship, que vai além da prescrição criteriosa de antibióticos. Inclui atenção ao impacto da nutrição, medicamentos não-antibióticos e procedimentos que afetam o microbioma. Isso amplia a visão dos programas de antimicrobial stewardship.
Referência geral: Wikipedia – Antimicrobial stewardship (CCIH Cursos).
5) Quais implicações práticas surgem desse novo paradigma?
Resposta:
- Implementar sequenciamento metagenômico para vigilância de surtos.
- Reavaliar práticas rotineiras (como banhos com clorexidina, antissepsia cirúrgica e desinfecção ambiental).
- Fortalecer a resistência à colonização através de suporte nutricional e modulação do microbioma.
Estudo clínico destaca segurança de álcool antisséptico para o microbioma das mãos: (CCIH Cursos).
6) Quais intervenções terapêuticas estão emergindo?
Resposta:
- Transplante de microbiota fecal (TMF) aprovado para CDI recorrente.
- Desenvolvimento de probióticos de nova geração, consórcios microbianos definidos e limpeza probiótica ambiental (PCHS) para reduzir patógenos e resistência.
Revista sobre PCHS: (CCIH Cursos).
7) Que barreiras ainda existem para aplicar esse conhecimento na prática?
Resposta:
- Evidência ainda limitada de causalidade (e não apenas correlação).
- Alta variabilidade individual torna difícil definir padrão universal.
- Técnicas de metagenômica ainda têm limitações (não distinguem microrganismos vivos/mortos).
- Poucos ensaios clínicos robustos, custo elevado, necessidade de capacitação técnica.
O artigo critica essas lacunas de implementação (CCIH Cursos).
8) Qual o impacto do microbioma pulmonar na PAV?
Resposta:
A ventilação mecânica altera a flora pulmonar, reduz diversidade e permite proliferação de patógenos como Pseudomonas e Enterobacteriaceae. Essa disbiose é chave na fisiopatologia da pneumonia associada à ventilação (PAV).
Revisão sistemática recente: (CCIH Cursos).
9) Resumo prático para a equipe CCIH
Resposta:
- Trate o paciente como ecossistema, não como alvo isolado.
- Microbiome stewardship deve ser parte das políticas de prevenção.
- Apoie monitoramento genômico e intervenções de modulação do microbioma.
- Reflita sobre práticas atuais sob perspectiva ecológica antes de seguir automatismos.
Mensagem final do artigo: sem microecologia, não há controle de infecção sustentável (CCIH Cursos).
Introdução: A Ecologia Invisível que Define o Risco Infeccioso
O corpo humano não é uma entidade estéril a ser defendida de um mundo microbiano hostil, mas sim um ecossistema complexo e dinâmico, densamente povoado por trilhões de microrganismos. Esta vasta comunidade, composta por bactérias, fungos, vírus e arqueias, constitui o microbioma humano, uma fronteira biológica cuja importância para a saúde e a doença está apenas começando a ser desvendada (Ref. 1). O principal achado que emerge de décadas de pesquisa, acelerada por avanços genômicos, é que a estabilidade e a diversidade deste ecossistema interno são fundamentais para a saúde. A sua perturbação — um estado conhecido como disbiose — representa um dos principais, e talvez mais subestimados, fatores de risco para a aquisição de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).
A importância deste tema para o controle de infecção hospitalar é monumental. Em uma era definida pela ascensão de organismos multirresistentes (MDROs) e pela crescente limitação do nosso arsenal terapêutico, a compreensão do microbioma oferece um novo paradigma (Ref. 2, 3). As medidas tradicionais de controle de infecção, focadas primariamente na erradicação de patógenos do ambiente externo e na eliminação de patógenos do paciente, embora indispensáveis, mostram-se insuficientes. O ambiente hospitalar, por sua natureza, atua como um catalisador que transforma acidentes de baixa probabilidade em certezas clínicas de alta frequência, ao concentrar sistematicamente os dois ingredientes essenciais para a infecção: um reservatório de patógenos oportunistas e uma população de hospedeiros altamente suscetíveis (Ref. 37). A suscetibilidade, como agora entendemos, não é apenas uma função da imunidade do hospedeiro, mas também da integridade de seu microbioma.
Este artigo propõe uma análise aprofundada da interação entre o microbioma humano e as IRAS, adotando uma perspectiva crítica e curiosa. A análise transita da “Teoria dos Germes”, que postula que um patógeno específico causa uma doença específica, para uma “Teoria Ecológica da Infecção”, na qual a doença emerge da desestabilização de um ecossistema complexo. As IRAS, sob esta nova ótica, são menos o resultado de uma simples invasão e mais uma exploração oportunista de um ambiente interno comprometido. Exploraremos os fundamentos do microbioma, as metodologias que revolucionaram seu estudo, os mecanismos pelos quais a disbiose induzida pelo ambiente hospitalar cria uma janela de oportunidade para patógenos, e as implicações práticas e futuras desta nova ciência para a epidemiologia hospitalar e a prevenção de infecções. Este tema de maneira hipotética foi introduzindo em nosso livro “Infecção Hospitalar e suas Interfaces na Área da Saúde”, que considera as IRAS como decorrentes do desequilíbrio ecológico de nosso microbioma com nossos mecanismos de defesa, dentro de um conceito ecológico das infecções.
O Paradigma do Microbioma: O Que Sabíamos e o Que a Genômica Revelou
A nossa compreensão do mundo microbiano foi historicamente moldada pelas limitações das nossas ferramentas. Por mais de um século, a microbiologia clínica dependeu quase exclusivamente de técnicas de cultura, um método que, embora fundamental, oferece uma visão profundamente enviesada da realidade. Esta abordagem levou à crença de que muitos sítios do corpo, como os pulmões e a bexiga, eram estéreis em estado de saúde (Ref. 1, 3, 4). As bactérias que não cresciam facilmente em placas de ágar eram, para todos os efeitos, invisíveis. Mesmo as descobertas pioneiras, como a de Gustav Döderlein em 1892, que identificou a dominância de Lactobacillus na microbiota vaginal, representavam apenas a ponta de um iceberg taxonômico (Ref. 1).
A verdadeira revolução metodológica ocorreu com o advento das técnicas moleculares independentes de cultura, que permitiram aos cientistas contornar a necessidade de cultivar microrganismos para identificá-los. O sequenciamento do gene que codifica a subunidade 16S do RNA ribossômico (rRNA 16S) tornou-se uma ferramenta padrão para o censo taxonômico de comunidades bacterianas. Por ser um gene presente em todas as bactérias, com regiões conservadas (permitindo o uso de primers universais) e regiões variáveis (permitindo a diferenciação entre táxons), o sequenciamento do rRNA 16S forneceu o primeiro vislumbre da imensa diversidade oculta do microbioma (Ref. 1, 9). Posteriormente, técnicas mais abrangentes como o sequenciamento de metagenoma completo (whole-metagenome shotgun sequencing) não apenas identificaram “quem está lá”, mas também “o que eles podem fazer”, ao sequenciar todo o material genético de uma amostra e revelar o potencial funcional da comunidade (Ref. 1, 5).
Esta mudança metodológica foi transformadora, pois alterou fundamentalmente as perguntas que poderíamos fazer. A questão deixou de ser “O patógeno X está presente?” para “Qual é a estrutura de toda a comunidade microbiana e como sua perturbação se relaciona com a doença?”. A capacidade de quantificar a saúde ecológica de um microbioma através de métricas como a diversidade alfa (riqueza e uniformidade de espécies dentro de uma amostra) e a diversidade beta (comparação da composição entre diferentes amostras) revelou padrões consistentes: uma diminuição na diversidade está frequentemente associada a estados de doença (Ref. 5). Este princípio é a base da “hipótese do ponto de ajuste da diversidade microbiana” (microbial diversity setpoint hypothesis), que postula que desvios da diversidade normal para um determinado sítio corporal estão associados à inflamação e à doença. Em locais de alta diversidade, como o cólon, uma redução na diversidade é patológica (como na colite por C. difficile). Em contraste, em locais de baixa diversidade, como o esôfago, um aumento na diversidade pode indicar um estado de doença, como esofagite ou esôfago de Barrett (Ref. 1).
Com estas novas ferramentas, conceitos cruciais foram definidos:
- Microbiota: Refere-se à coleção de microrganismos vivos em um nicho específico.
- Microbioma: Um termo mais amplo que inclui não apenas os microrganismos, mas também seu teatro de atividade: genomas, metabólitos e as condições ambientais do nicho.
- Eubiose: O estado de um microbioma equilibrado e saudável, que contribui para a fisiologia normal do hospedeiro.
- Disbiose: Um desequilíbrio na composição e função do microbioma, frequentemente caracterizado por uma perda de diversidade, perda de microrganismos benéficos e/ou um supercrescimento de organismos potencialmente patogênicos (patobiontes) (Ref. 5).
A genômica, portanto, não apenas expandiu nosso catálogo de micróbios conhecidos; ela nos forneceu a linguagem da ecologia microbiana, permitindo-nos, pela primeira vez, quantificar a saúde e a doença em termos de equilíbrio comunitário, e não apenas pela presença ou ausência de um único patógeno.
Disbiose: A Janela de Oportunidade para Patógenos Nosocomiais
Um microbioma saudável e diversificado não é um espectador passivo; é a primeira e mais formidável linha de defesa do hospedeiro contra infecções. O ambiente hospitalar, com suas intervenções terapêuticas agressivas e exposição constante a patógenos, representa a ameaça mais significativa a este equilíbrio ecológico. A disbiose resultante cria uma vulnerabilidade que os patógenos nosocomiais são perfeitamente adaptados para explorar.
A Resistência à Colonização: A Primeira Linha de Defesa do Hospedeiro
A capacidade de uma microbiota comensal intacta de prevenir o estabelecimento e a proliferação de microrganismos exógenos ou o supercrescimento de patobiontes residentes é conhecida como Resistência à Colonização (RC) (Ref. 6, 7, 8, 9). Este fenômeno não é um estado passivo, mas um processo ativo e multifacetado, mediado por uma complexa rede de interações micróbio-micróbio e micróbio-hospedeiro. A RC pode ser compreendida através de seus mecanismos diretos e indiretos.
Mecanismos Diretos (Interações Micróbio-Micróbio):
- Competição por Nutrientes: Em um ecossistema intestinal denso e competitivo, os comensais adaptados superam os patógenos na aquisição de recursos limitados. Eles consomem eficientemente carboidratos, aminoácidos, minerais como o ferro e aceptores de elétrons, essencialmente “matando de fome” os invasores antes que eles possam se estabelecer (Ref. 6, 10, 11).
- Produção de Compostos Inibitórios: Muitas bactérias comensais produzem e secretam moléculas que inibem diretamente o crescimento de seus competidores. Estas incluem bacteriocinas, que são peptídeos antimicrobianos com espectro de ação estreito, e ácidos orgânicos de cadeia curta (AGCCs), que podem acidificar o ambiente e o citoplasma bacteriano, tornando-o inóspito para patógenos sensíveis ao pH (Ref. 11, 12).
Mecanismos Indiretos (Interações Micróbio-Hospedeiro):
- Produção de Metabólitos Protetores: A microbiota intestinal fermenta fibras dietéticas não digeríveis para produzir grandes quantidades de AGCCs, como butirato, propionato e acetato. O butirato, em particular, serve como a principal fonte de energia para os colonócitos, fortalecendo a integridade da barreira epitelial intestinal e reduzindo a permeabilidade. A produção de AGCCs também diminui o pH luminal, o que inibe o crescimento de muitos patógenos, como Enterobacteriaceae (Ref. 11, 13). Outro mecanismo crucial é a modificação dos ácidos biliares. Bactérias comensais específicas, como Clostridium scindens, convertem ácidos biliares primários (produzidos pelo fígado) em ácidos biliares secundários, que são potentes inibidores da germinação de esporos de Clostridioides difficile (Ref. 12, 14, 15).
- Modulação do Sistema Imunológico: Um microbioma saudável é essencial para o desenvolvimento e a maturação do sistema imunológico do hospedeiro, especialmente a imunidade da mucosa. Ele “educa” as células imunes a tolerar comensais enquanto mantém uma vigilância robusta contra patógenos. A microbiota estimula a produção de peptídeos antimicrobianos pelas células epiteliais e a manutenção de uma população saudável de células imunes, como as células Th17, que são cruciais para a defesa contra patógenos bacterianos e fúngicos (Ref. 8, 13).
A natureza ativa e metabolicamente exigente da RC tem implicações profundas para a prática clínica. A produção de AGCCs, por exemplo, depende diretamente da disponibilidade de fibras fermentáveis na dieta do paciente (Ref. 4, 16). Um paciente hospitalizado, especialmente em uma unidade de terapia intensiva (UTI), frequentemente enfrenta restrições dietéticas, jejum prolongado ou nutrição enteral pobre em fibras. Esta privação de substrato para as bactérias comensais leva a uma cascata de eventos: redução da produção de AGCCs, enfraquecimento da barreira intestinal, alteração do pH e, consequentemente, uma RC comprometida. Portanto, o suporte nutricional adequado deve ser visto não apenas como uma forma de alimentar o paciente, mas também como uma estratégia essencial para nutrir e sustentar seu microbioma protetor, tornando-se um componente fundamental da prevenção de infecções.
O Impacto Hospitalar no Microbioma: Antibióticos e a Gênese das IRAS
Nenhuma intervenção médica tem um impacto mais profundo e devastador sobre o microbioma humano do que a antibioticoterapia. Frequentemente descritos como “agentes ecocidas”, os antibióticos, especialmente os de amplo espectro, atuam de forma indiscriminada, eliminando não apenas o patógeno alvo, mas também vastas populações de bactérias comensais benéficas. Esta perturbação massiva reduz drasticamente a diversidade microbiana — um estudo em modelo animal demonstrou uma redução de mais de 20 vezes no número de espécies detectáveis (Ref. 4) — e destrói os mecanismos de RC (Ref. 6, 15, 17, 18). O efeito não é transitório; a disbiose pode persistir por meses ou até anos após um único ciclo de tratamento, criando uma janela de vulnerabilidade prolongada (Ref. 15). Este vácuo ecológico não apenas permite o supercrescimento de patobiontes já presentes em baixa abundância, mas também cria uma pressão seletiva intensa que favorece a emergência de patógenos resistentes a antibióticos e a disseminação de genes de resistência (Ref. 2, 4).
Infecção por Clostridioides difficile (CDI): O Arquétipo da Disbiose
A CDI é o exemplo canônico de uma doença causada diretamente pela disbiose induzida por antibióticos. Em um intestino saudável, a presença de comensais que produzem ácidos biliares secundários mantém os esporos de C. difficile em estado dormente. A antibioticoterapia erradica essas populações protetoras, alterando o ambiente metabólico do cólon. Na ausência de ácidos biliares secundários, os esporos onipresentes de C. difficile germinam, proliferam e produzem toxinas que causam a colite pseudomembranosa (Ref. 14, 15). A recorrência da CDI, um desafio clínico significativo, é um ciclo vicioso de disbiose: o tratamento com mais antibióticos agrava ainda mais o dano ecológico, tornando o paciente ainda mais suscetível. É notável que as diretrizes clínicas atuais, como as do American College of Gastroenterology, recomendam contra o uso de probióticos para a prevenção de CDI devido à falta de evidências robustas, sublinhando a necessidade de abordagens de restauração da microbiota que sejam cientificamente validadas (Ref. 5).
Pneumonia Associada à Ventilação (PAV): O Fim do Paradigma do Pulmão Estéril
A visão tradicional dos pulmões como um órgão estéril foi definitivamente abandonada. Sabemos agora que as vias aéreas inferiores abrigam uma comunidade microbiana de baixa densidade, mas diversa, que é crucial para a homeostase pulmonar (Ref. 1). A intubação e a ventilação mecânica alteram drasticamente esta ecologia. O próprio ato da ventilação mecânica, mesmo na ausência de antibióticos, demonstrou reduzir a diversidade do microbioma pulmonar (Ref. 1, 11, 15). Esta disbiose é caracterizada pelo supercrescimento de patobiontes, frequentemente originários da microbiota orofaríngea ou intestinal, que chegam aos pulmões através da microaspiração ao redor do cuff do tubo endotraqueal (Ref. 1, 11, 22, 23). Em pacientes criticamente enfermos, a microbiota orofaríngea muda de uma dominância de bactérias Gram-positivas para uma dominância de bacilos Gram-negativos, como Pseudomonas aeruginosa e Enterobacteriaceae. A perda de comensais protetores e o supercrescimento desses patógenos, em um hospedeiro com defesas imunes comprometidas, são os eventos-chave que precedem e impulsionam a patogênese da PAV (Ref. 11).
Colonização e Infecção por MDROs
A disbiose intestinal induzida por antibióticos cria nichos ecológicos vagos. O ambiente hospitalar, saturado com MDROs como Enterococos Resistentes à Vancomicina (VRE), Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemases (CPE) e Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), fornece um fluxo constante de colonizadores potenciais (Ref. 3, 25). Na ausência de competição por parte da microbiota comensal, esses MDROs podem colonizar o intestino em alta densidade (Ref. 15, 26, 27). Esta colonização não é benigna; o intestino torna-se um reservatório a partir do qual os MDROs podem translocar através da barreira epitelial comprometida para a corrente sanguínea, causando bacteremia, ou contaminar a pele e o ambiente, facilitando a transmissão para outros pacientes.
A tabela a seguir sintetiza a relação entre as principais IRAS e os mecanismos de disbiose subjacentes.
Tabela 1: Principais Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e sua Relação com a Disbiose do Microbioma
| Tipo de IRAS | Microbioma Primariamente Afetado | Natureza da Disbiose | Mecanismos Patogênicos Chave |
| Infecção por Clostridioides difficile (CDI) | Intestinal | Perda drástica de diversidade; depleção de anaeróbios produtores de ácidos biliares secundários. | Falha na conversão de ácidos biliares, permitindo a germinação de esporos e a produção de toxinas. |
| Pneumonia Associada à Ventilação (PAV) | Pulmonar / Orofaríngeo | Perda de diversidade; supercrescimento de patobiontes (ex: Pseudomonas, Staphylococcus, Enterobacteriaceae). | Perda de resistência à colonização local; microaspiração de microbiota disbiótica da orofaringe/TGI; resposta inflamatória pulmonar. |
| Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) | Cutâneo | Quebra da barreira física; depleção de comensais protetores (ex: Cutibacterium); supercrescimento de patógenos (ex: S. aureus). | Perda de comensais que suprimem a virulência de patógenos; invasão direta do tecido estéril. |
| Infecções da Corrente Sanguínea (ICS) por MDROs (ex: VRE) | Intestinal | Perda de diversidade; supercrescimento de um único táxon resistente a antibióticos (ex: Enterococcus). | Perda de resistência à colonização; translocação bacteriana através da barreira intestinal comprometida. |
O Microbioma da Pele e a Integridade do Sítio Cirúrgico
A pele, nosso maior órgão, abriga um ecossistema microbiano complexo e topograficamente diverso, que desempenha um papel vital na função de barreira e na defesa contra infecções (Ref. 1). Por décadas, a prevenção de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) focou-se na manutenção da esterilidade através de técnica cirúrgica asséptica e antissepsia da pele. No entanto, uma constatação fundamental está mudando essa perspectiva: estima-se que entre 70% e 95% de todas as ISCs são causadas pela microbiota endógena do próprio paciente, presente na pele ou nas narinas (Ref. 14). Isso reformula a ISC não apenas como uma falha de assepsia, mas como uma falha no controle perioperatório do microbioma do paciente.
Pesquisas recentes, utilizando sequenciamento de nova geração, revelaram que o microbioma de uma ferida cirúrgica em cicatrização normal é ecologicamente distinto do da pele intacta, mesmo na ausência de qualquer sinal clínico de infecção (Ref. 6). Um dos achados mais contraintuitivos e importantes é a dinâmica de Staphylococcus aureus. Enquanto a abundância de Cutibacterium acnes, o comensal mais comum da pele saudável, diminui drasticamente na ferida (provavelmente devido à remoção das unidades pilossebáceas), a abundância relativa de S. aureus, um dos principais patógenos causadores de ISC, é significativamente enriquecida. Em um estudo, S. aureus foi encontrado em uma abundância relativa ≥5% em 30% das feridas em cicatrização normal, em comparação com apenas 11% na pele intacta controle (Ref. 6).
Sob o paradigma tradicional, a presença de S. aureus em uma ferida seria vista como um precursor inevitável da infecção. No entanto, a realidade ecológica é mais complexa. O mesmo estudo que observou o enriquecimento de S. aureus também encontrou um enriquecimento ainda mais pronunciado de espécies do gênero Corynebacterium, que se tornaram os organismos dominantes no microbioma da ferida. Crucialmente, foi identificada uma forte correlação negativa entre as abundâncias relativas de Corynebacterium e S. aureus (Ref. 6).
Esta observação sugere um mecanismo ativo de resistência à colonização dentro do próprio ambiente da ferida. A presença de S. aureus em uma ferida saudável não é necessariamente um sinal de falha, mas sim a demonstração de um ecossistema funcional onde comensais como Corynebacterium podem estar ativamente “policiando” o patógeno, competindo por recursos ou produzindo inibidores que suprimem sua virulência e impedem a transição de colonização para infecção. Esta descoberta redefine o que consideramos uma ferida “contaminada” e tem implicações profundas para a prática. O objetivo da antissepsia pré-cirúrgica, que transitoriamente reduz a carga microbiana antes que o microbioma se recupere (Ref. 28, 29, 30), talvez não devesse ser a esterilização (um objetivo biologicamente impossível), mas sim a modulação do ecossistema cutâneo para favorecer comensais protetores em detrimento de patógenos. Isso abre a porta para estratégias inovadoras, como o desenvolvimento de curativos ou terapias tópicas “probióticas” para promover um microbioma de ferida saudável e resiliente.
Síntese Crítica e Fatores Limitantes: Onde Estamos Agora?
A confluência de dados da literatura fundamental e da pesquisa clínica nos leva a uma conclusão central: o microbioma não é um espectador passivo, mas um participante ativo na patogênese das IRAS. A disbiose, induzida primariamente por antibióticos e outras pressões do ambiente hospitalar, representa uma via comum que aumenta a suscetibilidade a uma vasta gama de infecções, desde a CDI até a PAV e as ISCs (Ref. 2, 3). No entanto, ao adotar uma postura crítica e curiosa, é imperativo reconhecer os desafios e as limitações que atualmente restringem a tradução desta ciência para a prática clínica diária.
Um dos maiores desafios é a distinção entre causalidade e correlação. Muitos estudos demonstram associações robustas entre um estado de disbiose e uma doença específica, mas provar que a disbiose é a causa, e não uma consequência da doença subjacente ou de seus tratamentos, é metodologicamente complexo (Ref. 12). Um paciente criticamente enfermo na UTI, por exemplo, apresenta múltiplos fatores de confusão (inflamação sistêmica, falência de órgãos, nutrição inadequada) que podem, por si só, alterar o microbioma, independentemente do risco infeccioso.
Outro fator limitante significativo é a heterogeneidade interindividual. O conceito de um microbioma “saudável” universal é ilusório; a composição da microbiota varia enormemente entre indivíduos saudáveis, influenciada por genética, dieta, geografia e estilo de vida (Ref. 5, 12). Esta personalização intrínseca torna difícil definir um “padrão ouro” ou um alvo terapêutico universal para intervenções de restauração da microbiota. Uma comunidade microbiana que é protetora para um indivíduo pode não ser para outro.
Do ponto de vista técnico, persistem desafios de padronização e interpretação. A maioria das técnicas de sequenciamento baseadas em DNA não consegue diferenciar entre microrganismos vivos e mortos, o que pode ser particularmente problemático ao avaliar a eficácia de intervenções como antissépticos, que podem deixar para trás DNA de células lisadas (Ref. 29). A falta de protocolos padronizados para coleta, processamento e análise bioinformática de amostras dificulta a comparação de resultados entre diferentes estudos, limitando a generalização dos achados (Ref. 12).
Finalmente, existe uma lacuna substancial na tradução da pesquisa para a prática clínica. Embora os resultados da pesquisa básica sejam promissores, a implementação de estratégias baseadas no microbioma no controle de infecções de rotina enfrenta barreiras consideráveis. Estas incluem a necessidade de ensaios clínicos randomizados robustos para validar a eficácia e a segurança de novas intervenções, análises de custo-efetividade para justificar sua adoção, e a educação contínua de profissionais de saúde para integrar estes novos conceitos ecológicos em sua prática diária (Ref. 12, 33, 34).
Recomendações: Traduzindo a Ciência do Microbioma para o Controle de Infecção do Futuro
A crescente compreensão do microbioma como um modulador central do risco de infecção exige uma evolução nas nossas estratégias de prevenção e controle. A seguir, são delineadas recomendações para a prática clínica, políticas institucionais e pesquisa futura, com o objetivo de traduzir o conhecimento científico em ações concretas para melhorar a segurança do paciente.
Implicações para a Prática Clínica e Epidemiologia Hospitalar
- Adotar o “Microbiome Stewardship”: Assim como o Antimicrobial Stewardship visa o uso racional de antibióticos, o Microbiome Stewardship deve emergir como um princípio central do controle de infecções. Este conceito implica em uma avaliação consciente do impacto ecológico de todas as intervenções hospitalares. A prescrição de antibióticos deve ser ainda mais criteriosa, favorecendo espectros mais estreitos e durações mais curtas sempre que possível. Além disso, o impacto de medicamentos não-antibióticos, dietas e procedimentos invasivos sobre a microbiota do paciente deve ser considerado na avaliação global do risco de IRAS.
- Aprimorar a Vigilância com Ferramentas Metagenômicas: A epidemiologia hospitalar pode ser revolucionada pelo uso do sequenciamento de metagenoma para a vigilância e investigação de surtos. A análise de amostras de pacientes e do ambiente hospitalar pode fornecer um mapa de alta resolução das rotas de transmissão de patógenos e genes de resistência, permitindo intervenções de controle mais rápidas e direcionadas (Ref. 25, 35, 36).
- Reavaliar e Otimizar Práticas Estabelecidas: Práticas rotineiras devem ser continuamente reavaliadas sob a ótica do microbioma. Por exemplo, o banho diário com clorexidina em pacientes de UTI deve ser pesado não apenas por sua capacidade de reduzir a carga microbiana, mas também por seu potencial de perturbar a ecologia protetora da pele a longo prazo (Ref. 29, 30). Em contrapartida, evidências robustas de que a antissepsia frequente das mãos com preparações alcoólicas não causa efeitos deletérios no microbioma da pele dos profissionais de saúde reforçam a segurança e a importância crítica desta prática fundamental (Ref. 7).
Novas Estratégias Terapêuticas e Preventivas no Horizonte
- Terapia de Modulação da Microbiota: O futuro da prevenção de IRAS reside, em parte, na capacidade de restaurar ou fortalecer o microbioma do paciente. O Transplante de Microbiota Fecal (TMF) já é uma terapia aprovada pela FDA e recomendada para o tratamento de CDI recorrente, demonstrando o poder da restauração ecológica (Ref. 5, 37, 38). No entanto, a pesquisa avança para além do TMF, com o desenvolvimento de consórcios microbianos definidos (compostos por cepas bacterianas específicas e cultivadas), probióticos de nova geração, prebióticos direcionados e terapia fágica para eliminar patógenos específicos sem dano colateral à microbiota comensal (Ref. 12).
- Saneamento Probiótico do Ambiente Hospitalar: Uma das inovações mais disruptivas é a mudança do paradigma de desinfecção química para a exclusão competitiva no ambiente construído. O uso de sistemas de limpeza baseados em probióticos (Probiotic Cleaning Hygiene System – PCHS), que utilizam esporos de Bacillus benéficos para colonizar superfícies, demonstrou em estudos multicêntricos a capacidade de reduzir de forma estável a carga de patógenos (incluindo MDROs) e de genes de resistência. Esta remodelação ecológica do microbioma ambiental correlacionou-se com uma redução significativa nas taxas de IRAS e nos custos associados, oferecendo uma abordagem sustentável e de baixo impacto para o controle ambiental (Ref. 8).
Agenda de Pesquisa Futura: Questões-Chave para a Próxima Década
Para que o potencial da ciência do microbioma seja plenamente realizado no controle de infecções, a pesquisa futura deve se concentrar em:
- Desenvolvimento de Ferramentas Diagnósticas: Criar testes rápidos e de baixo custo que possam avaliar o estado de disbiose do microbioma de um paciente (por exemplo, intestinal, pulmonar ou cutâneo) e estratificar seu risco para desenvolver IRAS específicas, permitindo a implementação de medidas preventivas personalizadas.
- Validação Clínica de Intervenções: Conduzir ensaios clínicos randomizados, multicêntricos e bem desenhados para validar a eficácia de terapias de modulação da microbiota (além do TMF para CDI) na prevenção de PAV, ISC e colonização por MDROs.
- Elucidação de Mecanismos: Aprofundar a pesquisa básica para identificar as espécies comensais específicas, os metabólitos e as vias imunológicas responsáveis pela resistência à colonização contra os principais patógenos hospitalares. Este conhecimento é essencial para o desenvolvimento de terapias mais precisas e eficazes.
- Estudos Longitudinais e de Impacto Holístico: Investigar o impacto a longo prazo de todo o espectro de exposições hospitalares — incluindo dietas, medicamentos não-antibióticos, antissépticos e o próprio ambiente físico — sobre a resiliência e a função do microbioma do paciente.
A integração da ecologia microbiana na doutrina do controle de infecções não é mais uma questão de “se”, mas de “como” e “quando”. Ao enxergar o paciente como um ecossistema a ser protegido e nutrido, abrimos uma nova e promissora frente na luta contínua pela segurança do paciente.
Conclusão
A mensagem final é clara: não há futuro para o controle de infecção sem integrar o microbioma à prática clínica e às políticas hospitalares.
O cuidado com a microbiota do paciente deve ser visto como parte do arsenal de prevenção — tão importante quanto higienização das mãos, isolamento de casos ou stewardship de antimicrobianos.
Incorporar a ecologia microbiana ao dia a dia do hospital significa fortalecer a barreira natural do paciente e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência exclusiva de antibióticos, que tanto pressionam a resistência microbiana e de desinfetantes ambientais, que não atuam sobre o material genético dos microrganismos, servindo de base para transferência de mecanismos de resistência.
Referências Bibliográficas Comentadas
- Mandell, Douglas, and Bennett’s Practice of Infectious Diseases. Chapter 2: The Human Microbiome of Local Body Sites and Their Unique Biology.
- Resumo: Este capítulo fundamental serve como base para a compreensão da composição e função do microbioma em diversos sítios do corpo humano, como pele, vias aéreas, trato gastrointestinal e vagina. Ele detalha a transição do conhecimento baseado em cultura para as descobertas possibilitadas pela genômica, estabelecendo os conceitos de eubiose, disbiose e a “hipótese do ponto de ajuste da diversidade microbiana”, que correlaciona alterações na diversidade com estados de doença.
- PETTIGREW, Melinda M.; JOHNSON, J Kristie; HARRIS, Anthony D. The human microbiota: novel targets for hospital-acquired infections and antibiotic resistance. Annals of Epidemiology, v. 26, n. 5, p. 342-347, maio 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2016.02.007.
- Resumo: Esta revisão destaca a microbiota saudável como uma barreira protetora contra patógenos através da resistência à colonização. O artigo argumenta que o uso de antibióticos em pacientes hospitalizados perturba esta barreira, selecionando para resistência, e propõe que a manipulação da microbiota é um alvo promissor e inovador para o controle de infecções por MDROs.
- TOZZO, Pamela; DELICATI, Arianna; CAENAZZO, Luciana. Human microbiome and microbiota identification for preventing and controlling healthcare-associated infections: A systematic review. Frontiers in Public Health, v. 10, p. 989496, 1 dez. 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.989496.
- Resumo: Esta revisão sistemática sintetiza evidências sobre o papel da microbiota de pacientes, profissionais de saúde e do ambiente na disseminação de IRAS. Conclui que uma abordagem multifacetada, considerando todas as fontes e vias de transmissão, é essencial para desenvolver estratégias de prevenção e controle mais eficazes.
- RAPLEE, Isaac et al. Emergence of nosocomial associated opportunistic pathogens in the gut microbiome after antibiotic treatment. Antimicrobial Resistance and Infection Control, v. 10, n. 1, p. 36, 15 fev. 2021. DOI: https://doi.org/10.1186/s13756-021-00903-0.
- Resumo: Utilizando um modelo animal, este estudo demonstra experimentalmente que a antibioticoterapia reduz drasticamente a diversidade da microbiota intestinal. Crucialmente, o tratamento selecionou e promoveu a expansão de patógenos oportunistas associados a IRAS, como Acinetobacter e Bacteroides fragilis, que também apresentaram um enriquecimento de genes de resistência.
- KELLY, Colleen R. et al. ACG Clinical Guidelines: Prevention, Diagnosis, and Treatment of Clostridioides difficile Infections. American Journal of Gastroenterology, v. 116, n. 6, p. 1124–1147, 18 maio 2021. DOI: https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001278.
- Resumo: Estas diretrizes clínicas fornecem recomendações baseadas em evidências para o manejo da infecção por C. difficile. Notavelmente, recomendam fortemente o transplante de microbiota fecal (TMF) para CDI recorrente, mas recomendam contra o uso de probióticos para prevenção, destacando a necessidade de validação científica rigorosa para intervenções baseadas na microbiota.
- GUPTA, S. et al. Cutaneous Surgical Wounds Have Distinct Microbiomes from Intact Skin. Microbiology Spectrum, v. 11, n. 1, p. e03300-22, 21 dez. 2022. DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.03300-22.
- Resumo: Este estudo pioneiro revela que feridas cirúrgicas em cicatrização normal possuem um microbioma distinto da pele intacta, com depleção de Cutibacterium e enriquecimento de S. aureus e Corynebacterium. A correlação negativa entre Corynebacterium e S. aureus sugere que comensais podem ativamente suprimir a patogenicidade, mudando o paradigma de prevenção de ISC.
- KRAMER, Axel et al. No detrimental effect on the hand microbiome of health care staff by frequent alcohol-based antisepsis. American Journal of Infection Control, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2024.11.006.
- Resumo: Este estudo prospectivo em enfermeiras de UTI neonatal demonstrou que a antissepsia frequente das mãos com preparações alcoólicas não afeta adversamente a composição geral ou a diversidade do microbioma da pele. Este achado fornece uma importante validação de segurança para a prática mais crucial no controle de infecções, dissipando preocupações sobre possíveis danos ecológicos à microbiota das mãos dos profissionais.
- D’ACCOLTI, M. et al. Tackling transmission of infectious diseases: A probiotic‐based system as a remedy for the spread of pathogenic and resistant microbes. Microbial Biotechnology, v. 17, n. 7, p. e14529, 24 jul. 2024. DOI: https://doi.org/10.1111/1751-7915.14529.
- Resumo: Esta minirrevisão apresenta o conceito inovador de saneamento baseado em probióticos (PBS) como uma alternativa à desinfecção química. O artigo resume estudos que mostram que o PBS reduz de forma estável os patógenos e os genes de resistência em superfícies hospitalares, levando a uma diminuição significativa das taxas de IRAS e dos custos associados.
- ARAOS, R.; D’AGATA, E. M. C. The human microbiota and infection prevention. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 40, n. 5, p. 585–589, maio 2019. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2019.28.
- Resumo: Esta revisão fornece uma visão geral sobre como a disbiose do microbioma, frequentemente causada por antibióticos, compromete a resistência à colonização e aumenta a suscetibilidade a patógenos, incluindo MDROs. O artigo discute os princípios metodológicos para o estudo do microbioma e as implicações de seus achados para as estratégias de prevenção de infecções.
- SOHN, Kyung Mok; CHEON, Shinhye; KIM, Yeon-Sook. Can Fecal Microbiota Transplantation (FMT) Eradicate Fecal Colonization With Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE)?. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 37, n. 12, p. 1519-1521, dez. 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2016.229.
- Resumo: Este estudo de caso investigou se o TMF poderia erradicar a colonização por VRE em três pacientes. Os resultados sugerem que o TMF, embora eficaz para tratar CDI concomitante, não encurtou efetivamente a duração da portabilidade de VRE, indicando que a restauração da microbiota pode não ser suficiente para eliminar todos os MDROs colonizadores.
- ESTELA-ZAPE, Jose Luis et al. Impact of Invasive Mechanical Ventilation on the Lung Microbiome. Advances in Respiratory Medicine, v. 93, n. 4, p. 23, 1 jul. 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/arm93040023.
- Resumo: Esta revisão sistemática consolida evidências de que a ventilação mecânica invasiva causa disbiose pulmonar, caracterizada pela perda de diversidade e proliferação de patógenos. O artigo estabelece uma forte correlação entre essas alterações microbianas e o desenvolvimento de PAV, aumento do risco de infecção e maior mortalidade na UTI.
- GILBERT, Jack A. et al. Clinical translation of microbiome research. Nature Medicine, v. 31, n. 4, p. 1-13, abr. 2025. DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-025-03615-9.
- Resumo: Esta revisão abrangente discute os avanços, desafios e oportunidades na tradução da pesquisa do microbioma para a prática clínica. O artigo destaca o sucesso das terapias aprovadas pela FDA para CDI, explora o potencial de diagnósticos e terapêuticas emergentes e delineia um roteiro para superar as barreiras à implementação clínica de rotina.
- BUFFIE, Charlie G.; PAMER, Eric G. Microbiota-mediated colonization resistance against intestinal pathogens. Nature Reviews Immunology, v. 13, n. 11, p. 790-801, nov. 2013. DOI: https://doi.org/10.1038/nri3535.
- Resumo: Este artigo de revisão seminal detalha os mecanismos pelos quais a microbiota comensal previne a colonização por patógenos intestinais. Discute como a composição da microbiota influencia a resistência à colonização mediada pelo sistema imune e como a restauração da microbiota pode combater patógenos resistentes a antibióticos.
- WENZEL, Richard P. Surgical site infections and the microbiome: An updated perspective. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 40, n. 5, p. 590-596, maio 2019. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2018.363.
- Resumo: Esta revisão argumenta que a grande maioria das ISCs (70-95%) se origina do próprio microbioma do paciente (pele e narinas). O artigo postula que a ocorrência de uma ISC pode ser vista como uma falha no controle perioperatório do microbioma, reforçando a necessidade de estratégias focadas no paciente.
- ZAKHARKINA, T. et al. The dynamics of the pulmonary microbiome during mechanical ventilation in the intensive care unit and the association with occurrence of pneumonia. Thorax, v. 72, n. 9, p. 803-810, set. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2016-209158.
- Resumo: Este estudo longitudinal demonstrou que a duração da ventilação mecânica e o desenvolvimento subsequente de PAV estão associados a uma diminuição da diversidade bacteriana no trato respiratório. O estudo fornece evidências clínicas diretas de que a disbiose pulmonar precede a PAV, reforçando o papel ecológico na patogênese da doença.
Adendo: O que são as arqueias citadas no texto?
As arqueias (do grego archaĩos, que significa “antigo”) são um domínio de microrganismos unicelulares e procariontes, o que significa que não possuem um núcleo celular definido. Embora morfologicamente sejam muitas vezes semelhantes às bactérias em forma e tamanho, elas são genética e bioquimicamente tão distintas delas quanto são dos eucariontes (o domínio que inclui animais e plantas).
Inicialmente, foram classificadas como um tipo de bactéria e chamadas de “arqueobactérias”, mas essa terminologia é considerada obsoleta, pois estudos moleculares revelaram que as arqueias estão, na verdade, filogeneticamente mais próximas dos eucariontes do que das bactérias.
Principais Diferenças entre Arqueias e Bactérias
A distinção entre esses dois domínios de procariontes é fundamental e baseia-se em várias características únicas:
- Parede Celular: A diferença mais marcante é que a parede celular das arqueias não contém peptideoglicano, um componente essencial na parede celular da maioria das bactérias. Em vez disso, suas paredes celulares são compostas por outras substâncias, como pseudopeptidoglicano, polissacarídeos ou proteínas.
- Membrana Celular: A composição lipídica de suas membranas é única. As arqueias possuem lipídios com ligações do tipo éter, enquanto bactérias e eucariontes possuem lipídios com ligações do tipo éster.
- Genética e Maquinaria Celular: Muitos dos genes e das vias metabólicas das arqueias, especialmente as enzimas envolvidas na transcrição e tradução do material genético, são mais semelhantes aos dos eucariontes do que aos das bactérias. Elas possuem, por exemplo, vários tipos de RNA polimerase, assim como os eucariontes, enquanto as bactérias geralmente têm apenas um.
- Metabolismo: As arqueias utilizam uma gama mais diversificada de fontes de energia. Algumas realizam um processo metabólico exclusivo chamado metanogênese, no qual produzem gás metano como resíduo.
- Sensibilidade a Antibióticos: Elas geralmente não são sensíveis aos antibióticos tradicionais que afetam as bactérias, devido às suas diferenças estruturais.
Habitat e Papel no Microbioma Humano
As primeiras arqueias observadas foram extremófilas, organismos que vivem em ambientes extremos onde se acreditava que a vida seria impossível, como fontes termais, lagos de alta salinidade, fendas vulcânicas e ambientes de acidez extrema. No entanto, com o avanço das ferramentas de detecção molecular, descobriu-se que as arqueias são onipresentes e habitam quase todos os ecossistemas da Terra, incluindo solos, oceanos e pântanos.
No contexto do microbioma humano, que foi o motivo da sua citação no artigo, as arqueias são membros importantes, embora menos abundantes que as bactérias. Elas são encontradas no intestino, na boca e na pele. No trato gastrointestinal humano, as arqueias mais comuns são as metanogênicas, como a Methanobrevibacter smithii. Elas desempenham um papel de comensal ou mutualista, vivendo em simbiose com as bactérias: as arqueias consomem hidrogênio, dióxido de carbono e outros compostos produzidos pela fermentação bacteriana e os convertem em metano. Esse processo é benéfico, pois evita o acúmulo de hidrogênio, que poderia ser tóxico para as próprias bactérias.
Apesar de sua presença no corpo humano, as arqueias não são conhecidas por causarem doenças em humanos, com raras exceções sendo investigadas em infecções bucais.
Autor:
Antonio Tadeu Fernandes:
https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/
https://www.instagram.com/tadeuccih/
#CCIH #Microbiota #InfeccaoHospitalar #Medicina #Enfermagem #Ciencia #Microbioma
Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação
Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:
MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção
MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização
MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica
Especialização em Farmácia Clínica e Hospitalar
Pós-graduação em Farmácia Oncológica