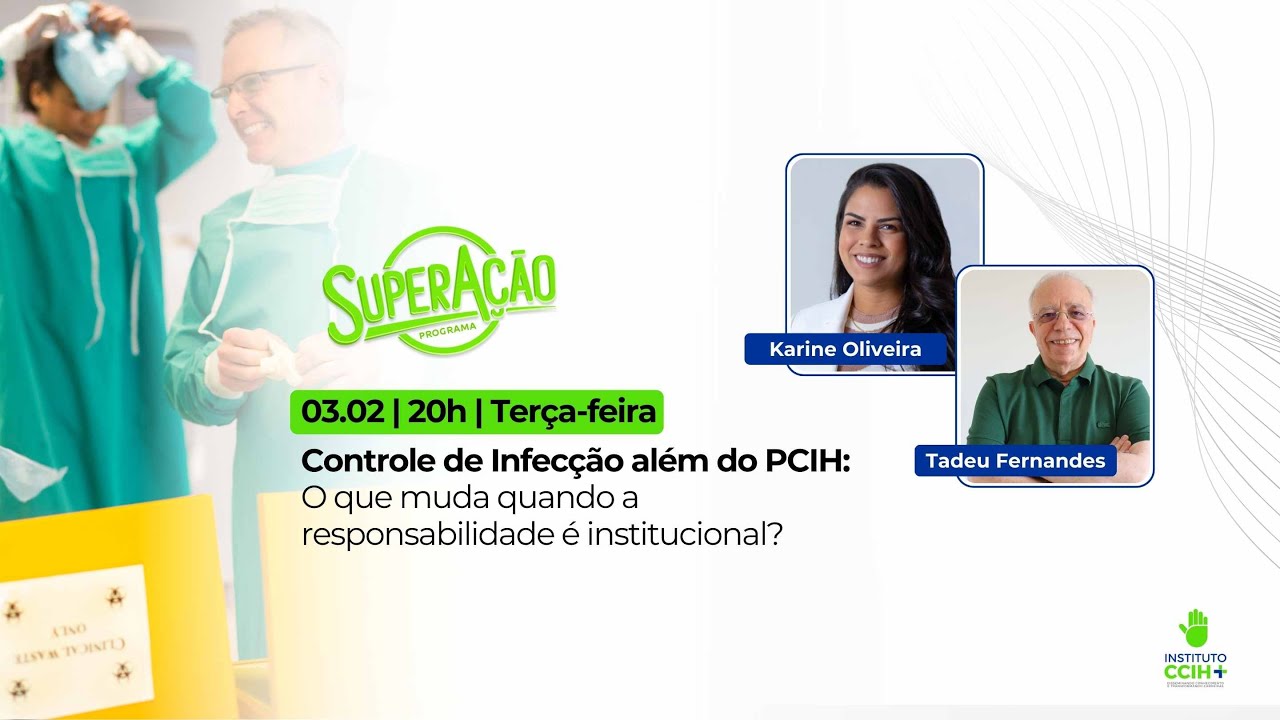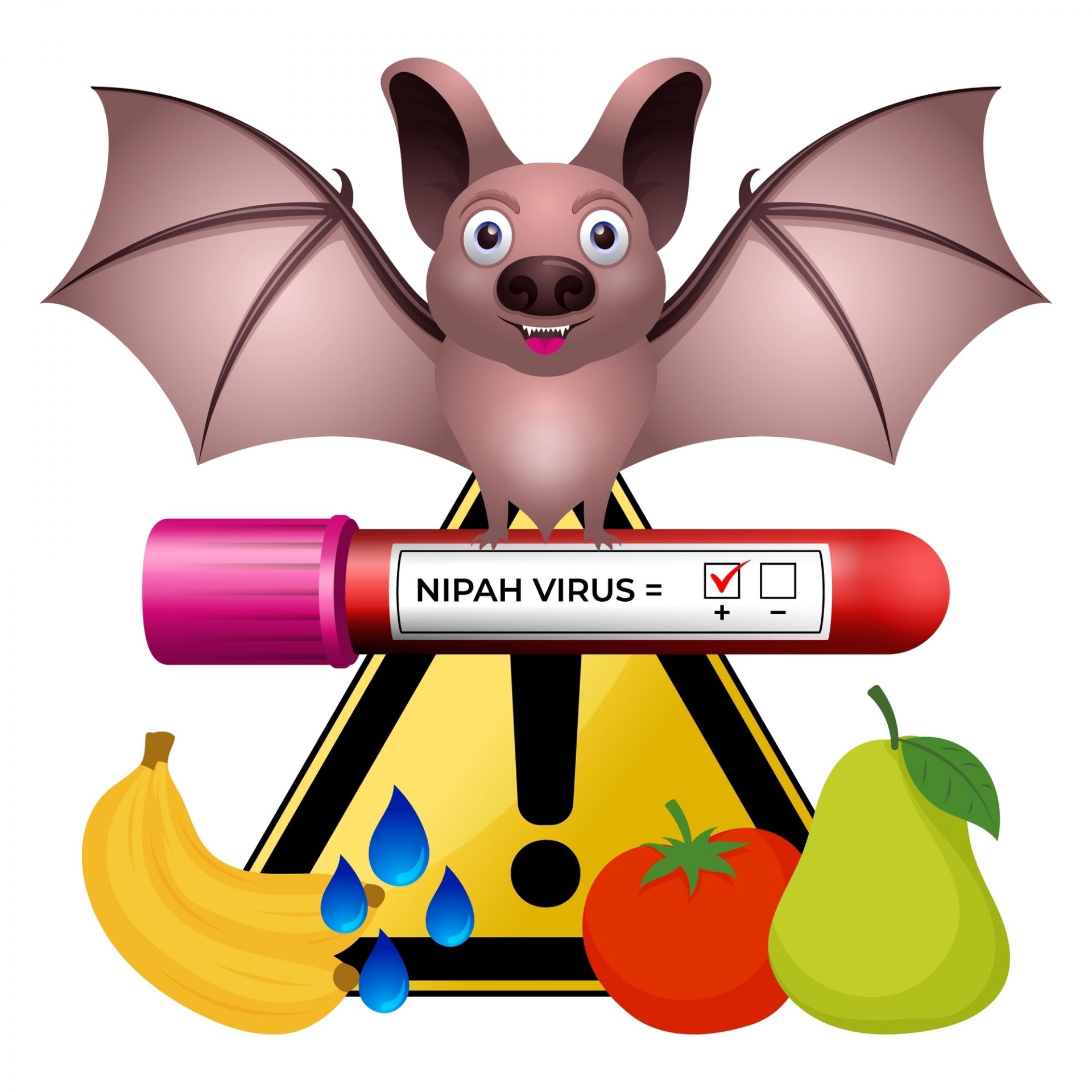Saiba por que a epidemiologia hospitalar deve ser base das decisões estratégicas para o planejamento dos serviços de saúde. Este artigo adapta os princípios epidemiológicos clássicos ao cenário desafiador do século XXI para os controladores de infecção.
Num hospital moderno, cada contato, cada procedimento e cada superfície podem se transformar em pontos críticos para a transmissão de patógenos. A epidemiologia, há muito tempo o alicerce do controle de doenças, mantém-se como a ferramenta mais poderosa para prevenir e conter infecções associadas aos cuidados de saúde (IRAS). O que mudou foi a escala e a complexidade do desafio. Hoje, os princípios clássicos — classificação de doenças, entendimento do estado de portador, vigilância ativa — precisam ser reinterpretados à luz da resistência antimicrobiana, da vulnerabilidade crescente dos pacientes e da pressão por resultados rápidos. Este artigo explora como a aplicação inteligente desses fundamentos pode transformar a CCIH em um verdadeiro centro de inteligência para segurança do paciente.
FAQ — Epidemiologia Hospitalar: o poder dos princípios clássicos
1) O que define a epidemiologia hospitalar hoje?
Resposta curta: É a aplicação dos princípios epidemiológicos para reduzir IRAS e orientar decisões estratégicas do hospital.
Explicação: Num ambiente complexo e de alta pressão seletiva, a epidemiologia virou centro de inteligência para segurança do paciente e sustentabilidade institucional. (CCIH Cursos)
2) Por que os “princípios clássicos” ainda mandam no jogo?
Resposta curta: Porque classificação, dinâmica de transmissão e vigilância continuam sendo o alicerce — só que recontextualizados ao século XXI.
Explicação: O desafio mudou (AMR, pacientes vulneráveis), mas os fundamentos seguem indispensáveis para prevenir e conter IRAS. (CCIH Cursos)
3) O que diferencia a epidemiologia geral da hospitalar?
Resposta curta: O microecossistema hospitalar: imunossuprimidos, dispositivos invasivos e uso intenso de antimicrobianos.
Explicação: Isso cria pressão seletiva e muda o perfil de patógenos e eventos — foco em IPCSL, PAV, ITU-AC e multirresistentes. (CCIH Cursos)
4) Como recontextualizar a classificação para a prática?
Resposta curta: Ir além do rótulo clínico/microbiológico e adotar classificação epidemiológica operacional (reservatórios e vias).
Explicação: Essa matriz vira ação: se o risco é MRSA (reservatório humano), indica contato/isolamento; se é Legionella (reservatório hídrico), gestão do sistema de água. (CCIH Cursos)
5) Portador assintomático: por que é o eixo da estratégia?
Resposta curta: Porque dissemina silenciosamente patógenos críticos; identificar na admissão e agir preemptivamente quebra a cadeia.
Explicação: A “vigilância ativa” supera a reatividade dos surtos clássicos e evita que KPC/MRSA/VRE se espalhem antes do diagnóstico clínico. (CCIH Cursos)
6) História natural no hospedeiro vulnerável
Resposta curta: Em UTI e alta complexidade, mesmo patógenos “bananas” viram problema, e dispositivos abrem portas de entrada.
Explicação: IPCSL, PAV e ITU-AC são produtos da interação patógeno–hospedeiro–ambiente assistencial; prevenção precisa ser procedimento-específica. (CCIH Cursos)
7) Vigilância moderna: de resultados e de processos
Resposta curta: Saímos do passivo para o ativo/com apoio tecnológico, medindo taxas e adesão a bundles/EPIs/higiene.
Explicação: Além de orientar a clínica, os dados hoje impactam reputação e reembolso; epidemiologia virou pauta executiva. (CCIH Cursos)
8) Verdade incômoda: a maioria das IRAS ocorre fora da UTI
Resposta curta: 56–67% das IRAS aparecem nas enfermarias — ignorá-las é perder a guerra.
Explicação: O foco exclusivo em dispositivos/UTI funcionou, mas deixou um vácuo no restante da instituição. É hora de estratégias sistêmicas. (CCIH Cursos)
9) Matriz de risco operacional: exemplos práticos
Resposta curta: MRSA (humano/contato → contato/isolamento/descolonização); C. difficile (esporo/ambiente → água e sabão + esporicida); EPC/KPC (GI/contato → contato/coorte/limpeza rigorosa).
Explicação: Reservatório + via + virulência/resistência definem o pacote de controle. (CCIH Cursos)
10) Comportamento importa (e muito)
Resposta curta: Sem adesão consistente não há resultado — ciência comportamental precisa entrar no plano.
Explicação: Higiene das mãos e bundles dependem de nudges, feedback e clima de segurança, não só de cartazes. (CCIH Cursos)
11) Prioridades táticas para o seu SCIH
Resposta curta: (1) Estrutura e liderança; (2) Vigilância além da UTI; (3) Comportamento e educação; (4) Centro de inteligência com dados para decisões.
Explicação: É a tradução dos achados em função executiva: gente, método, medição e melhoria contínua. (CCIH Cursos)
12) O que fazer em 90 dias (plano-relâmpago)
Resposta curta: Mapear riscos por matriz de reservatórios/vias; implantar triagem ativa em linhas de maior risco; estender vigilância de processos fora da UTI; painel semanal para diretoria.
Explicação: Pequenas vitórias visíveis desbloqueiam recursos e consolidam a epidemiologia como ferramenta de gestão. (CCIH Cursos)
A epidemiologia no século XXI e os hospitais
A epidemiologia, a ciência quantitativa que estuda a distribuição e os determinantes de estados e eventos relacionados à saúde em populações específicas, oferece o alicerce para o controle de problemas de saúde (Ref 1, 2). Este artigo estabelece com clareza os conceitos fundamentais que sustentam a nossa compreensão sobre a dinâmica das doenças infecciosas (Ref 3). Contudo, embora atemporais, a aplicação desses princípios no ambiente hospitalar contemporâneo revela-se mais complexa e crítica do que nunca. O otimismo do século XX, que vislumbrava a conquista das doenças infecciosas, foi abalado pela emergência da pandemia de HIV/AIDS e, mais recentemente, por surtos de Ebola, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), pandemia Covid e tuberculose multirresistente (MDR-TB), que reafirmaram a resiliência e a adaptabilidade dos patógenos (Ref 4).
O cenário atual do cuidado à saúde é marcado por desafios únicos. As infecções associadas aos cuidados de saúde (IRAS) tornaram-se mais comuns como consequência direta da crescente complexidade dos procedimentos médicos, do envelhecimento da população, do aumento no número de pacientes imunocomprometidos e, crucialmente, da ascensão de patógenos multirresistentes (Ref 5, 6). Nesse contexto, a epidemiologia hospitalar transcende a mera exigência legal para se tornar o principal fator de sucesso para a segurança do paciente e a sustentabilidade da instituição de saúde (Ref 7, 8). Este artigo propõe-se a desconstruir os princípios epidemiológicos clássicos, contextualizando-os com a literatura científica recente, a fim de fornecer aos profissionais de controle de infecção uma estrutura robusta para a vigilância eficaz, a implementação de estratégias de prevenção e a tomada de decisão baseada em evidências.
O hospital moderno não é apenas um local onde doenças são tratadas; ele funciona como um microecossistema único, um ambiente que ativamente seleciona e amplifica patógenos, especialmente os resistentes a antimicrobianos. Enquanto a epidemiologia geral abrange um vasto espectro de doenças, desde zoonoses até aquelas transmitidas por vetores (Ref 3), a epidemiologia hospitalar foca em um conjunto específico de desafios: infecções de corrente sanguínea associadas a cateteres, pneumonias associadas à ventilação mecânica e a prevalência crescente de organismos como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii multirresistentes (Ref 5, 9). Essa divergência é impulsionada pelo próprio ambiente de cuidado: pacientes com imunidade comprometida, a onipresença de procedimentos invasivos e o uso intensivo de antimicrobianos criam uma pressão seletiva intensa (Ref 10). Portanto, o profissional de controle de infecção hospitalar (CCIH) deve atuar como um “ecologista aplicado”, utilizando os princípios gerais da epidemiologia para gerenciar um ecossistema artificial e de alto risco, onde as pressões seletivas e as oportunidades de transmissão são magnificadas.
A Arte do Conhecimento Epidemiológico: Recontextualizando a Classificação para o Ambiente Hospitalar
Apresentamos um sistema de classificação multifacetado — clínico, microbiológico e epidemiológico — que organiza o vasto universo das doenças infecciosas (Ref 3). Este sistema é o primeiro passo essencial para definir uma doença, um pré-requisito para a vigilância e o controle eficazes (Ref 11). No entanto, para o profissional de CCIH, essas classificações devem ser recontextualizadas para o ambiente hospitalar.
Análise Crítica das Classificações
A classificação clínica, embora útil para o diagnóstico inicial, frequentemente carece de especificidade no hospital. Síndromes como sepse ou pneumonia, que na comunidade podem ter etiologias previsíveis, no ambiente hospitalar podem ser causadas por um espectro diverso de microrganismos, muitos deles com perfis de resistência complexos (Ref 5).
A classificação microbiológica é fundamental, mas a simples identificação de um patógeno, como Staphylococcus aureus, é insuficiente. A distinção crítica no hospital é entre cepas sensíveis e resistentes (ex: MSSA vs. MRSA), pois essa informação dita as medidas de controle de transmissão, as precauções de isolamento e a terapia antimicrobiana (Ref 5, 6). A tendência alarmante de aumento de bacilos Gram-negativos multirresistentes (MDR-GNB) reforça a necessidade de uma classificação que vá além da espécie e inclua o perfil de resistência (Ref 5).
É a classificação epidemiológica, baseada no reservatório e na via de transmissão, que se revela a mais operacional para o profissional de CCIH. Este artigo descreve os reservatórios de forma ampla (humanos, animais, solo, água) (Ref 3). No hospital, esses reservatórios são mais específicos e interconectados:
- Reservatório Humano: Inclui não apenas pacientes infectados, mas também aqueles colonizados, os profissionais de saúde e os visitantes, todos potenciais fontes de transmissão.
- Reservatório Ambiental: Engloba superfícies de alto toque (grades de cama, maçanetas), equipamentos médicos compartilhados, sistemas de água (fonte de Legionella e micobactérias não tuberculosas) e o ambiente construído em geral (Ref 6, 10, 12).
As vias de transmissão também são redefinidas. A transmissão por contato, seja direto ou indireto através das mãos dos profissionais de saúde, é a via predominante para a maioria das IACS, o que torna a higiene das mãos a pedra angular de qualquer programa de prevenção (Ref 10, 12, 13).
Dessa forma, a classificação epidemiológica no hospital transcende a biologia do patógeno e se transforma em uma matriz de risco operacional. A pergunta mais importante para um profissional de CCIH não é “O que é este organismo?”, mas sim “Qual é o seu potencial de transmissão e dano neste ambiente e como posso interrompê-lo?”. Cada classificação implica uma medida de controle específica. Um reservatório humano para MRSA implica em precauções de contato e isolamento. Um reservatório ambiental aquático para Legionella implica em gerenciamento rigoroso do sistema de água do hospital. A capacidade de Clostridioides difficile de formar esporos resistentes a desinfetantes à base de álcool exige protocolos de limpeza ambiental com produtos esporicidas (Ref 6). A classificação eficaz em CCIH é, portanto, a tradução dos princípios gerais em protocolos de ação específicos para o ambiente de cuidado.
Tabela 1: Matriz de Risco Operacional de Patógenos Relevantes em IRAS
| Patógeno | Reservatório Primário no Hospital | Via(s) de Transmissão Principal(is) | Fator Crítico de Virulência/ Resistência | Medidas de Controle Essenciais |
| Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina (MRSA) | Pacientes/Profissionais colonizados (narinas, pele) | Contato (direto e indireto via mãos e fômites) | Resistência a beta-lactâmicos (gene mecA) | Higiene das mãos, precauções de contato, vigilância ativa, descolonização |
| Clostridioides difficile | Trato gastrointestinal de pacientes, ambiente contaminado | Fecal-oral (contato com esporos) | Produção de toxinas (A/B), formação de esporos | Higiene das mãos (água e sabão), precauções de contato, limpeza ambiental com esporicida, uso racional de antimicrobianos |
| Enterobactérias Produtoras de Carbapenemase (EPC) (ex: K. pneumoniae) | Trato gastrointestinal de pacientes colonizados, ambiente | Contato (direto e indireto), equipamentos contaminados | Produção de enzimas carbapenemases (ex: KPC, NDM) | Higiene das mãos, precauções de contato rigorosas, vigilância ativa, coorte de pacientes, limpeza ambiental |
| Acinetobacter baumannii multirresistente | Trato respiratório de pacientes, ambiente úmido, equipamentos | Contato, aerossóis (especialmente em UTIs) | Alta capacidade de sobrevivência ambiental, multirresistência | Higiene das mãos, precauções de contato, limpeza e desinfecção rigorosa de equipamentos e ambiente |
| Norovírus | Trato gastrointestinal de pessoas infectadas | Fecal-oral, contato, fômites, aerossóis (vômito) | Baixa dose infectante, alta estabilidade ambiental | Higiene das mãos, precauções de contato e gotículas, limpeza ambiental imediata e eficaz, gestão de surtos |
A Dinâmica da Infecção: Do Portador Assintomático à Vigilância Ativa
Dos conceitos cruciais como infectividade, patogenicidade, virulência e o estado de portador, no ambiente hospitalar, esses conceitos ganham uma dimensão prática e urgente. A distinção entre colonização (uma infecção inaparente) e infecção (doença manifesta) é fundamental. Muitos pacientes admitidos em hospitais estão colonizados com patógenos multirresistentes sem apresentar quaisquer sintomas, mas funcionam como reservatórios silenciosos que alimentam a cadeia de transmissão para outros pacientes mais vulneráveis (Ref 6).
O conceito de portador assintomático torna-se, assim, o eixo da epidemiologia hospitalar moderna. A falha em identificar e isolar precocemente pacientes portadores de MRSA, Enterococo Resistente à Vancomicina (VRE) ou EPC pode ser o estopim para surtos de difícil controle (Ref 5). Essa realidade impulsionou uma mudança de paradigma na metodologia de vigilância. A abordagem clássica de investigação de surtos, que é inerentemente reativa — um surto é detectado e só então investigado (Ref 2, 14) — mostra-se insuficiente para lidar com a disseminação silenciosa de organismos multirresistentes. Quando um surto de KPC é finalmente identificado por meio de casos clínicos, a transmissão a partir de portadores assintomáticos já está amplamente disseminada, tornando o controle extremamente desafiador.
A resposta lógica e moderna a esse desafio é a vigilância ativa, uma estratégia proativa que busca identificar os portadores no momento da admissão hospitalar, antes que eles tenham a chance de transmitir o patógeno. Por meio da coleta de culturas ou testes moleculares de pacientes considerados de alto risco, é possível implementar precauções de contato de forma preemptiva, quebrando a cadeia de transmissão em seu elo mais fraco. O princípio do “portador”, portanto, deixou de ser apenas um conceito explicativo para se tornar o alvo principal das estratégias de prevenção contra os patógenos mais perigosos no ambiente hospitalar. O período de incubação, também detalhado (Ref 3), continua sendo uma ferramenta vital na investigação de surtos, permitindo ao epidemiologista estimar a janela de exposição e focar a investigação em fontes e contatos relevantes.
A História Natural da Doença no Hospedeiro Vulnerável
O hospital concentra pacientes nos extremos do espectro de suscetibilidade, o que altera fundamentalmente a “história natural” observada. Pacientes idosos, com múltiplas comorbidades, ou imunossuprimidos por quimioterapia ou transplante, enfrentam um risco exponencialmente maior não apenas de adquirir uma infecção, mas também de evoluir para um quadro grave e fatal (Ref 5, 15). Um patógeno de baixa virulência na comunidade pode ser letal em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Além da vulnerabilidade intrínseca do hospedeiro, o próprio cuidado à saúde introduz fatores de risco. Dispositivos médicos invasivos — como cateteres venosos centrais, ventiladores mecânicos e sondas vesicais — criam portas de entrada artificiais para microrganismos, contornando as defesas anatômicas e imunológicas naturais do hospedeiro. Isso leva diretamente às IRAS mais comuns e temidas: infecções primárias de corrente sanguínea associadas a cateter (IPCSL), pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV) e infecções do trato urinário associadas a cateter (ITU-AC) (Ref 10, 16).
Portanto, a “história natural” de uma IRAS não é meramente a interação entre um patógeno e um hospedeiro. É a interação de um patógeno, um hospedeiro vulnerável e um ambiente que facilita a invasão. As intervenções médicas, embora essenciais para o tratamento, criam vulnerabilidades não naturais. O trabalho do profissional de CCIH é, em essência, gerenciar a “história iatrogênica” da doença, mitigando os riscos criados pelo próprio processo de cuidado. Isso redefine o foco da prevenção, de uma perspectiva de saúde pública geral para uma abordagem de segurança do paciente específica para cada procedimento.
Vigilância Epidemiológica: Da Descrição à Ações Concretas
A vigilância epidemiológica — a coleta, análise e disseminação contínua e sistemática de dados de saúde — é a atividade central de qualquer programa de CCIH (Ref 3, 17, 18). A metodologia de vigilância evoluiu significativamente, passando de sistemas passivos, que dependem de notificações espontâneas, para sistemas ativos e abrangentes que frequentemente utilizam tecnologia para identificar casos em tempo real (Ref 19). Além disso, a vigilância moderna não se limita a monitorar as taxas de infecção (vigilância de resultados), mas também avalia a adesão a práticas preventivas (vigilância de processos), como a higiene das mãos, o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a implementação de “bundles” de prevenção (Ref 10, 12, 17, 13).
A aplicação rigorosa dessa metodologia revelou tendências cruciais na epidemiologia das IRAS. Estudos de vigilância abrangente demonstraram que uma proporção substancial das IRAS, entre 56% e 67%, ocorre fora das UTIs, desafiando o foco tradicional nessas unidades de alto risco (Ref 20, 21). Observou-se também que, enquanto os esforços focados em “bundles” conseguiram reduzir as taxas de infecções associadas a dispositivos, como a IPCSL, as taxas de outras infecções, notadamente a infecção por C. difficile, aumentaram de forma preocupante (Ref 20, 21). Uma meta-análise global recente sugere um aumento anual de 0.06% na taxa geral de IRAS, com prevalência significativamente maior em países de baixa e média renda (Ref 22, 23).
Esse sucesso parcial na prevenção de IRAS gerou um novo desafio. À medida que os programas se tornaram eficazes na redução de infecções “fáceis de medir” e com soluções bem definidas (como IPCSL em UTI), a complexidade do problema remanescente tornou-se mais aparente. A vasta carga de infecções em enfermarias gerais, em populações de pacientes mais heterogêneas e com menos recursos de enfermagem por leito, exige estratégias de vigilância e prevenção ainda mais sofisticadas e sistêmicas. O sucesso inicial não simplificou o trabalho do epidemiologista hospitalar; pelo contrário, revelou a verdadeira escala e complexidade do desafio, forçando uma evolução de táticas focadas para estratégias que abrangem toda a instituição. Hoje, a vigilância não é mais apenas uma ferramenta interna de melhoria da qualidade; os dados de IRAS são publicamente relatados e diretamente ligados ao reembolso financeiro por agências governamentais e seguradoras, transformando a epidemiologia em uma atividade de alto impacto para a reputação e a viabilidade econômica do hospital (Ref 6, 17).
Revisão Bibliográfica e Comentários Adicionais: Integrando a Evidência na Prática Diária
A epidemiologia hospitalar é a ciência que fundamenta a gestão da qualidade e da segurança do paciente (Ref 7, 8). Programas de CCIH bem estruturados e baseados em evidências podem reduzir as taxas de IACS em 32% ou mais (Ref 5). Uma análise da literatura recente reforça essa premissa e ilumina o caminho a seguir.
Artigos publicados no portal ccih.med.br consistentemente posicionam a epidemiologia hospitalar como uma ferramenta de gestão estratégica, essencial para a tomada de decisão baseada em evidências por todas as comissões hospitalares. A vigilância epidemiológica, agora institucionalizada no Brasil, é apresentada como o mecanismo para monitorar tendências, planejar recursos e avaliar a eficácia das intervenções (Ref 7, 8, 24).
Estudos indexados na base BIREME/BVS revelam um hiato preocupante entre a teoria e a prática no Brasil. Uma pesquisa transversal realizada em 25 hospitais de Porto Alegre, por exemplo, identificou um cenário de inadequação dos Serviços de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) à legislação vigente, com subdimensionamento de pessoal que compromete a capacidade de realizar atividades essenciais de vigilância e prevenção (Ref 25, 26).
A literatura internacional, encontrada no PubMed e em periódicos de referência como Infection Control & Hospital Epidemiology (ICHE), Journal of Hospital Infection (JHI) e American Journal of Infection Control (AJIC), aponta para um consenso global sobre as necessidades e direções futuras:
- Infraestrutura e Recursos: Sociedades de especialistas como SHEA, APIC e IDSA defendem vigorosamente que programas de CCIH eficazes exigem recursos adequados, pessoal treinado e uma estrutura de liderança diária (médico e profissional de prevenção). O subfinanciamento desses programas é visto como uma barreira crítica para a segurança do paciente (Ref 17, 18, 27, 28).
- Tendências Epidemiológicas: Estudos longitudinais confirmam a mudança no perfil das IRAS e a importância de expandir a vigilância para além das UTIs, onde reside a maior parte da carga de infecções (Ref 20, 21, 16, 15).
- Epidemiologia Comportamental: Uma fronteira emergente reconhece que a transmissão de infecções é, em última análise, mediada pelo comportamento humano. Modelos que ignoram como a percepção de risco afeta a adesão a práticas seguras (ex: higiene das mãos) são incompletos. A implementação de medidas preventivas é, fundamentalmente, um desafio de mudança de comportamento (Ref 29, 30).
Ao aplicar esses princípios, é crucial considerar fatores limitantes e possíveis confundidores, como a complexidade das comorbidades dos pacientes, a variabilidade das práticas assistenciais e a dificuldade em atribuir causalidade em um ambiente com múltiplas exposições simultâneas.
Conclusões Finais e Recomendações para a Prática
A epidemiologia não é uma disciplina teórica distante, mas a ferramenta mais poderosa e prática disponível para o profissional de controle de infecção. Os princípios fundamentais de classificação, dinâmica de transmissão e vigilância formam o alicerce indispensável sobre o qual todas as estratégias modernas de prevenção de IRAS são construídas (Ref 3). A literatura recente não invalida esses princípios; pelo contrário, demonstra sua aplicação em um cenário de crescente complexidade, pressão regulatória e desafios microbianos. A seguir, são apresentadas recomendações para a prática, integrando os achados desta revisão.
- Fortalecer a Estrutura do SCIH: As instituições de saúde devem investir em seus programas de CCIH, adotando o modelo de liderança impactante e garantindo pessoal qualificado e com tempo exclusivo, conforme recomendado pelas sociedades de especialistas (Ref 28). A adequação do quadro de pessoal não deve ser baseada apenas no número de leitos, mas na complexidade assistencial do hospital (Ref 26).
- Adotar a Vigilância Abrangente: Os programas de CCIH devem expandir a vigilância para além das UTIs e das infecções associadas a dispositivos. É imperativo identificar e abordar a substancial carga de IRAS que ocorre em toda a instituição para obter um impacto significativo na segurança do paciente (Ref 20, 21).
- Integrar a Epidemiologia Comportamental: As estratégias de prevenção e educação devem evoluir para além da simples transmissão de informações. É necessário incorporar princípios da ciência comportamental para entender e superar as barreiras à adesão a práticas seguras, como a higiene das mãos, transformando conhecimento em ação consistente (Ref 13, 30).
- Promover a Tomada de Decisão Baseada em Dados: O SCIH deve se consolidar como um centro de inteligência epidemiológica, fornecendo dados robustos e análises críticas para todas as comissões hospitalares e para a liderança executiva. Essa abordagem orienta a alocação de recursos, a formulação de políticas de segurança e a avaliação da eficácia das intervenções (Ref 7, 8).
- Manter-se em Atualização Contínua: O campo da epidemiologia hospitalar é extremamente dinâmico. A leitura crítica e contínua de periódicos de alto impacto como Infection Control & Hospital Epidemiology (Ref 27, 20, 31, 32, 28), Journal of Hospital Infection (Ref 9, 15, 33) e American Journal of Infection Control (Ref 19, 34) não é um luxo, mas uma responsabilidade profissional essencial para garantir uma prática baseada nas melhores evidências disponíveis.
A força da epidemiologia hospitalar não está apenas em identificar patógenos, mas em traduzir conhecimento em ação estratégica. Os princípios que sustentam a disciplina não perderam validade; ao contrário, se tornaram mais valiosos em um cenário marcado por microrganismos multirresistentes, ambientes assistenciais complexos e expectativas crescentes de desempenho institucional. Investir em infraestrutura robusta, vigilância abrangente e integração da ciência comportamental não é um luxo — é a base para a sustentabilidade e credibilidade das instituições de saúde. O futuro da prevenção de infecções será construído sobre a solidez dos fundamentos clássicos, mas guiado por uma abordagem inovadora e proativa.
Referências Bibliográficas
- KRAUSE, G. Principles of Infectious Disease Epidemiology. In: KRAUSE, G. (ed.). Introduction to Communicable Disease Control.: European Centre for Disease Prevention and Control, 2009. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7178878/.
- EVANS, A. S.; KASLOW, R. A. (eds.). Viral Infections of Humans: Epidemiology and Control. 4th ed. New York: Plenum Publishing, 1997. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7176254/.
- NELSON, K. E. Epidemiology of Infectious Disease: General Principles. In: NELSON, K. E.; WILLIAMS, C. M. (eds.). Infectious Disease Epidemiology: Theory and Practice. 3rd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2014. p. 19-44.
- MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (eds.). Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2010. Review available at: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7128814/. Acesso em: 20 out. 2023.
- PERL, T. M. Hospital Epidemiology and Infection Control in Acute-Care Settings. Clinical Infectious Diseases, v. 52, n. 1, p. 1-2, 2011. Review based on: WEINSTEIN, R. A.; SLAMA, T. G.; MOULDER, K. L. Hospital Epidemiology and Infection Control in Acute-Care Settings. In: Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2010. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3021207/.
- WEINSTEIN, R. A.; SLAMA, T. G.; MOULDER, K. L. Hospital Epidemiology and Infection Control in Acute-Care Settings. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2010. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3021207/.
- INSTITUTO CCIH+. Saiba por que a epidemiologia hospitalar é principal fator de sucesso para uma instituição de saúde e sua carreira.: CCIH, 2023. Disponível em: https://www.ccih.med.br/saiba-por-que-a-epidemiologia-hospitalar-e-principal-fator-de-sucesso-para-uma-instituicao-de-saude-e-sua-carreira/.
- INSTITUTO CCIH+. Saiba por que a epidemiologia hospitalar é principal fator de sucesso para uma instituição de saúde e sua carreira.: CCIH, 2023. Disponível em: https://www.ccih.med.br/saiba-por-que-a-epidemiologia-hospitalar-e-principal-fator-de-sucesso-para-uma-instituicao-de-saude-e-sua-carreira/.
- LI, Y. et al. Eight-year trends in the prevalence of healthcare-associated infections at a tertiary hospital in Western China. Journal of Hospital Infection, v. 102, n. 1, p. 85-91, 2019. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6518586/..
- KHAN, H. A. et al. A Review of Hospital Infection Control and Prevention Strategies. Cureus, v. 15, n. 11, p. e48567, 2023. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10801286/.
- GOODMAN, R. A.; BUEHLER, J. W. Field Epidemiology. In: GREGG, M. B. (ed.). Field Epidemiology. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2008. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7152219/.
- INTERNATIONAL SOCIETY FOR INFECTIOUS DISEASES. Guide to Infection Control in the Healthcare Setting. Brookline, MA: ISID, [s.d.]. Disponível em: https://isid.org/guide/.
- POWERS, K. A. Consistent Infection Prevention: A Cornerstone of Patient Safety. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, v. 22, n. 1, 2017. Disponível em: https://ojin.nursingworld.org/table-of-contents/volume-22-2017/number-1-january-2017/consistent-infection-prevention/.
- KRAUSE, G.. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, v. 48, n. 9, p. 1013-1019, 2005. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16160889/.
- VAN DER SCHANS, J. et al. Trends in healthcare-associated infections in Dutch long-term care facilities: a 7-year surveillance study. Journal of Hospital Infection, v. 101, n. 2, p. 152-158, 2019. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6805744/.
- LIM, C. J. et al. Changing epidemiology of catheter-related bloodstream infections in a Spanish hospital. Journal of Hospital Infection, v. 113, p. 143-149, 2022. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35551704/.
- WRIGHT, S. B. et al. Requirements for infrastructure and essential activities of infection prevention and control programs: A consensus statement (SHEA/APIC/IDSA/PIDS). Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 40, n. 1, p. 1-19, 2019. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6481289/.
- TALBOT, T. R. et al. Sustaining the Sisyphus Syndrome: How to Support the Infection Prevention and Control Program. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1017/ice.2025.73.
- APIC. Professional Practice Overview. Arlington, VA: APIC, [s.d.]. Disponível em: https://apic.org/professional-practice/overview/.
- WEBER, D. J. et al. Longitudinal Trends in All Healthcare-Associated Infections through Comprehensive Hospital-wide Surveillance and Infection Control Measures over the Past 12 Years: Substantial Burden of Healthcare-Associated Infections Outside of Intensive Care Units and “Other” Types of Infection. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 36, n. 8, p. 889-895, 2015. Disponível em:(https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/longitudinal-trends-in-all-healthcareassociated-infections-through-comprehensive-hospitalwide-surveillance-and-infection-control-measures-over-the-past-12-years-substantial-burden-of-healthcareassociated-infections-outside-of-intensive-care-units-and-other-types-of-infection/46E8B0122F99F91159EF01E381C4BDBC ).
- WEBER, D. J. et al. Longitudinal Trends in All Healthcare-Associated Infections… Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 36, n. 8, p. 889-895, 2015. Disponível em:(https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/longitudinal-trends-in-all-healthcareassociated-infections-through-comprehensive-hospitalwide-surveillance-and-infection-control-measures-over-the-past-12-years-substantial-burden-of-healthcareassociated-infections-outside-of-intensive-care-units-and-other-types-of-infection/46E8B0122F99F91159EF01E381C4BDBC).
- KALANTAR, A. et al. Global prevalence of nosocomial infections: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, v. 18, n. 1, p. e0274248, 2023. Disponível em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0274248
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. Geneva: WHO, 2011. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/80135/9789241501507_eng.pdf.
- INSTITUTO CCIH+. Organização e programa do controle das infecções hospitalares.: CCIH, [s.d.]. Disponível em: https://www.ccih.med.br/wp-content/uploads/2023/04/capitulo82-Organizacao-e-programa-do-controle-das-infeccoes-hospitalares-.pdf.
- PADILHA, J. M. et al. Serviços de Controle de Infecção Hospitalar: características, dimensionamento e atividades realizadas. Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, v. 12, n. 1, p. 35-45, 2014. Disponível em:(https://docs.bvsalud.org/upload/S/1679-1010/2014/v12n1/a4041.pdf).
- PADILHA, J. M. et al. Serviços de Controle de Infecção Hospitalar: características, dimensionamento e atividades realizadas. Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, v. 12, n. 1, p. 35-45, 2014. Disponível em:(https://docs.bvsalud.org/upload/S/1679-1010/2014/v12n1/a4041.pdf).
- SHEA. Infection Control & Hospital Epidemiology. Cambridge: Cambridge University Press. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology.
- SCHECKLER, W. E. et al. Requirements for infrastructure and essential activities of infection control and epidemiology in out-of-hospital settings: a consensus panel report. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 22, n. 10, p. 659-672, 2001. Disponível em:(https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/requirements-for-infrastructure-and-essential-activities-of-infection-control-and-epidemiology-in-outofhospital-settings-a-consensus-panel-report/9B36842F79FC3FFC96E50E766E1A5A50).
- AJIBOLA, S. et al. Behavioral epidemiology of infectious diseases: an overview. Journal of Mathematical Biology, v. 68, p. 1411-1443, 2014. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7121071/.
- AJIBOLA, S. et al. Behavioral epidemiology of infectious diseases: an overview. Journal of Mathematical Biology, v. 68, p. 1411-1443, 2014. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7121071/..
- CRAVEN, R. B. The Principles and Practice of Infectious Diseases by Gerald L. Mandell, R. Gordon DouglasJr., and John E. Bennett. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 2, n. 2, p. 89-93, 1981. Disponível em:(https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/principles-and-practice-of-infectious-diseases-by-gerald-l-mandell-r-gordon-douglasjr-and-john-e-bennett-new-york-john-wiley-and-sons-1979-7200/77AC9D0C0A1147362DAFAC6F99F3A2CF).
- WOLTERSKLUWER. Infection Control & Hospital Epidemiology.: Wolters Kluwer, [s.d.]. Disponível em: https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/infection-control–hospital-epidemiology-1248.
- ABBAS, M. et al. Temporal trends and epidemiology of Staphylococcus aureus surgical site infection in the Swiss surveillance network: a cohort study. Journal of Hospital Infection, v. 98, n. 2, p. 118-126, 2018. Disponível em: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/142677/.
- SPICE. Infection Control References and Resource Materials. Chapel Hill, NC: SPICE, 2016. Disponível em:(https://spice.unc.edu/wp-content/uploads/2016/12/Infection-Control-References-and-Resource-Materials.pdf).
Elaborado por:
Antonio Tadeu Fernandes:
https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/
https://www.instagram.com/tadeuccih/
#pesquisaqualitativa #grupofocal #entrevistasemiestruturada #observaçãoetnográfica #ccih
Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação
Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:
MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção
MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização
MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica
Especialização em Farmácia Clínica e Hospitalar
Pós-graduação em Farmácia Oncológica