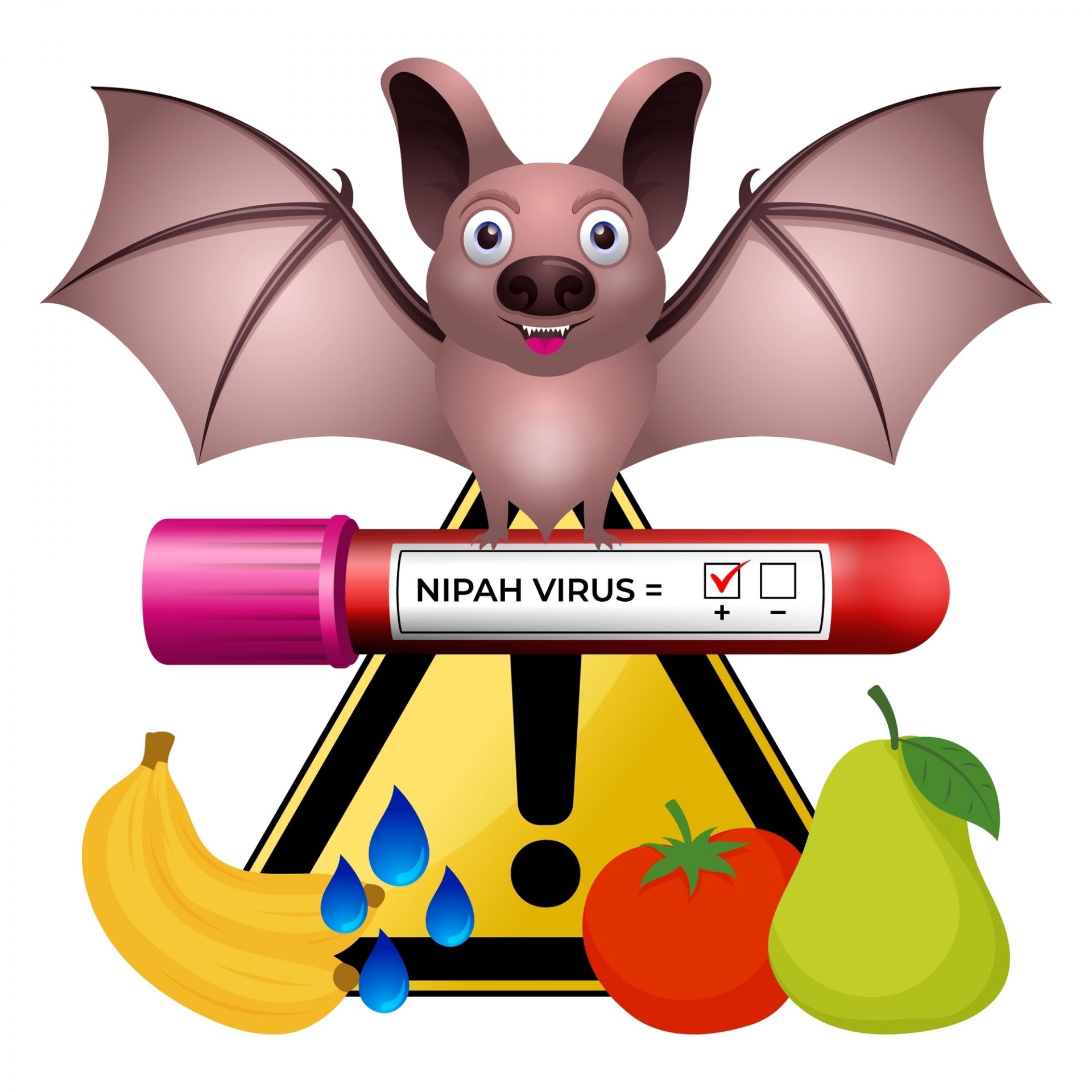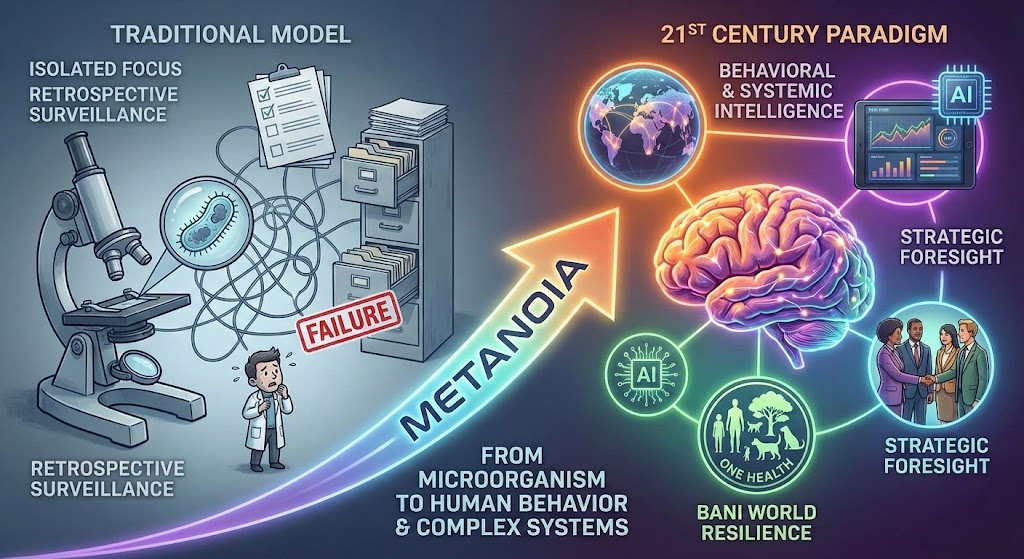O controle e tratamento de infecções baseado em antibióticos e controle da resistência anti-microbiana está atingindo seus limites. O futuro está no Imuno-stewardship como veremos neste artigo. Vamos nos preparar para estarmos na vanguarda da CCIH?
Por décadas, o controle de infecção hospitalar concentrou-se no ambiente e no patógeno: desinfecção, esterilização, barreiras e antibióticos. Mas a alta mortalidade por infecções hospitalares persiste — principalmente entre pacientes críticos. O motivo? Muitas vezes, a guerra decisiva acontece dentro do próprio organismo: o colapso da imunidade celular.
Este artigo propõe uma mudança de paradigma. Em vez de olhar apenas para o patógeno, precisamos considerar a imunidade do paciente como alvo estratégico. A partir do papel dos linfócitos T e da ameaça da imunoparalisia induzida pela sepse, discutimos o conceito emergente de Imuno-Stewardship, que pode redefinir a segurança do paciente no século XXI.
FAQ: Imuno-Stewardship no Controle de Infecção para Profissionais de Saúde
Esta seção de perguntas e respostas foi desenvolvida para orientar médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais da saúde sobre os conceitos e a aplicação prática do Imuno-Stewardship, uma nova fronteira no manejo de pacientes e no controle de infecções hospitalares.
Seção 1: Conceitos Fundamentais
- O que é Imuno-Stewardship?
É uma abordagem proativa e personalizada de cuidado ao paciente que visa monitorar, proteger e modular o sistema imunológico. O foco principal é fortalecer as defesas do próprio paciente para prevenir e tratar infecções, indo além da dependência exclusiva dos antibióticos.
- Qual a principal diferença entre Imuno-Stewardship e Stewardship de Antimicrobianos?
Enquanto o Stewardship de Antimicrobianos foca no uso correto e racional dos antibióticos (a “semente”), o Imuno-Stewardship foca em otimizar a resposta imune do paciente (o “terreno”). Eles são complementares: um visa combater o patógeno diretamente, e o outro, fortalecer o hospedeiro para que ele mesmo combata a infecção.
- Por que o Imuno-Stewardship é considerado o “futuro” do controle de infecção?
Porque a estratégia de combater infecções apenas com novos antibióticos está se mostrando limitada devido ao aumento da resistência microbiana. Fortalecer o sistema imune do paciente é uma estratégia sustentável e essencial para melhorar os desfechos, especialmente em pacientes críticos.
- Quais são os três pilares de ação do Imuno-Stewardship?
Os pilares práticos são: 1) Monitorar o estado imunológico de pacientes de alto risco; 2) Proteger o sistema imune de danos (ex: uso criterioso de imunossupressores); e 3) Modular a resposta imune com terapias específicas quando necessário.
- O que é “imunoparalisia” e qual sua relação com o Imuno-Stewardship?
Imunoparalisia é um estado de disfunção e exaustão do sistema imune, comum em pacientes após um insulto grave como a sepse. Pacientes nesse estado têm alto risco de desenvolver infecções secundárias. O Imuno-Stewardship busca identificar precocemente essa condição para intervir e restaurar a competência imune.
Seção 2: Aplicação Clínica e Prática
- Como o médico pode aplicar o Imuno-Stewardship na prática diária?
O médico pode aplicar os conceitos ao solicitar biomarcadores para avaliar o status imune de pacientes sépticos, interpretar esses marcadores para estratificar o risco de infecções secundárias e considerar terapias imunomoduladoras em casos selecionados, além de revisar prescrições que possam comprometer a imunidade.
- Referência(s): Dia Mundial da Sepse 2024 – Instituto CCIH+
- Qual o papel do farmacêutico clínico no Imuno-Stewardship?
O farmacêutico pode atuar na revisão da farmacoterapia para identificar e sugerir ajustes em medicamentos com potencial imunossupressor, auxiliar na escolha e dosagem de terapias imunomoduladoras e garantir o uso racional de antimicrobianos, trabalhando de forma integrada com a equipe médica.
- Referência(s): Stewardship de antimicrobianos: gerenciando o uso dos antimicrobianos para salvar vidas
- Como a equipe de enfermagem participa ativamente do Imuno-Stewardship?
A enfermagem é fundamental na linha de frente para monitorar sinais precoces de deterioração ou de infecção secundária, coletar amostras para análise de biomarcadores de forma correta, administrar terapias imunomoduladoras e implementar barreiras de proteção para minimizar a exposição a patógenos.
- Que tipos de pacientes mais se beneficiam dessa abordagem?
Pacientes de alto risco, como os internados em UTI com choque séptico, grandes queimados, politraumatizados, pacientes em uso de quimioterapia ou com imunodeficiências congênitas ou adquiridas.
- Referência(s): GUIA PRÁTICO DE TERAPIA ANTIMICROBIANA NA SEPSE
- Quais biomarcadores são utilizados para monitorar a função imune?
O artigo destaca o mHLA-DR como um marcador robusto para avaliar a função de monócitos e identificar a imunoparalisia. Outros biomarcadores como a Procalcitonina (PCT) e a Proteína C-Reativa (PCR) também são úteis para auxiliar na diferenciação entre processos inflamatórios e infecciosos.
- Referência(s): Diagnóstico de IRAS ANVISA 2025 – explicando os novos parâmetros clínicos laboratoriais
- O que são terapias imunoestimulantes e quando usá-las?
São medicamentos que visam restaurar ou fortalecer a função do sistema imune, como o GM-CSF (fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos) ou a Interleucina-7. Devem ser usadas de forma direcionada, apenas em pacientes com diagnóstico confirmado de imunoparalisia, para evitar uma resposta inflamatória exacerbada.
- Como o Imuno-Stewardship se aplica no tratamento da sepse?
Na sepse, o Imuno-Stewardship permite identificar a fase da resposta imune do paciente (hiperinflamatória ou hipoinflamatória/imunoparalisia). Isso ajuda a personalizar o tratamento, indicando se o paciente precisa de anti-inflamatórios ou de imunoestimulantes, além da antibioticoterapia e suporte hemodinâmico.
- Referência(s): Dia Mundial da Sepse 2024 – Instituto CCIH+
Seção 3: Desafios e Futuro
- Quais os principais desafios para implementar o Imuno-Stewardship nos hospitais?
Os desafios incluem o custo e a disponibilidade de testes para biomarcadores como o mHLA-DR, a necessidade de treinamento das equipes para interpretar esses novos dados e a mudança cultural de uma abordagem reativa (tratar a infecção) para uma proativa (prevenir a infecção otimizando a imunidade).
- O Imuno-Stewardship pode ajudar a reduzir o uso de antibióticos?
Sim, indiretamente. Ao fortalecer o sistema imune do paciente para prevenir infecções secundárias, a necessidade de ciclos adicionais ou de amplo espectro de antibióticos pode ser reduzida, contribuindo para as metas do Stewardship de Antimicrobianos.
- Qual a importância de proteger o microbioma intestinal dentro dessa estratégia?
O microbioma intestinal é um componente vital do sistema imune. O uso indiscriminado de antibióticos pode destruí-lo, aumentando o risco de infecções como a por Clostridioides difficile. Proteger o microbioma é uma das estratégias do pilar “Proteger” do Imuno-Stewardship.
- O “alerta de risco imunológico” mencionado no artigo já é uma realidade?
Ainda não é uma prática disseminada, mas é uma proposta concreta. A ideia é que, assim como existe um alerta para risco de sepse, um biomarcador alterado (como mHLA-DR baixo) dispare um alerta para que a equipe reavalie o paciente e considere medidas profiláticas personalizadas.
- Onde a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) entra nesse processo?
A CCIH tem um papel central de liderança, promovendo a educação das equipes, desenvolvendo protocolos para monitoramento imune, avaliando os resultados e defendendo a incorporação dessas novas práticas na rotina hospitalar para redefinir a segurança do paciente.
Seção 4: Educação e Recursos Adicionais
- Onde posso encontrar mais informações sobre Stewardship em geral?
O canal do YouTube do Instituto CCIH+ possui vídeos e discussões sobre o tema, abordando o papel do stewardship no combate à resistência microbiana e outras facetas do controle de infecção.
- Referência(s): Instituto CCIH + – YouTube (Vídeos sobre Stewardship)
- Existem cursos ou materiais de aprofundamento sobre este e outros temas de controle de infecção?
Sim, o site do Instituto CCIH+ oferece informações sobre cursos de pós-graduação e outros materiais educativos que abrangem desde o stewardship de antimicrobianos até as mais novas tendências em segurança do paciente e epidemiologia hospitalar.
- Referência(s): Site Oficial – Instituto CCIH+
- Qual a mensagem final do Imuno-Stewardship para os profissionais de saúde?
A mensagem é que devemos olhar para o paciente de forma integral. O controle de infecção moderno não é apenas sobre combater o micróbio, mas sobre criar um hospedeiro resiliente. O Imuno-Stewardship nos convida a sermos guardiões da imunidade dos nossos pacientes.
Introdução: O Campo de Batalha Interior
No complexo ecossistema de uma instituição de saúde, a batalha contra as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) é travada em múltiplas frentes. Por décadas, o foco predominante do controle de infecção hospitalar tem sido direcionado ao ambiente e ao patógeno: a desinfecção de superfícies, a esterilização de materiais, a higiene das mãos e o uso criterioso de antimicrobianos (Ref. 33). Estas são, inquestionavelmente, as pedras angulares da segurança do paciente. Contudo, uma perspectiva emergente, impulsionada por avanços na imunologia e microbiologia, nos compele a voltar nosso olhar para um campo de batalha frequentemente subestimado, mas absolutamente central: o próprio paciente. Um paciente que adentra um hospital não é uma tela em branco, mas um ecossistema complexo, cujo equilíbrio interno está prestes a ser profundamente desafiado (Ref. 33). O verdadeiro campo de batalha contra a infecção hospitalar não é a superfície inanimada, mas o terreno biológico do hospedeiro.
Neste cenário, a imunidade mediada por células, orquestrada com precisão pelos linfócitos T, emerge como a vanguarda silenciosa que determina o desfecho de inúmeros desafios microbianos no ambiente hospitalar. Estes linfócitos são os maestros de uma sinfonia defensiva, cuja função adequada é a diferença entre a contenção de um patógeno e o desenvolvimento de uma infecção grave (Ref. 1, 10). A falha ou desregulação desta vanguarda, especialmente em pacientes críticos, cria uma vulnerabilidade profunda que as estratégias tradicionais de controle de infecção, focadas no exterior, não conseguem mitigar sozinhas. Este artigo propõe uma jornada desde a arquitetura fundamental da defesa celular até as aplicações clínicas de vanguarda que estão redefinindo a prevenção de infecções, defendendo um novo paradigma: o Imuno-Stewardship, uma abordagem que coloca o fortalecimento das defesas do paciente no centro do cuidado (Ref. 33).
A Arquitetura da Defesa Celular: Linfócitos T como Maestros da Resposta Imune
A principal função do sistema imunológico é combater doenças infecciosas, uma tarefa dividida entre a imunidade humoral, mediada por anticorpos, e a imunidade celular, mediada por células (Ref. 1). Embora diversas células contribuam para a resposta celular, os linfócitos T representam o ator central neste processo, conferindo especificidade, orquestrando as atividades de outras células imunes e eliminando diretamente as células do hospedeiro que foram infectadas por microrganismos (Ref. 1, 10).
O Reconhecimento do “Não-Próprio”
No cerne da imunidade celular está a extraordinária capacidade dos linfócitos T de distinguir o “próprio” (células do corpo) do “não-próprio” (patógenos ou células alteradas). Essa capacidade é mediada pelo Receptor de Células T (TCR), uma estrutura molecular na superfície do linfócito que é única para cada clone celular (Ref. 1). Através de um processo de recombinação somática durante seu desenvolvimento no timo, o sistema imune gera um repertório vastíssimo de TCRs, estimado em cerca de 25 milhões de clonótipos distintos em humanos, garantindo que exista um linfócito T pré-programado para reconhecer praticamente qualquer antígeno microbiano que o corpo possa encontrar (Ref. 9). Este reconhecimento inicial é o gatilho que desencadeia toda a cascata da resposta imune adaptativa.
A Dupla Linha de Comando: CD4+ e CD8+
Os linfócitos T são amplamente categorizados em dois subconjuntos principais com base na expressão de correceptores de superfície: CD4 e CD8. Essas duas populações, embora originadas de um mesmo progenitor, desempenham papéis funcionalmente distintos e complementares, formando uma dupla linha de comando essencial para uma defesa eficaz (Ref. 1, 10).
Os linfócitos T CD4+, frequentemente chamados de “auxiliares” ou “maestros”, são os principais coordenadores da resposta imune. Sua estratégia primária não é o combate direto, mas a secreção de um arsenal de moléculas sinalizadoras chamadas citocinas e quimiocinas. Essas moléculas atuam como mensageiros, recrutando e ativando outras células do sistema imune, como macrófagos, neutrófilos e linfócitos B, nos locais de infecção (Ref. 1, 2). Eles ditam a natureza, a magnitude e a duração da resposta imune, adaptando-a ao tipo específico de patógeno encontrado.
Por outro lado, os linfócitos T CD8+, conhecidos como “linfócitos T citotóxicos” (CTLs) ou “executores”, são a força de combate direto da imunidade celular. Sua principal função é patrulhar o corpo em busca de células que foram infectadas, por exemplo, por vírus ou bactérias intracelulares. Ao reconhecer uma célula infectada, o CTL libera proteínas líticas, como perforina e granzimas, que induzem a célula alvo à apoptose (morte celular programada) (Ref. 14). Este ato de “sacrifício” celular é vital, pois elimina o nicho de replicação do patógeno, impedindo sua disseminação e controlando a infecção (Ref. 1, 14).
O Diálogo Molecular: Apresentação de Antígenos via MHC
Para que os linfócitos T possam exercer suas funções, eles precisam que os antígenos (pequenos fragmentos de proteínas microbianas) lhes sejam “apresentados” de uma maneira específica. Esse papel é desempenhado pelas moléculas do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC), que funcionam como plataformas de exibição na superfície celular (Ref. 1). O sistema MHC é a base molecular para o reconhecimento do “próprio” versus “não-próprio” e sua integridade é absolutamente essencial.
Existem duas classes principais de moléculas MHC, que dialogam com os diferentes subconjuntos de linfócitos T:
- MHC de Classe I: Estas moléculas estão presentes na superfície de quase todas as células nucleadas do corpo. Sua função é apresentar peptídeos derivados de proteínas que estão dentro da célula (antígenos endógenos), como proteínas virais durante uma infecção. Os complexos peptídeo-MHC de classe I são especificamente reconhecidos pelos linfócitos T CD8+. Isso permite que os CTLs monitorem a saúde de todas as células do corpo e eliminem seletivamente aquelas que abrigam patógenos intracelulares (Ref. 1).
- MHC de Classe II: Em contraste, estas moléculas são expressas apenas por um grupo especializado de células chamadas Células Apresentadoras de Antígenos (APCs), que incluem células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. A função das APCs é capturar patógenos do ambiente extracelular, processá-los em peptídeos e apresentá-los via MHC de classe II (antígenos exógenos). Esses complexos são reconhecidos exclusivamente pelos linfócitos T CD4+. Essa interação é o evento crucial que inicia e molda a resposta imune adaptativa, pois é a ativação do linfócito T CD4+ que irá orquestrar a resposta subsequente (Ref. 1, 2).
A importância crítica deste sistema é dramaticamente ilustrada por doenças de imunodeficiência primária, como a Síndrome do Linfócito Nu, onde defeitos genéticos impedem a expressão de moléculas de MHC. Pacientes com deficiência de MHC de classe II, por exemplo, sofrem de infecções bacterianas, fúngicas e virais graves e recorrentes, pois seus linfócitos T CD4+ não podem ser ativados (Ref. 5). Esses raros “experimentos da natureza” provam de forma inequívoca que o complexo diálogo molecular entre APCs e linfócitos T não é apenas um detalhe acadêmico, mas um processo vital e não redundante para a sobrevivência do hospedeiro. Sua falha, mesmo que parcial e transitória em um paciente crítico, pode ter consequências devastadoras.
A Orquestra Especializada: A Plasticidade dos Linfócitos T CD4+
Uma vez que um linfócito T CD4+ virgem (naïve) é ativado por uma APC em um linfonodo, ele não se torna apenas uma célula efetora genérica. Em vez disso, ele passa por um processo de diferenciação em um subconjunto especializado, cuja função é otimizada para combater o tipo específico de patógeno que desencadeou a resposta. Esse processo de diferenciação é guiado pelo ambiente de citocinas presente no momento da ativação, um reflexo da natureza do invasor (Ref. 2). Essa plasticidade permite que o sistema imune monte uma resposta altamente personalizada e eficaz. A compreensão desses subconjuntos é fundamental para entender as vulnerabilidades específicas a diferentes tipos de infecções hospitalares.
Th1: A Resposta Contra Invasores Intracelulares
A diferenciação em células T auxiliares do tipo 1 (Th1) é impulsionada pela presença de citocinas como a Interleucina-12 (IL-12) e o Interferon-gama (IFN-γ) (Ref. 2, 3). Essa via é governada pelo fator de transcrição mestre T-bet, que programa a célula para se tornar uma produtora proficiente de IFN-γ (Ref. 3, 11). O IFN-γ é a citocina assinatura da resposta Th1 e sua principal função é “super-ativar” os macrófagos, aumentando drasticamente sua capacidade de destruir patógenos intracelulares que eles fagocitaram, como Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp. e fungos dimórficos (Ref. 3). A relevância clínica desta via é inquestionável: defeitos genéticos em qualquer componente da via IL-12/IFN-γ resultam em uma condição conhecida como Suscetibilidade Mendeliana a Doenças Micobacterianas (MSMD), na qual os indivíduos sofrem de infecções graves e disseminadas por micobactérias e outros patógenos intracelulares (Ref. 4).
Th2: Defesa Contra Helmintos e o Paradoxo Alérgico
Em contraste, quando a ativação de um linfócito T CD4+ ocorre na presença de IL-4, ele se diferencia em uma célula T auxiliar do tipo 2 (Th2) (Ref. 3). O fator de transcrição mestre para esta linhagem é o GATA3 (Ref. 3, 11). As células Th2 produzem um conjunto característico de citocinas, incluindo IL-4, IL-5 e IL-13. Esta resposta é classicamente associada à defesa contra parasitas extracelulares, como os helmintos. As citocinas Th2 promovem o recrutamento de eosinófilos, a produção de muco e a produção de anticorpos do tipo IgE, mecanismos que ajudam a expulsar fisicamente os parasitas do corpo (Ref. 3). Embora menos proeminente no contexto das IRAS bacterianas típicas, a desregulação da resposta Th2 está no cerne das doenças alérgicas.
Th17: Os Guardiões das Barreiras Mucocutâneas
A descoberta das células T auxiliares do tipo 17 (Th17) revolucionou a compreensão da imunidade em superfícies de barreira. A diferenciação Th17 é induzida por uma combinação de Fator de Crescimento Transformador-beta (TGF-β) e IL-6, e é mantida e estabilizada pela IL-23 (Ref. 5, 11). As células Th17 são assim chamadas por sua produção das citocinas assinatura IL-17A e IL-17F, bem como IL-22 (Ref. 5).
A função primordial da via Th17 é a defesa em locais de barreira como a pele, o trato gastrointestinal e os pulmões. A IL-17 atua sobre as células epiteliais e outras células estromais, induzindo-as a produzir quimiocinas que recrutam massivamente neutrófilos para o local da infecção. Além disso, estimula a produção de peptídeos antimicrobianos, que são antibióticos naturais (Ref. 5). Esta resposta é, portanto, absolutamente crítica para o controle de bactérias extracelulares (como Klebsiella pneumoniae) e, crucialmente, de fungos, especialmente Candida spp. (Ref. 5, 21, 23). A prova definitiva da importância desta via em humanos vem de pacientes com defeitos genéticos na sinalização de IL-17, que sofrem de Candidíase Mucocutânea Crônica (CMC), uma condição caracterizada por infecções fúngicas persistentes e debilitantes da pele, unhas e mucosas (Ref. 4, 24).
Tregs (Reguladores): Os Pacificadores do Sistema Imune
Toda resposta imune poderosa acarreta o risco de causar dano colateral aos tecidos do hospedeiro. Para manter o equilíbrio e prevenir a autoimunidade, o sistema imune possui um subconjunto especializado de células T CD4+ chamado de células T reguladoras (Tregs) (Ref. 6). Sua diferenciação é induzida na presença de TGF-β e depende do fator de transcrição mestre FOXP3 (Ref. 3, 6). A função das Tregs é suprimir ativamente as respostas imunes, liberando citocinas imunossupressoras como IL-10 e TGF-β (Ref. 3). No contexto de uma infecção, o papel das Tregs é uma faca de dois gumes: elas são benéficas ao limitar a imunopatologia e o dano tecidual excessivo, mas, se excessivamente ativas, podem impedir a eliminação completa do patógeno, contribuindo para a cronicidade da infecção (Ref. 6).
Tfh (Foliculares): Os Arquitetos da Resposta Humoral
Finalmente, as células T auxiliares foliculares (Tfh) representam um subconjunto distinto que é essencial para o desenvolvimento da imunidade humoral de alta qualidade (Ref. 6). Induzidas por citocinas como IL-6 e IL-21 e dependentes do fator de transcrição BCL6, as células Tfh migram para os centros germinativos dos linfonodos (Ref. 3, 6). Lá, elas fornecem ajuda crítica aos linfócitos B, orientando-os a passar por um processo de maturação de afinidade e troca de classe de imunoglobulina. O resultado é a produção de anticorpos de alta afinidade e longa duração, que são a base da proteção conferida pela maioria das vacinas atuais (Ref. 6, 11).
A existência desses subconjuntos especializados tem uma implicação profunda e muitas vezes negligenciada para as IRAS: diferentes pacientes, mesmo com a mesma condição subjacente, podem ter vulnerabilidades distintas com base em desequilíbrios sutis em sua polarização de células T. Um paciente em uso de certos biológicos que afetam a via da IL-17, por exemplo, torna-se um alvo primário para uma infecção invasiva por Candida. Um paciente crítico cuja resposta Th1 está suprimida torna-se vulnerável à reativação de vírus latentes. Isso sugere que a estratificação de risco para IRAS no futuro deve evoluir para além de rótulos genéricos como “imunocomprometido” para uma avaliação mais detalhada das vulnerabilidades imunológicas específicas de cada paciente.
A tabela a seguir resume as características-chave desses subconjuntos de linfócitos T CD4+.
Tabela 1: Subconjuntos de Linfócitos T CD4+ Auxiliares e suas Funções na Defesa do Hospedeiro
| Subconjunto | Principais Citocinas Indutoras | Fator de Transcrição Mestre | Citocinas Efetoras | Alvo Microbiano Primário | Relevância em Infecções Hospitalares |
| Th1 | IL-12, IFN-γ | T-bet | IFN-γ, TNF | Bactérias e protozoários intracelulares, vírus | Defesa contra Mycobacterium, Listeria, reativação viral (CMV, HSV) |
| Th2 | IL-4 | GATA3 | IL-4, IL-5, IL-13 | Helmintos, parasitas extracelulares | Menos proeminente em IRAS bacterianas; papel em reações alérgicas a fármacos |
| Th17 | TGF-β, IL-6, IL-23 | ROR | IL-17A, IL-17F, IL-22 | Bactérias extracelulares, fungos | Defesa crucial contra Candida spp., Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae |
| Treg | TGF-β | FOXP3 | IL-10, TGF-β | (Regulação imune) | Limita o dano tecidual na sepse, mas pode prejudicar a eliminação de patógenos |
| Tfh | IL-6, IL-21 | BCL6 | IL-21 | (Ajuda às células B) | Essencial para respostas de anticorpos e imunidade vacinal |
Fonte: Elaborado com base em Lionakis & Hohl (Ref. 1, 2, 3, 5, 6, 11)
Memória Imunológica: A Biblioteca Estratégica de Defesas do Organismo
Uma das características mais notáveis e poderosas do sistema imune adaptativo é a memória imunológica. Esta capacidade de “lembrar” de encontros passados com patógenos é a base para a imunidade duradoura após uma infecção natural ou vacinação, permitindo uma resposta muito mais rápida e eficaz a uma reexposição (Ref. 1, 8, 13).
O Legado de uma Infecção
Após a fase inicial de expansão e resposta efetora, quando a maioria dos linfócitos T ativados morre por apoptose, uma pequena fração sobrevive e se diferencia em células de memória de longa duração (Ref. 7). Essas células podem persistir no corpo por anos, ou mesmo por toda a vida, em um estado de prontidão, independentemente da exposição contínua ao antígeno (Ref. 8, 13). A manutenção dessas células de memória depende de citocinas homeostáticas, como IL-7 e IL-15, que garantem sua sobrevivência e proliferação lenta (Ref. 8). Quando o mesmo patógeno invade o corpo novamente, essas células de memória são rapidamente ativadas, montando uma resposta secundária que é muito mais rápida, de maior magnitude e qualitativamente superior à resposta primária, muitas vezes eliminando o patógeno antes que ele possa causar doença (Ref. 7).
As Tropas de Elite da Memória
As células T de memória não são uma população homogênea. Elas são divididas em vários subconjuntos com diferentes localizações e funções, trabalhando em conjunto para fornecer uma proteção abrangente (Ref. 8, 13):
- Células de Memória Central (Tcm): Como o nome sugere, essas células residem principalmente em órgãos linfoides secundários, como linfonodos e baço. Elas expressam receptores de homing linfonodal como CCR7 e CD62L. As Tcm têm uma capacidade proliferativa excepcional e, após a reativação, podem se diferenciar rapidamente em células efetoras e também reabastecer os outros pools de memória. Elas são a reserva estratégica do sistema imune (Ref. 8, 13).
- Células de Memória Efetora (Tem): Em contraste com as Tcm, as Tem perderam a expressão de receptores de homing linfonodal e, em vez disso, patrulham ativamente os tecidos periféricos não linfoides, o sangue e a linfa. Elas estão prontas para exercer funções efetoras imediatas, como a produção de citocinas (no caso de CD4+ Tem) ou citotoxicidade (no caso de CD8+ Tem), assim que encontram o antígeno no local da infecção (Ref. 8, 13).
- Células de Memória Residentes em Tecidos (Tʀᴍ): Esta é uma população de células de memória descoberta mais recentemente e de importância crítica. As Tʀᴍ não recirculam. Após uma infecção, elas se estabelecem permanentemente em tecidos de barreira, como a pele, o trato respiratório, o intestino e o trato genital. Elas atuam como sentinelas na linha de frente, prontas para uma resposta imediata e localizada no exato portal de entrada do patógeno. Ao detectar uma reinfecção, as Tʀᴍ liberam rapidamente citocinas e quimiocinas que ativam as defesas inatas locais e recrutam outras células imunes, contendo a infecção antes que ela se torne sistêmica (Ref. 7, 8, 13).
O Caso Staphylococcus aureus: Uma Falha de Memória
A compreensão da memória imunológica lança uma luz crítica sobre um dos desafios mais frustrantes no campo das IRAS: o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra Staphylococcus aureus. S. aureus é um dos principais agentes de infecções hospitalares, e o aumento de cepas resistentes a antibióticos, como o MRSA, torna a prevenção uma prioridade urgente (Ref. 15). No entanto, apesar de décadas de pesquisa, todas as vacinas contra S. aureus que chegaram a ensaios clínicos falharam, mesmo quando induziam respostas robustas de anticorpos (Ref. 15, 16).
A análise dessas falhas revela uma lição imunológica fundamental. As vacinas testadas foram projetadas principalmente para estimular a imunidade humoral, ou seja, a produção de anticorpos. Embora os anticorpos possam neutralizar toxinas e opsonizar bactérias para fagocitose, evidências crescentes de modelos animais e de pacientes com imunodeficiências sugerem que a proteção robusta e duradoura contra S. aureus depende criticamente da imunidade mediada por células T (Ref. 15, 16, 20). Especificamente, respostas eficazes requerem a geração de células Th1 e Th17, que ativam macrófagos e recrutam neutrófilos, respectivamente, para eliminar as bactérias (Ref. 16).
O desafio com patógenos como S. aureus não é apenas criar uma resposta imune, mas criar o tipo certo de resposta no lugar certo. A colonização da pele e das narinas é o principal fator de risco para infecções subsequentes. Portanto, uma vacina eficaz provavelmente precisaria gerar uma população robusta de células T de memória residentes em tecidos (Tʀᴍ) na pele e na mucosa nasal. Essas sentinelas locais poderiam controlar o patógeno no ponto de colonização, prevenindo a invasão. As estratégias de vacinação tradicionais, como injeções intramusculares, são excelentes para gerar anticorpos sistêmicos e células T de memória circulantes (Tcm e Tem), mas são ineficazes na geração de Tʀᴍ em locais de barreira distantes. Isso sugere que futuras vacinas contra S. aureus podem precisar de novas abordagens, como a administração intradérmica ou intranasal, para induzir o tipo de memória T celular localizada que é necessária para uma proteção verdadeiramente eficaz.
O Paradoxo da UTI: Imunoparalisia Induzida pela Sepse e a Janela para Infecções Nosocomiais
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o epicentro da medicina moderna, mas também representa um ambiente de risco extremo para infecções. O paradoxo reside no fato de que a própria resposta do corpo a uma infecção grave inicial, a sepse, pode ser o fator que mais predispõe o paciente a adquirir uma segunda infecção, muitas vezes fatal, no hospital. Este fenômeno, conhecido como imunossupressão induzida pela sepse ou “imunoparalisia”, representa a conexão mais direta e clinicamente relevante entre a disfunção da imunidade celular e o trabalho diário do profissional de controle de infecção (Ref. 17, 18, 19).
De Resposta Protetora a Desregulação Letal
A sepse é definida como uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção (Ref. 17). Inicialmente, a resposta do hospedeiro é caracterizada por uma tempestade inflamatória maciça, conhecida como Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS), destinada a eliminar o patógeno invasor (Ref. 18). No entanto, em muitos pacientes que sobrevivem a essa fase inicial, a resposta imune sofre uma transição dramática para um estado de profunda e prolongada imunossupressão (Ref. 18, 19, 20). Este estado, às vezes chamado de Síndrome da Resposta Anti-inflamatória Compensatória (CARS), não é simplesmente uma resolução da inflamação, mas uma paralisia funcional do sistema imunológico que pode durar semanas ou meses (Ref. 18).
Mecanismos da Imunoparalisia Celular
A imunoparalisia é um processo multifatorial complexo que afeta tanto a imunidade inata quanto a adaptativa, com a disfunção dos linfócitos T em seu epicentro. Os principais mecanismos incluem:
- Apoptose Massiva de Linfócitos: Um dos achados mais consistentes em estudos post-mortem de pacientes que morreram de sepse é uma depleção drástica de células imunes, especialmente linfócitos, em órgãos como o baço e os linfonodos (Ref. 17, 19, 34). A sepse desencadeia a morte celular programada (apoptose) em larga escala de linfócitos T CD4+ e CD8+, bem como de linfócitos B, levando a uma linfopenia severa (Ref. 17, 19, 34). Isso equivale a uma dizimação do exército de defesa do corpo, removendo tanto os soldados da linha de frente quanto os comandantes.
- Exaustão de Células T: Os linfócitos T que sobrevivem à onda de apoptose não saem ilesos. A exposição prolongada a antígenos e a um ambiente inflamatório/anti-inflamatório misto leva a um estado de disfunção conhecido como “exaustão celular”. As células T exaustas aumentam a expressão de receptores inibitórios em sua superfície, como o PD-1 (Programmed Death-1) e o CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Protein 4) (Ref. 8, 19, 20). Esses receptores, quando ativados, funcionam como “freios” moleculares, desligando a capacidade da célula T de proliferar, produzir citocinas e matar células infectadas (Ref. 19).
- Expansão de Células Supressoras: A sepse também promove a expansão e a ativação de populações celulares que suprimem ativamente a resposta imune. Isso inclui um aumento no número e na função das células T reguladoras (Tregs) e de uma população heterogênea de células mieloides imaturas conhecidas como Células Supressoras Derivadas de Mieloides (MDSCs) (Ref. 19, 20, 37). Essas células liberam mediadores imunossupressores e inibem diretamente a função dos poucos linfócitos T efetores remanescentes.
- Disfunção de Células Inatas: A paralisia não se limita à imunidade adaptativa. As células da linha de frente da imunidade inata também são profundamente afetadas. Monócitos e macrófagos de pacientes sépticos exibem uma expressão drasticamente reduzida de moléculas de MHC de classe II (particularmente HLA-DR) em sua superfície (Ref. 20, 35, 36). A baixa expressão de HLA-DR é um sinal de que essas células perderam sua capacidade de apresentar antígenos aos linfócitos T CD4+, quebrando um elo fundamental na cadeia de ativação imune (Ref. 35).
A Consequência Clínica: A Porta Aberta para Infecções Oportunistas
A consequência clínica de todos esses defeitos imunológicos é a criação de um hospedeiro profundamente vulnerável. Estudos consistentemente mostram que a mortalidade tardia na sepse (após os primeiros dias) muitas vezes não é causada pela infecção primária, que pode até ter sido controlada, mas sim por infecções hospitalares secundárias (Ref. 17, 18, 19, 20). A imunoparalisia transforma a microbiota comensal do paciente e os microrganismos de baixa virulência do ambiente hospitalar em patógenos letais.
As vulnerabilidades são específicas para os defeitos imunológicos. Por exemplo, a disfunção das células Th17, que são cruciais para a defesa antifúngica, predispõe os pacientes a infecções invasivas por Candida, uma das IRAS mais comuns e mortais em UTIs (Ref. 21, 24). A depleção geral de linfócitos T permite a reativação de vírus latentes, como o Citomegalovírus (CMV) e o Herpes Simplex Virus (HSV), que podem causar pneumonia, hepatite e outras complicações graves (Ref. 18).
Isso refina o papel do profissional de CCIH no cuidado do paciente crítico. No contexto de um paciente com imunoparalisia, a tarefa não é apenas prevenir a transmissão de patógenos para o paciente, mas proteger um paciente que perdeu sua capacidade intrínseca de controlar sua própria microbiota colonizadora e de se defender contra o ambiente. Isso exige um nível de vigilância muito mais elevado e um foco estratégico na preservação e, quando possível, na restauração da competência imune do hospedeiro.
Rumo ao Imuno-Stewardship: Monitoramento e Modulação da Resposta Imune no Paciente Crítico
Se a imunoparalisia é um mecanismo central que impulsiona o risco de IRAS em pacientes críticos, então a próxima fronteira no controle de infecções deve, logicamente, envolver a abordagem direta dessa disfunção imune. Isso marca uma mudança de um paradigma reativo, focado no patógeno, para um paradigma proativo e personalizado, focado no hospedeiro. Este novo conceito pode ser chamado de Imuno-Stewardship (Ref. 33). Seus pilares são o monitoramento da função imune e, quando indicado, a modulação terapêutica para restaurar a competência defensiva.
O Novo “Sinal Vital”: Monitoramento Imunológico
Assim como monitoramos rotineiramente as funções cardiovascular, respiratória e renal em pacientes críticos, há uma necessidade urgente de começar a monitorar a função do “órgão imune” (Ref. 35, 38, 39). A tecnologia atual permite a avaliação do estado imune do paciente por meio de biomarcadores que podem identificar a imunoparalisia e estratificar o risco de infecções secundárias. Os marcadores mais promissores e estudados incluem:
- Expressão de HLA-DR em Monócitos (mHLA-DR): Medido por citometria de fluxo, o nível de expressão de HLA-DR na superfície dos monócitos circulantes é talvez o biomarcador mais robusto e bem validado da imunoparalisia da imunidade inata. Níveis baixos ou em queda de mHLA-DR indicam uma capacidade prejudicada de apresentação de antígenos e estão fortemente associados a um risco aumentado de desenvolver infecções nosocomiais e maior mortalidade (Ref. 20, 35, 36). O monitoramento seriado de mHLA-DR pode identificar pacientes que não conseguem recuperar a função imune e que, portanto, estão em maior risco.
- Contagem Absoluta de Linfócitos (CAL): Um parâmetro simples, barato e amplamente disponível em qualquer hemograma. A linfopenia (CAL < 1.000 células/μL) é um sinal de alerta da depleção de células T induzida pela sepse. Uma linfopenia profunda e persistente é um forte preditor de maus resultados e indica um colapso severo da imunidade adaptativa (Ref. 34, 20).
- Níveis de Citocinas: A medição dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias (como IL-6) e anti-inflamatórias (como IL-10) pode fornecer um “instantâneo” do estado imune do paciente. Uma alta relação IL-10/TNF-α, por exemplo, sugere um desvio para um fenótipo imunossupressor e tem sido associada a piores desfechos (Ref. 38, 20).
Reiniciando o Sistema: Terapias Imunomoduladoras
A capacidade de diagnosticar a imunoparalisia só é clinicamente útil se houver estratégias para revertê-la. Várias terapias imunomoduladoras, muitas delas originadas da oncologia e da imunologia de transplantes, estão sendo investigadas para “reiniciar” o sistema imunológico paralisado do paciente séptico:
- Interleucina-7 (IL-7): A IL-7 é uma citocina crucial para a sobrevivência e proliferação de linfócitos T. A administração de IL-7 recombinante em ensaios clínicos demonstrou ser capaz de reverter a linfopenia induzida pela sepse, aumentando significativamente as contagens de células T CD4+ e CD8+ (Ref. 19, 20).
- Inibidores de Checkpoint Imune (Anti-PD-1/PD-L1): Famosos por seu sucesso na imunoterapia do câncer, esses anticorpos monoclonais bloqueiam os receptores inibitórios PD-1 ou seu ligante PD-L1. Ao “liberar os freios” das células T exaustas, eles podem restaurar sua função efetora. Estudos pré-clínicos e ensaios clínicos iniciais sugerem que essa abordagem pode melhorar a sobrevida e a eliminação de patógenos na sepse (Ref. 19, 20).
- Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos e Macrófagos (GM-CSF): Este fator de crescimento pode rejuvenescer a função das células mieloides. Em pacientes sépticos com baixa expressão de mHLA-DR, o tratamento com GM-CSF demonstrou restaurar os níveis de mHLA-DR e a capacidade de produção de citocinas pelos monócitos, e foi associado a melhores desfechos clínicos, como menos dias de ventilação mecânica (Ref. 20, 36).
O Paradigma do Imuno-Stewardship
A síntese desses avanços leva ao conceito de Imuno-Stewardship: uma abordagem proativa e sistemática para gerenciar a função imune do paciente como parte integrante do controle de infecções. O Imuno-Stewardship envolve três ações principais:
- Monitorar: Utilizar biomarcadores para avaliar rotineiramente o estado imune de pacientes de alto risco, identificando aqueles que desenvolvem imunoparalisia.
- Proteger: Implementar práticas que minimizem o dano iatrogênico ao sistema imunológico, como o uso criterioso de medicamentos imunossupressores e estratégias para proteger o microbioma intestinal.
- Modular: Em pacientes selecionados com imunoparalisia confirmada e alto risco de infecção, considerar o uso de terapias imunoestimulantes para restaurar a competência imune.
A implementação do Imuno-Stewardship representa uma mudança da prevenção reativa para a prevenção proativa e personalizada. Ela permite a identificação de pacientes de alto risco antes que desenvolvam uma infecção, possibilitando a implementação de medidas profiláticas direcionadas ou terapias adjuvantes. Por exemplo, um protocolo futuro de UTI poderia estipular que um paciente com choque séptico que mantém uma contagem de mHLA-DR abaixo de um certo limiar por 72 horas acionaria automaticamente um “alerta de risco imunológico” ou uma consulta de Imuno-Stewardship. Esta abordagem personalizaria o manejo do risco de infecção de uma forma que é atualmente impossível.
Conclusões e Perspectivas
A jornada desde a elegante precisão da resposta dos linfócitos T em um hospedeiro saudável até seu colapso devastador na doença crítica revela uma verdade fundamental para o controle de infecções no século XXI: o terreno é tão importante quanto a semente. Por muito tempo, nossas estratégias se concentraram em erradicar o patógeno do ambiente, uma tarefa necessária, mas incompleta. A crescente prevalência de patógenos multirresistentes e a alta mortalidade persistente em pacientes críticos, apesar dos avanços no tratamento antimicrobiano, demonstram os limites dessa abordagem.
A tese central deste artigo é que a era de focar exclusivamente no patógeno está chegando ao fim. O futuro da prevenção das IRAS mais letais reside na compreensão, monitoramento e suporte das próprias defesas celulares do hospedeiro. A imunoparalisia induzida pela sepse não é um epifenômeno, mas um mecanismo patogênico central que ativamente impulsiona a suscetibilidade a infecções secundárias. Reconhecer e abordar essa disfunção imune é a próxima fronteira na segurança do paciente.
O caminho a seguir aponta para a integração da imunologia clínica na prática diária da terapia intensiva e do controle de infecções. O desenvolvimento e a validação de painéis de biomarcadores rápidos e acessíveis para monitoramento imune, juntamente com a condução de ensaios clínicos robustos para terapias imunomoduladoras, são os próximos passos críticos.
Para os profissionais de CCIH, isso representa uma expansão de seu papel: de guardiões do ambiente a defensores do hospedeiro. O desafio é se tornarem campeões do Imuno-Stewardship, defendendo a incorporação do monitoramento imunológico no cuidado de rotina para melhor prever riscos, personalizar estratégias de prevenção e, em última análise, proteger os pacientes mais vulneráveis, fortalecendo sua vanguarda silenciosa contra a infecção.
A luta contra as IRAS não será vencida apenas com novos antibióticos ou protocolos ambientais. O verdadeiro divisor de águas está em reconhecer que pacientes críticos frequentemente perdem sua capacidade de defesa celular, tornando-se alvos fáceis de infecções secundárias.
O futuro do controle de infecção exige uma expansão de perspectiva: monitorar a função imunológica, proteger o sistema imune do hospedeiro e intervir de forma personalizada com estratégias imunomoduladoras. O Imuno-Stewardship é mais que um conceito — é a próxima fronteira para salvar vidas em nossas UTIs.
Referências Bibliográficas
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 51.
- Resumo: Este capítulo fundamental descreve os princípios da imunidade mediada por células, destacando o papel central dos linfócitos T (CD4+ e CD8+) e da apresentação de antígenos via MHC na orquestração da defesa contra patógenos. Foi a base para a seção de arquitetura da defesa celular.
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 52.
- Resumo: Detalha o processo de ativação e diferenciação dos linfócitos T, introduzindo os subconjuntos de células T auxiliares e o conceito de que o contexto inflamatório molda a resposta imune. Utilizado para explicar a ativação inicial dos linfócitos.
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 53.
- Resumo: Apresenta um diagrama e uma descrição detalhada dos principais subconjuntos de linfócitos T CD4+ (Th1, Th2, Th17, Treg, Tfh), suas citocinas indutoras, fatores de transcrição e funções efetoras. Essencial para a construção da Tabela 1 e da seção sobre a orquestra especializada.
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 54.
- Resumo: Fornece uma tabela abrangente de doenças de imunodeficiência primária, correlacionando defeitos genéticos específicos em vias imunes (como IL-12/IFN-γ e IL-17) com suscetibilidades infecciosas. Usado para fornecer exemplos clínicos da importância de cada via de células T.
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 55.
- Resumo: Continua a descrição dos subconjuntos de células T, com foco particular nas células Th17 e sua importância na defesa de mucosas, e introduz as células T reguladoras (Tregs). Fundamental para a seção sobre a orquestra especializada.
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 56.
- Resumo: Descreve o papel duplo das Tregs em infecções, a função das células T foliculares (Tfh) na ajuda às células B e a plasticidade dos subconjuntos de células T. Também introduz a função e a dinâmica dos linfócitos T CD8+.
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 57.
- Resumo: Apresenta um diagrama e uma descrição da geração de memória de células T, incluindo as fases de expansão e contração, e introduz os conceitos de células de memória central (Tcm), efetora (Tem) e residente (Tʀᴍ). Base para a seção de memória imunológica.
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 58.
- Resumo: Detalha as características dos subconjuntos de células T de memória (Tcm, Tem, Tʀᴍ) e discute o conceito de exaustão de células T em infecções crônicas, incluindo o papel de PD-1 e CTLA-4. Crucial para as seções de memória e imunoparalisia.
- LIONAKIS, M. S.; HOHL, T. M. Cell-Mediated Defense Against Infection. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. Cap. 6, p. 59-60.
- Resumo: Descreve o desenvolvimento de linfócitos T no timo (seleção positiva e negativa) e a anatomia funcional dos linfonodos, explicando como a estrutura física facilita as interações imunes.
- CCIH.MED.BR. O que é imunidade? Disponível em: https://www.ccih.med.br/o-que-e-imunidade/. Acesso em:.
- Resumo: Este artigo do próprio site alvo fornece uma visão geral básica da imunidade inata e adquirida, estabelecendo o contexto e a linguagem apropriada para o público do site.
- CCIH.MED.BR. Imunologia das doenças infecciosas. Disponível em: https://www.ccih.med.br/imunologia-das-doencas-infecciosas/. Acesso em:.
- Resumo: Apresenta uma discussão em vídeo sobre vários tópicos da imunologia, incluindo imunidade humoral e celular e linfócitos CD4, indicando o interesse do público do site por esses temas.
- VALLE, C. B. et al. Imunidade e nutrição na COVID-19: elo entre o estado nutricional, sistema imune, e a evolução da doença. BVS- Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://fi-admin.bvsalud.org/document/view/mvm5t. Acesso em:.
- Resumo: Estudo que aborda a modulação da imunidade celular (células T auxiliares e reguladoras) em pacientes críticos com COVID-19, reforçando a relevância do tema no contexto de doenças graves.
- GARCIA-FIGUEROA, E. et al. T Cell Immunity and the Quest for Protective Vaccines against Staphylococcus aureus Infection. Microorganisms, v. 8, n. 12, p. 1936, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms8121936.
- Resumo: Artigo de revisão crucial que argumenta que as falhas das vacinas contra S. aureus se devem à falta de indução de uma imunidade robusta mediada por células T, especialmente células de memória. Fundamental para a discussão sobre falha de memória.
- CONDOTTA, S. A. et al. T-cell-mediated immunity and the role of TRAIL in sepsis-induced immunosuppression. Critical Reviews in Immunology, v. 33, n. 2, p. 135-151, 2013. DOI: https://doi.org/10.1615/critrevimmunol.2013006721.
- Resumo: Esta revisão foca nas alterações do compartimento de linfócitos T CD8 durante a sepse, incluindo apoptose e disfunção, e como isso contribui para a suscetibilidade a infecções nosocomiais secundárias.
- SHORR, A. F. et al. Healthcare-associated infections: potential for prevention through vaccination. Journal of Hospital Infection, v. 98, n. 4, p. 347-356, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2017.12.013.
- Resumo: Discute o potencial da vacinação para prevenir IRAS, mencionando que uma resposta robusta de células T é um requisito chave para uma vacina eficaz contra S. aureus.
- ZAYAS, T. et al. Immune system dynamics in response to Pseudomonas aeruginosa biofilms. npj Biofilms and Microbiomes, v. 10, n. 1, p. 60, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41522-024-00528-9.
- Resumo: Revisão sobre a resposta imune a biofilmes de P. aeruginosa, destacando o papel dos mecanismos adaptativos envolvendo células T na persistência da infecção.
- BOOMER, J. S. et al. Immunoparalysis in sepsis. Virulence, v. 4, n. 4, p. 364-369, 2013. DOI: https://doi.org/10.4161/viru.24867.
- Resumo: Descreve o estado de imunoparalisia em pacientes sépticos, destacando a apoptose e interações imunológicas que os tornam suscetíveis a infecções oportunistas.
- KUMAR, V. Sepsis induced immunosuppression: Implications for secondary infections and complications. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, v. 29, n. 3, p. 296-302, 2013. DOI: https://doi.org/10.4103/0970-9185.117045.
- Resumo: Explora a base da disfunção imune na sepse e suas implicações clínicas, argumentando que uma proporção significativa de pacientes sépticos sucumbe a infecções secundárias devido à imunoparalisia.
- HOTCHKISS, R. S. et al. Sepsis-induced immunosuppression: from cellular dysfunctions to immunotherapy. Nature Reviews Immunology, v. 13, n. 12, p. 862-874, 2013. DOI: https://doi.org/10.1038/nri3552.
- Resumo: Uma revisão abrangente e seminal que detalha os múltiplos mecanismos de disfunção celular na sepse (apoptose, exaustão de células T, Tregs, etc.) e discute potenciais abordagens de imunoterapia.
- ZHAO, Y. et al. Sepsis-induced immunosuppression: mechanisms, biomarkers and immunotherapy. eBioMedicine, v. 104, p. 105134, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2024.105134.
- Resumo: Artigo de revisão recente que atualiza os mecanismos, biomarcadores (HLA-DR, PD-1) e abordagens de imunoterapia para a imunossupressão induzida pela sepse, fornecendo uma visão contemporânea do campo.
- LIONAKIS, M. S. The role of Th1 and Th17 cells in host defense against invasive mycoses. Journal of Leukocyte Biology, v. 92, n. 4, p. 777-786, 2012. DOI: https://doi.org/10.1189/jlb.0312154.
- Resumo: Descreve o papel essencial das células Th1 e Th17 na defesa do hospedeiro contra infecções fúngicas invasivas, como a candidíase, uma importante IRAS.
- SHAO, T. Y. et al. Commensal Candida albicans-elicited Th17 cells confer protective immunity against invasive fungal and bacterial infections. Cell Host & Microbe, v. 24, n. 5, p. 740-749.e5, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chom.2018.10.007.
- Resumo: Demonstra que a colonização intestinal com C. albicans pode induzir uma resposta sistêmica de células Th17 que protege contra infecções invasivas subsequentes, destacando a importância da imunidade de barreira.
- CONTI, H. R. et al. Th17 cells and IL-17 receptor signaling are essential for mucosal host defense against oral candidiasis. The Journal of Experimental Medicine, v. 206, n. 2, p. 299-311, 2009. DOI: https://doi.org/10.1084/jem.20081463.
- Resumo: Estudo que estabelece de forma conclusiva o papel dominante da linhagem Th17 e da sinalização de IL-17 na defesa contra a candidíase mucosa, um modelo para infecções fúngicas de barreira.
- PUEL, A. et al. Inborn errors of human IL-17 immunity: from primary immunodeficiency to personalized medicine. Seminars in Immunology, v. 43, p. 101323, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.smim.2019.101323.
- Resumo: Revisão sobre erros inatos da imunidade à IL-17, mostrando como defeitos genéticos nesta via levam à candidíase mucocutânea crônica, provando seu papel não redundante na defesa antifúngica em humanos.
- WAGH, K. et al. The Emerging Fungal Pathogen Candida auris Induces IFNγ to Colonize the Skin. bioRxiv, 2024. DOI: https://doi.org/10.1101/2024.04.26.591350.
- Resumo: Estudo recente que revela um mecanismo único de C. auris, que induz uma resposta Th1/IFN-γ que, paradoxalmente, aumenta a colonização da pele ao suprimir a resposta protetora de IL-17.
- LEE, C. R. et al. Biology and epidemiology of Acinetobacter baumannii. Clinical Microbiology Reviews, v. 30, n. 1, p. 351-401, 2017. DOI: https://doi.org/10.1128/CMR.00058-16.
- Resumo: Revisão abrangente sobre A. baumannii, um patógeno nosocomial crítico, destacando sua resistência e os desafios no tratamento.
- SINGH, A. et al. Deciphering the virulence factors, regulation, and immune response to Acinetobacter baumannii infection. Microbiological Research, v. 270, p. 127341, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micres.2023.127341.
- Resumo: Detalha a interação complexa entre A. baumannii e o sistema imune do hospedeiro, enfatizando o papel dos neutrófilos e da sinalização via TLRs na resposta inicial à infecção.
- WANG-WEN, T. et al. The intricacies of Acinetobacter baumannii: a multifaceted comprehensive review of a multidrug-resistant pathogen and its clinical significance and implications. Journal of Translational Medicine, v. 22, n. 1, p. 57, 2024. DOI: https://doi.org/10.1186/s12967-023-04825-z.
- Resumo: Uma revisão detalhada sobre a microbiologia, virulência e mecanismos de resistência de A. baumannii, sublinhando sua importância como um patógeno nosocomial formidável.
- SINGH, B. et al. Immunization with a Novel Chimeric Protein Confers Protection against Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii. Vaccines (Basel), v. 12, n. 4, p. 376, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/vaccines12040376.
- Resumo: Estudo de vacina que emprega imuno-informática para identificar epítopos de células B e T, indicando uma mudança para o reconhecimento da importância da imunidade celular no desenvolvimento de vacinas contra A. baumannii.
- HARDING, C. M. et al. Acinetobacter baumannii: a contemporary pathogen. Nature Reviews Microbiology, v. 16, n. 1, p. 11-24, 2018. DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.114.
- Resumo: Revisão que discute os fatores de virulência e as respostas do hospedeiro a A. baumannii, destacando as adaptações da superfície celular que promovem a evasão imune.
- YANG, Y. et al. Immunization with Inactivated Bacillus subtilis Spores Expressing TonB-Dependent Receptor (TBDR) Protects Against Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Infection. Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 34, n. 7, p. 949-960, 2024. DOI: https://doi.org/10.4014/jmb.2403.03024.
- Resumo: Estudo de vacina que mostra a ativação de células T/B e a produção de anticorpos IgG/IgA em resposta a um antígeno de A. baumannii, reforçando a necessidade de uma resposta imune mista (humoral e celular).
- XIE, J. et al. Sepsis: An Immune Disorder of T Cells. Frontiers in Immunology, v. 12, p. 711685, 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.711685.
- Resumo: Revisão que posiciona a sepse como um distúrbio imune primariamente dos linfócitos T, detalhando a apoptose de células T, incluindo a maior suscetibilidade das células de memória.
- CCIH.MED.BR. Imuno-Stewardship: o futuro do controle de infecções em hospitais. Disponível em: https://www.ccih.med.br/imuno-stewardship-o-futuro-do-controle-de-infeccoes-em-hospitais/. Acesso em:.
- Resumo: Artigo conceitual do site alvo que introduz e defende o paradigma do “Imuno-Stewardship”, focando na proteção da imunidade inata e do microbioma do paciente como a próxima fronteira na prevenção de IRAS.
- MONNERET, G.; VENET, F. Sepsis-induced immune alterations monitoring. Critical Care, v. 18, n. 2, p. 203, 2014. DOI: https://doi.org/10.1186/cc13776.
- Resumo: Destaca a necessidade urgente de biomarcadores robustos para avaliar o estado imune em pacientes sépticos, propondo a expressão de HLA-DR em monócitos como um marcador substituto para a falha imune.
- KOUTSOPOULOU, M. et al. The Burden of Sepsis on Organ-Specific Immune Dysregulation: Translational Challenges and Opportunities. Journal of Clinical Medicine, v. 13, n. 11, p. 3274, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/jcm13113274.
- Resumo: Explora a desregulação imune órgão-específica na sepse e a necessidade de monitoramento imune em tempo real para desenvolver terapias de precisão.
- CAO, C. et al. Advances in Immune Monitoring Approaches for Sepsis-Induced Immunosuppression. Frontiers in Immunology, v. 13, p. 891024, 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.891024.
- Resumo: Resume os avanços nas abordagens de monitoramento imune para a imunossupressão induzida pela sepse, destacando biomarcadores para as respostas inata e adaptativa.
- JIANG, D. et al. The role of immune cells in sepsis. Scandinavian Journal of Immunology, v. 94, n. 5, p. e13077, 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/sji.13077.
- Resumo: Revisão sobre o papel das diferentes células imunes na sepse, incluindo a expansão de Células Supressoras Derivadas de Mieloides (MDSCs) e sua correlação com a depressão imune crônica.
- HUBER, T. J. C. et al. Immune monitoring in the ICU: a systematic review. Critical Care, v. 21, n. 1, p. 268, 2017. DOI: https://doi.org/10.1186/s13054-017-1858-x.
- Resumo: Revisão sistemática que argumenta que a avaliação direta da função das células imunes (além de biomarcadores de rotina) é necessária para caracterizar o estado do sistema imunológico em pacientes críticos.
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ. Citometria de Fluxo: Fundamentos e Aplicações na Pesquisa Científica. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2024. Disponível em: https://www.ioc.fiocruz.br/picf/PROD_LITERAT/Apostilas/2024_Citometria_de_Fluxo_Fundamentos_e_Aplicacoes_na_Pesquisa_Cientifica.pdf. Acesso em:.
- Resumo: Material didático que descreve o uso da citometria de fluxo para monitoramento imunológico, como a contagem de linfócitos T CD4+, técnica fundamental para os biomarcadores discutidos.
Autor:
Antonio Tadeu Fernandes:
https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/
https://www.instagram.com/tadeuccih/
#ControleDeInfecção #CCIH #Imunologia #Sepse #Imunoparalisia #SegurançaDoPaciente #MedicinaIntensiva #LinfocitosT #UTI #ImunoStewardship
Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação
Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:
MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção
MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização
MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica