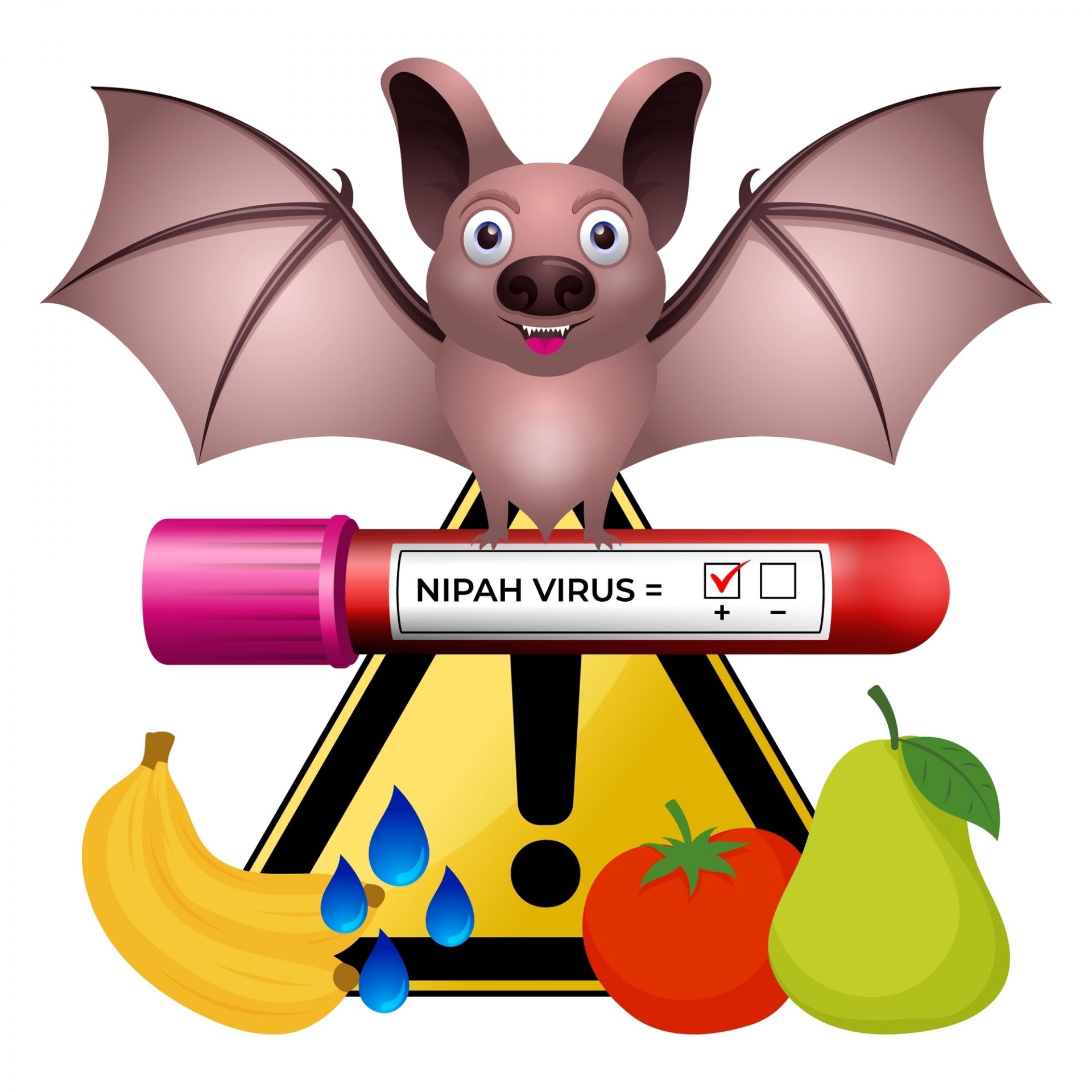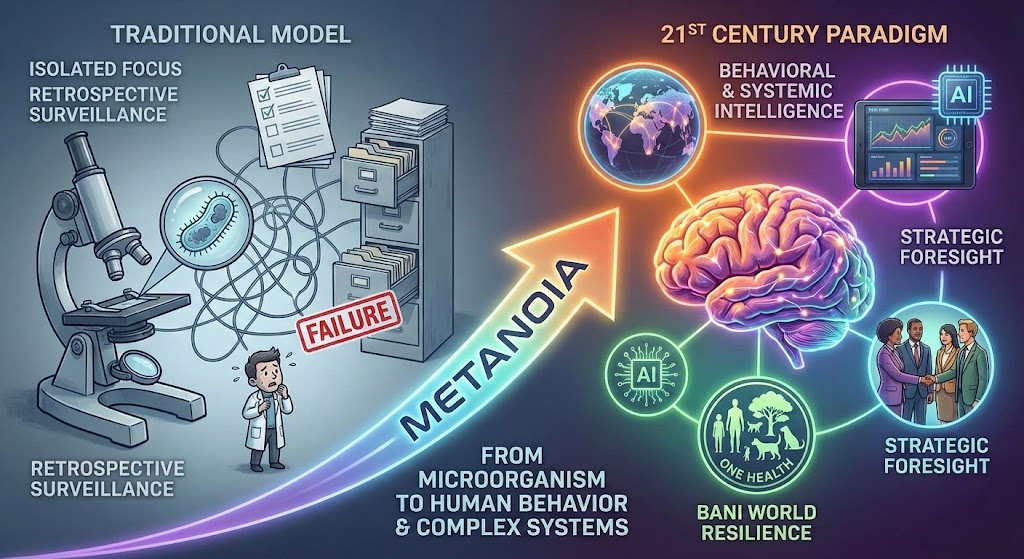Artigo essencial para entender a fronteira invisível entre microbioma, imunidade de mucosas e procedimentos invasivos, essencial para compreender a fisiopatologia da infecção hospitalar.
Durante décadas, o controle de infecção hospitalar centrou-se em barreiras físicas, higiene e uso racional de antimicrobianos. Mas uma nova fronteira científica está sendo desvendada: a imunidade de mucosas e seu intrincado diálogo com o microbioma. Esse “escudo invisível”, quando íntegro, protege o paciente crítico; quando rompido, transforma o próprio organismo em um reservatório de patógenos multirresistentes. Este artigo mergulha nesse paradigma emergente, questionando se não está na hora de reorientar nossas estratégias — menos voltadas apenas para matar microrganismos e mais para preservar as defesas internas do hospedeiro.
FAQ: O Microbioma e a Imunidade de Mucosas no Controle de Infecção Hospitalar
Esta página de Perguntas Frequentes (FAQ) foi desenvolvida para médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, com base no artigo A Fronteira Invisível: Como o Microbioma e a Imunidade de Mucosas Estão Redefinindo o Controle de Infecção Hospitalar. O conteúdo foi enriquecido com materiais do portal CCIH.med.br, do canal do YouTube relacionado e de referências científicas adicionais para aprofundar os temas.
Conceitos Fundamentais
O que é o microbioma e por que ele é considerado uma “fronteira invisível” no controle de infecção hospitalar?
O microbioma é a comunidade de trilhões de microrganismos (bactérias, fungos, vírus e arqueias) que vivem em nosso corpo, principalmente no intestino, pele e mucosas. Ele atua como uma “fronteira invisível” porque forma uma barreira funcional e dinâmica que é a primeira linha de defesa contra a invasão de patógenos. Sua integridade é crucial para prevenir infecções, mas por ser invisível, muitas vezes é negligenciado pelas práticas hospitalares tradicionais.
- Referências:
- A Fronteira Invisível: Como o Microbioma e a Imunidade de Mucosas Estão Redefinindo o Controle de Infecção Hospitalar (CCIH.med.br)
- The Human Microbiome: A New Frontier in Health and Disease (NIH – National Library of Medicine)
Qual a relação entre a imunidade de mucosas e a prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)?
A imunidade de mucosas, especialmente o tecido linfoide associado ao intestino (GALT), é o maior componente do nosso sistema imunológico. Ele trabalha em conjunto com o microbioma para manter a homeostase e a tolerância a comensais, enquanto reconhece e combate patógenos. Uma barreira mucosa saudável, com produção adequada de IgA secretora e muco, impede a translocação bacteriana e a invasão de patógenos, sendo fundamental para prevenir IRAS, como pneumonias, infecções de corrente sanguínea e intestinais.
- Referências:
O que é “resistência à colonização” e qual o seu papel na proteção contra patógenos hospitalares?
Resistência à colonização é a capacidade do microbioma nativo e saudável de um indivíduo de inibir o estabelecimento e a proliferação de microrganismos patogênicos exógenos. As bactérias comensais fazem isso competindo por nutrientes e espaço, produzindo substâncias antimicrobianas (bacteriocinas) e modulando o sistema imune do hospedeiro. Em ambiente hospitalar, a perda dessa resistência (por exemplo, devido ao uso de antibióticos) abre espaço para a colonização e subsequente infecção por patógenos multirresistentes.
- Referências:
- Colonization Resistance: The Best Known Function of the Gut Microbiota (Journal of Molecular Biology)
- O que significa um paciente colonizado por bactérias multirresistentes? (CCIH.med.br)
O que é o conceito de “disbiose” e como ele se relaciona com o desenvolvimento de infecções hospitalares?
Disbiose é um desequilíbrio na composição e função do microbioma. No contexto hospitalar, a disbiose é frequentemente causada por antibióticos, dieta inadequada, estresse cirúrgico e outros fatores. Esse desequilíbrio reduz a resistência à colonização, compromete a integridade da barreira intestinal e afeta a resposta imune, tornando o paciente significativamente mais vulnerável ao desenvolvimento de infecções por patógenos como Clostridioides difficile, Enterococos resistentes à vancomicina (VRE) e Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE).
- Referências:
- Gut microbiota and nosocomial infections (Clinical Infectious Diseases)
- Disbiose e imunossenescência: o elo perdido na fisiopatologia da COVID-19? (CCIH.med.br)
Impacto Clínico e Terapêutico
Como o uso de antibióticos de amplo espectro afeta o microbioma intestinal e aumenta o risco de infecções por Clostridioides difficile?
Antibióticos de amplo espectro não diferenciam entre bactérias patogênicas e comensais, causando uma drástica redução da diversidade microbiana no intestino. Essa “queima da floresta” microbiana elimina as bactérias protetoras que competem com o C. difficile. Na ausência dessa competição, esporos de C. difficile podem germinar, proliferar e produzir toxinas que causam a colite pseudomembranosa.
- Referências:
- Antibiotic-induced gut dysbiosis and the risk of Clostridioides difficile infection (Frontiers in Microbiology)
- Clostridioides difficile: diagnóstico e tratamento (Canal YouTube – CCIH Cursos)
Quais são as principais ameaças ao microbioma de um paciente internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)?
Na UTI, o microbioma do paciente está sob ataque constante de múltiplos fatores:
- Antibioticoterapia de amplo espectro: principal fator de disbiose.
- Inibidores da bomba de prótons (IBP): alteram o pH gástrico, permitindo a passagem de patógenos.
- Nutrição enteral ou parenteral: difere da nutrição oral e pode não sustentar um microbioma saudável.
- Procedimentos invasivos: quebram barreiras naturais.
- Estresse fisiológico grave: libera catecolaminas que alteram a composição do microbioma.
- Referências:
Como a nutrição do paciente internado influencia a saúde do seu microbioma e sua suscetibilidade a infecções?
A nutrição é um dos principais moduladores do microbioma. As fibras dietéticas (prebióticos) são fermentadas por bactérias benéficas, que produzem ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs) como o butirato. Os AGCCs são fonte de energia para os colonócitos, fortalecem a barreira intestinal e têm efeitos anti-inflamatórios. Dietas hospitalares pobres em fibras e o uso de nutrição parenteral podem levar à atrofia do microbioma e aumentar a suscetibilidade a infecções.
- Referências:
- Impact of nutrition on the gut microbiota and its role in health and disease (Journal of Clinical Nutrition)
- Nutrição e Microbiota Intestinal: uma relação fundamental para a saúde (Canal Asbran – Associação Brasileira de Nutrição)
O que são probióticos e prebióticos, e existe evidência para seu uso na prevenção de IRAS?
- Probióticos: São microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro.
- Prebióticos: São substratos (geralmente fibras) que são utilizados seletivamente por microrganismos do hospedeiro, conferindo um benefício à saúde.
As evidências para o uso rotineiro de probióticos na prevenção de IRAS ainda são controversas e dependem da cepa, da dose e da população de pacientes. Algumas evidências apoiam seu uso para prevenir diarreia associada a antibióticos e enterocolite necrosante em prematuros, mas seu uso em pacientes críticos ou imunossuprimidos requer cautela devido ao risco de infecções.
- Referências:
- Probiotics for the prevention of healthcare-associated infections: a systematic review and meta-analysis (The Lancet Infectious Diseases)
- Probióticos, Prebióticos e Simbióticos: conceitos e evidências (CCIH.med.br)
O transplante de microbiota fecal (TMF) é uma realidade no Brasil para o tratamento de infecções recorrentes por Clostridioides difficile?
Sim, o transplante de microbiota fecal (TMF) é uma realidade no Brasil e já está regulamentado pela ANVISA. É um tratamento altamente eficaz, com taxas de cura superiores a 90%, para casos de infecção recorrente por C. difficile que não respondem à antibioticoterapia convencional. O procedimento consiste na infusão de uma preparação de fezes de um doador saudável no trato gastrointestinal do paciente para restaurar um microbioma diversificado e funcional.
- Referências:
Atuação dos Profissionais de Saúde
Como os médicos podem aplicar os conceitos de proteção do microbioma na sua prática clínica diária?
Os médicos podem adotar várias estratégias (conhecidas como “microbiome stewardship”):
- Racionalizar o uso de antibióticos: Prescrever apenas quando necessário, utilizando o espectro mais estreito possível e pela menor duração eficaz.
- Reavaliar a necessidade de Inibidores de Bomba de Prótons (IBP): Utilizar pela menor dose e tempo necessários.
- Promover a nutrição adequada: Priorizar a via enteral e dietas ricas em fibras sempre que possível.
- Considerar o histórico do paciente: Pacientes com múltiplos ciclos de antibióticos são de alto risco para disbiose.
- Referências:
- Antibiotic stewardship: a crucial tool for preserving the gut microbiome and preventing Clostridioides difficile infection (Journal of Antimicrobial Chemotherapy)
- Stewardship de antibióticos: o que é e como aplicar? (Canal YouTube – CCIH Cursos)
Qual a perspectiva do farmacêutico clínico na otimização da antibioticoterapia para minimizar os danos ao microbioma?
O farmacêutico clínico é peça-chave no “Antimicrobial Stewardship”. Sua atuação inclui:
- Revisão da prescrição: Avaliar a indicação, dose, duração e espectro do antibiótico.
- Descalonamento: Sugerir a troca de um antibiótico de amplo espectro para um de espectro mais estreito com base nos resultados de culturas.
- Monitoramento de interações e efeitos adversos: Incluindo o risco de diarreia por C. difficile.
- Educação da equipe: Orientar sobre as melhores práticas de prescrição para proteger o microbioma.
- Referências:
- The Role of the Pharmacist in Antimicrobial Stewardship (The Annals of Pharmacotherapy)
- O papel do farmacêutico clínico no controle de infecção hospitalar (CCIH.med.br)
Qual o papel do enfermeiro na proteção do microbioma do paciente no dia a dia da assistência?
A equipe de enfermagem está na linha de frente e desempenha um papel vital:
- Higiene das mãos: Previne a transmissão de patógenos sem destruir o microbioma residente do paciente.
- Cuidados com a pele: Utilizar produtos que respeitem o pH e a barreira cutânea.
- Manejo de dispositivos invasivos: Aplicar técnicas assépticas rigorosas para evitar a quebra de barreiras mucosas.
- Estímulo à nutrição e mobilidade: Incentivar a ingestão oral e a mobilização precoce, que influenciam positivamente o trânsito intestinal e o microbioma.
- Monitoramento de sinais de disbiose: Como a ocorrência de diarreia.
- Referências:
- Nursing’s Role in Protecting the Microbiome (American Nurse Today)
- A importância da enfermagem na prevenção e controle das IRAS (CCIH.med.br)
De que maneira as práticas de higiene e desinfecção no ambiente hospitalar podem impactar o microbioma dos pacientes?
Embora essenciais, a higiene e a desinfecção excessivas ou com produtos muito agressivos podem ter efeitos colaterais. A esterilização do ambiente pode criar um “vácuo ecológico”, que pode ser rapidamente preenchido por patógenos mais adaptados e resistentes. Estratégias futuras podem buscar um equilíbrio, promovendo um “microbioma construído” saudável em vez de tentar a erradicação total, um conceito ainda em pesquisa.
- Referências:
Diagnóstico e Vigilância
- Existem exames laboratoriais disponíveis na prática clínica para avaliar a saúde do microbioma de um paciente?
Atualmente, a análise do microbioma (por sequenciamento de DNA como o 16S rRNA) é predominantemente uma ferramenta de pesquisa. Ainda não existem exames de rotina, validados para a prática clínica, que possam “diagnosticar” a disbiose ou guiar a terapia individual com base na composição do microbioma de um paciente. No entanto, este é um campo de intensa pesquisa e desenvolvimento.
- Referências:
- Clinical application of microbiome research (Nature Medicine)
- The Gut Microbiome: A New Player in Personalized Medicine (Journal of Translational Medicine)
Como a “colonização por patógenos” difere de “infecção” e por que essa distinção é importante?
- Colonização: O microrganismo está presente no corpo (pele, narinas, intestino), mas não causa sinais ou sintomas de doença. O sistema imune e o microbioma o mantêm sob controle.
- Infecção: O microrganismo invade os tecidos, se multiplica e causa uma resposta inflamatória, levando a sinais e sintomas de doença.
A distinção é crucial. Tratar a colonização com antibióticos é inadequado, pode causar disbiose e selecionar resistência. A vigilância epidemiológica por meio de culturas de vigilância (swabs) busca identificar pacientes colonizados por patógenos multirresistentes para aplicar medidas de precaução de contato e prevenir a transmissão, não para tratar o paciente.
- Referências:
- Colonization versus Infection: A Critical Distinction for Healthcare Professionals (Infection Control & Hospital Epidemiology)
- O que significa um paciente colonizado por bactérias multirresistentes? (CCIH.med.br)
Como a vigilância epidemiológica das IRAS pode incorporar dados ou conceitos relacionados ao microbioma?
Embora a análise direta do microbioma ainda não seja rotina, a vigilância pode incorporar conceitos “microbioma-conscientes”. Isso inclui monitorar não apenas as taxas de infecção, mas também o consumo de antibióticos de amplo espectro e de IBPs como indicadores de risco para disbiose e surtos. Futuramente, a vigilância poderá incluir o sequenciamento de patógenos para entender as vias de transmissão e a análise do microbioma ambiental para identificar nichos de patógenos.
- Referências:
- Integrating microbiome data into hospital epidemiology: a new frontier (Clinical Microbiology and Infection)
- Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares (CCIH.med.br)
Perspectivas Futuras
Quais são as estratégias futuras mais promissoras no controle de infecções que levam em consideração o microbioma?
As estratégias futuras buscam modular o microbioma para restaurar a resistência à colonização:
- Transplante de Microbiota Fecal (TMF): Uso já consolidado para C. difficile e em pesquisa para outras condições.
- Probióticos de nova geração: Uso de cepas específicas e geneticamente modificadas para fins terapêuticos.
- Prebióticos e Pós-bióticos: Utilização de fibras específicas e de metabólitos bacterianos (como o butirato) para modular a saúde intestinal.
- Bacteriófagos: Vírus que infectam e matam bactérias específicas, como alternativa aos antibióticos.
- Referências:
- The microbiome as a therapeutic target (Nature Reviews Drug Discovery)
- A Fronteira Invisível: Como o Microbioma e a Imunidade de Mucosas Estão Redefinindo o Controle de Infecção Hospitalar (CCIH.med.br)
De que forma a arquitetura e o ambiente hospitalar podem influenciar o microbioma do ambiente e dos pacientes?
O ambiente construído do hospital (materiais de superfície, ventilação, umidade, luz solar) possui seu próprio microbioma. Sabe-se que o microbioma ambiental pode ser uma fonte de patógenos para os pacientes. Pesquisas em “microbioma predial” investigam como o design hospitalar pode favorecer comunidades microbianas benéficas ou menos patogênicas, por exemplo, através de melhor ventilação para diluir aerossóis ou o uso de materiais que inibem a formação de biofilmes.
- Referências:
Além do trato gastrointestinal, quais outros sítios do corpo possuem um microbioma crucial para a defesa contra infecções?
Outros microbiomas importantes na prevenção de IRAS incluem:
- Microbioma da pele: Mantém um pH ácido e produz peptídeos antimicrobianos, sendo uma barreira contra infecções de sítio cirúrgico e de cateteres.
- Microbioma respiratório: A composição do microbioma do trato respiratório superior influencia a suscetibilidade à colonização e infecção por patógenos que causam pneumonia.
- Microbioma do trato urinário: A ideia de que a urina é estéril foi superada. Um microbioma urinário saudável pode proteger contra infecções do trato urinário (ITUs).
- Referências:
- The skin microbiome (Nature Reviews Microbiology)
- The lung microbiome and its role in pneumonia (The Lancet Respiratory Medicine)
Onde posso encontrar mais informações e atualizações sobre a relação entre microbioma e controle de infecção?
Para se manter atualizado sobre este campo em rápida evolução, recomenda-se:
- Portal CCIH.med.br: Publica regularmente artigos, notícias e análises sobre o tema. (https://www.ccih.med.br/)
- Canal do YouTube CCIH Cursos: Oferece vídeos, aulas e discussões com especialistas. (https://www.youtube.com/@ccihcursos)
- Publicações Científicas: Jornais como Nature Medicine, The Lancet Infectious Diseases, Clinical Infectious Diseases e Gut Microbes.
- Sociedades Científicas: Acompanhar as diretrizes e publicações de sociedades como a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e a Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA).
Introdução
Este artigo aprofunda-se na mais extensa e dinâmica interface do corpo com o mundo exterior: o sistema imune mucoso. Por muito tempo considerado uma simples barreira física, hoje compreendemos este sistema como um “escudo invisível”, uma fronteira complexa e inteligente, moldada por uma aliança vitalícia com nossa microbiota residente. No entanto, no ambiente de alto risco da assistência à saúde moderna, especialmente em unidades de terapia intensiva, este delicado equilíbrio homeostático é sistematicamente desmantelado, transformando um ecossistema simbiótico em um reservatório para infecções potencialmente fatais. Este relatório explorará os princípios fundamentais da imunidade de mucosas, dissecará sua falha catastrófica no paciente crítico e avaliará criticamente as consequências clínicas e epidemiológicas. Iremos além dos paradigmas tradicionais de controle de infecção para explorar uma nova fronteira focada na preservação dessa barreira vital, propondo que o futuro da prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) reside não apenas no combate a patógenos, mas na gestão ativa e na restauração da saúde imunológica e microbiana do próprio paciente.
I. A Imunidade de Mucosas: A Complexa Arquitetura da Nossa Primeira Linha de Defesa
O Paradoxo das Superfícies Mucosas: Barreira Seletiva e Portal Fisiológico
As superfícies mucosas do corpo, como as dos tratos gastrointestinal e respiratório, representam um paradoxo biológico fundamental. Para cumprir funções fisiológicas vitais — a absorção de nutrientes no intestino e a troca gasosa nos pulmões, por exemplo — esses tecidos desenvolveram adaptações morfológicas que expandem drasticamente sua área de superfície, criando uma vasta interface com o ambiente externo (Ref. 1). Esta área, delicada e permeável por necessidade, está perpetuamente exposta a uma carga antigênica colossal, que inclui toxinas, alérgenos, antígenos alimentares e, mais significativamente, uma densa comunidade de microrganismos (Ref. 1).
O desafio para o sistema imunológico é, portanto, monumental: ele deve montar uma defesa robusta contra patógenos invasores, mas, simultaneamente, exercer tolerância a uma infinidade de substâncias inócuas e, crucialmente, à microbiota comensal residente. Uma resposta inflamatória desproporcional ou mal direcionada poderia comprometer as funções fisiológicas essenciais desses tecidos, com consequências devastadoras (Ref. 1). Esta necessidade de ser ao mesmo tempo reativo e tolerante diferencia fundamentalmente a imunidade mucosa da imunidade sistêmica, que opera em um ambiente largamente estéril. A solução para este paradoxo reside em um conjunto altamente especializado de adaptações imunológicas que permitem uma vigilância constante sem inflamação crônica.
A Aliança Microbioma-Imunidade: Construindo a Homeostase e a Tolerância
A chave para a homeostase nas mucosas não está na esterilidade, mas em uma aliança complexa e coevolutiva com o microbioma. O trato gastrointestinal sozinho abriga uma comunidade microbiana que supera o número de células nucleadas do hospedeiro e contém um repertório genético centenas de vezes maior que o genoma humano (Ref. 1). Longe de ser um espectador passivo, este microbioma funciona como um órgão metabólico e imunológico ativo, que educa e calibra o sistema imune do hospedeiro desde os primeiros momentos de vida (Ref. 1, 13).
Esta interação contínua molda o fenótipo das células imunes locais, ensinando-as a discriminar entre sinais moleculares que representam uma ameaça real e aqueles que são benignos ou até benéficos (Ref. 1). Um dos resultados mais importantes dessa educação é o fenômeno da “tolerância oral”, um estado de não resposta sistêmica a antígenos (como proteínas alimentares e microrganismos comensais) encontrados pela primeira vez no intestino (Ref. 1). Este processo é vital para prevenir reações imunes adversas a alimentos e à nossa própria flora.
Essa perspectiva representa uma mudança de paradigma fundamental para o controle de infecções. O objetivo da imunidade de mucosas não é a erradicação de micróbios, mas a gestão de um ecossistema. A saúde é mantida através de um equilíbrio dinâmico, uma coexistência controlada. Consequentemente, muitas IRAS podem ser vistas não como o resultado de uma invasão por um patógeno externo, mas como a consequência da desregulação de uma relação simbiótica preexistente e necessária. A “hipótese da higiene” postula que a perda de diversidade microbiana, impulsionada por fatores do estilo de vida moderno como o uso excessivo de antibióticos, dietas processadas e o aumento de partos por cesariana e aleitamento artificial, compromete essa educação imunológica precoce, contribuindo para um aumento na incidência de doenças alérgicas e autoimunes (Ref. 1).
O Papel Central da IgA Secretora (SIgA): Mais que um Anticorpo, um Modulador Ambiental
No centro da estratégia de defesa não inflamatória da mucosa está a Imunoglobulina A secretora (SIgA). O intestino é uma verdadeira “fábrica” de anticorpos, produzindo diariamente cerca de 75% de toda a imunoglobulina do corpo, sendo a SIgA a principal isoforma (Ref. 1). A estrutura da SIgA é uma maravilha da adaptação evolutiva; ela é transportada ativamente através das células epiteliais e secretada no lúmen, onde é resistente à degradação por enzimas proteolíticas e pela acidez do ambiente (Ref. 1).
A principal função da SIgA é a “exclusão imune”. Ela se liga a patógenos e toxinas no lúmen, impedindo sua adesão e entrada nas células epiteliais. Crucialmente, a SIgA realiza esta tarefa sem ativar a cascata do complemento, um potente mecanismo inflamatório do sistema imune (Ref. 1, 21). Isso permite a neutralização de ameaças sem gerar uma resposta inflamatória danosa aos tecidos delicados da mucosa. Além de sua função de barreira, a SIgA atua como um modulador da comunidade microbiana. Ao revestir bactérias comensais, ela influencia sua localização, limita seu crescimento excessivo e molda a composição geral do microbioma, promovendo uma relação simbiótica (Ref. 1). A SIgA é, portanto, a personificação molecular da estratégia de “coexistência controlada”, gerenciando ativamente o ecossistema microbiano em vez de tentar eliminá-lo.
A Orquestra Celular da Mucosa: Células Epiteliais, Células Linfoides Inatas (ILCs) e Linfócitos T Reguladores (Tregs)
A manutenção da homeostase mucosa é orquestrada por uma complexa rede de células imunes e não imunes. As células epiteliais, que formam a barreira física, são também sentinelas imunológicas ativas. Elas expressam receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) que detectam componentes microbianos e, ao identificar um “sinal de perigo”, liberam um arsenal de citocinas e quimiocinas que recrutam e ativam outras células imunes no local da ameaça (Ref. 1).
As Células Linfoides Inatas (ILCs) são uma família de linfócitos recentemente descoberta que funciona como a contraparte inata das células T. Residem nos tecidos e não possuem receptores de antígenos específicos, mas respondem rapidamente a sinais do microambiente, como citocinas liberadas por células epiteliais estressadas (Ref. 1, 15). Existem diferentes subgrupos de ILCs (ILC1, ILC2, ILC3) que espelham as funções das células T auxiliares (Th1, Th2, Th17), produzindo rapidamente citocinas que definem o tom inicial da resposta imune, muito antes da ativação da imunidade adaptativa (Ref. 1, 15). Elas são, em essência, as primeiras a responder na cena, moldando a natureza da batalha imunológica que se seguirá.
Os Linfócitos T Reguladores (Tregs) são os diplomatas e pacificadores do sistema imune mucoso. Sua principal função é suprimir ativamente respostas imunes excessivas e manter a tolerância aos antígenos próprios, alimentares e comensais (Ref. 1, 16). Eles exercem sua função através de múltiplos mecanismos, incluindo a produção de citocinas anti-inflamatórias potentes como a Interleucina-10 (IL-10) e o Fator de Crescimento Transformador beta (TGF-β1) (Ref. 1, 16). A presença de uma população robusta de Tregs na mucosa intestinal é absolutamente essencial para prevenir a inflamação crônica e doenças como a doença inflamatória intestinal. A desregulação desta orquestra celular — a sinalização inadequada das células epiteliais, a ativação descontrolada das ILCs ou a falha funcional dos Tregs — é um precursor direto da perda de homeostase e do desenvolvimento de imunopatologias.
II. A Disbiose no Paciente Crítico: A Ruptura do Equilíbrio e a Gênese das IRAS
O Surgimento do “Patobiome” na UTI: Uma Consequência Iatrogênica da Terapia Intensiva
A unidade de terapia intensiva (UTI) representa um ambiente onde a delicada aliança entre o hospedeiro e seu microbioma é sistematicamente agredida. A doença crítica, por si só, induz alterações profundas na microbiota intestinal, mas são as intervenções terapêuticas — muitas vezes necessárias para salvar vidas — que catalisam a transformação de um ecossistema saudável em um “patobiome” (Ref. 6, 23). O uso de antibióticos de amplo espectro, inibidores da bomba de prótons, vasopressores, ventilação mecânica, nutrição enteral e a própria resposta ao estresse cirúrgico ou séptico convergem para dizimar as populações de bactérias comensais benéficas, especialmente os anaeróbios obrigatórios (Ref. 22, 6).
Este vácuo ecológico é rapidamente preenchido por um pequeno número de microrganismos oportunistas e frequentemente multirresistentes, como Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) e espécies de Candida (Ref. 6). O resultado é uma drástica redução da diversidade microbiana e a predominância de patógenos. Este estado de disbiose severa não é um epifenômeno da doença crítica; é uma condição iatrogênica central na patogênese de muitas IRAS (Ref. 23). O microbioma intestinal, que em condições de saúde funciona como uma barreira contra a colonização por patógenos (“resistência à colonização”), torna-se o principal reservatório endógeno para infecções subsequentes (Ref. 6, 8).
O Eixo Intestino-Pulmão: Desvendando a Patogênese da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV)
A visão tradicional da patogênese da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) focava-se primariamente na aspiração de secreções orofaríngeas colonizadas. Embora este mecanismo permaneça relevante, uma compreensão mais sofisticada emergiu com o conceito do “eixo intestino-pulmão” (Ref. 7). Esta via de comunicação bidirecional reconhece que a saúde do intestino e dos pulmões está intrinsecamente ligada.
A disbiose intestinal grave, característica do paciente crítico, tem repercussões diretas na imunidade pulmonar. A translocação de pequenas quantidades de bactérias ou seus produtos (como o lipopolissacarídeo – LPS) do intestino para a circulação sistêmica e linfática pode desencadear uma resposta inflamatória sistêmica que “prepara” os pulmões para uma lesão secundária (Ref. 7). Além disso, células imunes ativadas no tecido linfoide associado ao intestino (GALT) podem migrar para os pulmões, alterando o microambiente imunológico local. Estudos demonstraram que pacientes que desenvolvem PAV exibem padrões distintos de microbiota intestinal antes do início da infecção pulmonar, sugerindo que um “intestino doente” pode levar a um “pulmão doente” (Ref. 7). Este modelo explica por que a PAV é frequentemente causada por patógenos entéricos, mesmo na ausência de macroaspiração clinicamente evidente, e reposiciona o intestino como um alvo terapêutico para a prevenção de infecções pulmonares.
Clostridioides difficile: A Doença Arquetípica da Disbiose e da Falha na Resistência à Colonização
A infecção por Clostridioides difficile (ICD) é o exemplo paradigmático de uma doença causada pela falha da imunidade de mucosas e pela perda da resistência à colonização. A ICD é a principal causa de diarreia associada aos cuidados de saúde, e seu principal fator de risco é a exposição a antibióticos (Ref. 8). Os antibióticos, ao eliminarem indiscriminadamente a microbiota intestinal comensal, destroem a barreira ecológica que normalmente mantém os esporos de C. difficile sob controle (Ref. 25).
Na ausência dessa competição microbiana, os esporos de C. difficile podem germinar, proliferar e produzir toxinas que causam inflamação colônica severa, diarreia e colite pseudomembranosa (Ref. 8). A ICD ilustra perfeitamente como a remoção da comunidade comensal protetora permite que um patobionte (um organismo que pode coexistir pacificamente, mas que tem potencial para causar doença) floresça e cause uma patologia significativa. É uma demonstração clínica direta de que a ausência de “micróbios bons” é tão perigosa quanto a presença de “micróbios maus”.
Consequências Sistêmicas da Falha da Barreira: Respostas de Anticorpos Comprometidas e a Suscetibilidade à Sepse
A falha da barreira intestinal no paciente crítico tem consequências que se estendem muito além do trato gastrointestinal. A translocação de patobiontes intestinais para a corrente sanguínea é um evento inicial chave na patogênese da sepse nosocomial. Tradicionalmente, assumia-se que, uma vez no sangue, esses microrganismos encontrariam um sistema imune sistêmico competente para combatê-los. No entanto, evidências recentes revelam um cenário muito mais sombrio.
Um estudo inovador demonstrou que pacientes críticos apresentam respostas de anticorpos sistêmicos (IgM e IgG) severamente comprometidas, especificamente contra os patobiontes Gram-negativos que colonizam seu próprio intestino (Ref. 5). Esta deficiência está associada à linfopenia de células B e a uma desregulação geral da função dessas células. Crucialmente, níveis reduzidos de IgG contra esses patobiontes foram diretamente associados a um risco aumentado de desenvolver infecções nosocomiais e de morte (Ref. 5).
Esta descoberta estabelece um “modelo de duplo golpe” para a sepse nosocomial. O primeiro golpe é a falha da barreira mucosa e a disbiose, que permitem a translocação bacteriana do intestino para a corrente sanguínea (Ref. 22, 23). O segundo golpe, e talvez o mais insidioso, é a falha simultânea da imunidade humoral sistêmica — o próprio sistema de defesa encarregado de neutralizar bactérias no sangue (Ref. 5). As muralhas do castelo são rompidas (intestino permeável) ao mesmo tempo em que os guardas são desarmados (anticorpos sistêmicos deficientes). Esta tempestade perfeita oferece uma explicação integrada e poderosa para a profunda suscetibilidade dos pacientes de UTI à sepse originada de sua própria flora intestinal, conectando diretamente a falha da imunidade local a um estado de paralisia imune sistêmica.
III. Lesão da Barreira Mucosa: Implicações para a Vigilância e a Prática Clínica
Além do Cateter: Repensando as Infecções da Corrente Sanguínea com o Critério MBI-LCBI
A compreensão de que a translocação bacteriana através de uma barreira mucosa danificada é uma fonte primária de bacteremia em certas populações de pacientes levou a uma evolução necessária na vigilância de infecções. Em 2013, a rede National Healthcare Safety Network (NHSN) dos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos EUA introduziu a definição de Infecção da Corrente Sanguínea Laboratorialmente Confirmada por Lesão da Barreira Mucosa (MBI-LCBI, do inglês Mucosal Barrier Injury Laboratory-Confirmed Bloodstream Infection) (Ref. 14).
O objetivo desta nova categoria é reclassificar episódios de bacteremia em pacientes de alto risco (principalmente pacientes onco-hematológicos com neutropenia ou receptores de transplante de células-tronco hematopoiéticas) que, embora tenham um cateter venoso central (CVC), a origem mais provável da infecção é a translocação de flora oral ou gastrointestinal, e não a contaminação do cateter (Ref. 35). Os critérios de vigilância para MBI-LCBI exigem uma hemocultura positiva para microrganismos específicos (uma lista definida de comensais intestinais ou orais) em um paciente que também atenda a critérios clínicos de neutropenia grave ou de doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) com diarreia severa (Ref. 14). Esta definição representa um reconhecimento formal, a nível de vigilância epidemiológica, de que a fisiopatologia da infecção é fundamental para sua correta classificação e, consequentemente, para a avaliação da qualidade do cuidado.
Análise Crítica para o Controlador de Infecção: MBI-LCBI é um Indicador de Qualidade ou um Fator de Confusão?
A introdução do critério MBI-LCBI tem implicações profundas para os programas de controle de infecção. A aplicação desta definição pode reduzir drasticamente as taxas de Infecção Primária da Corrente Sanguínea Laboratorialmente Confirmada Associada a Cateter Venoso Central (IPCSL-AC), com reduções que variam de 8% em todas as unidades hospitalares a impressionantes 49% em unidades de oncologia (Ref. 3, 27). Em populações onco-hematológicas, os episódios de MBI-LCBI podem representar de 45% a mais de 70% de todas as IPCSL-AC notificadas (Ref. 17, 52). À primeira vista, isso sugere que uma grande proporção dessas infecções não seria prevenível através das medidas padrão de inserção e manutenção de cateteres.
No entanto, a realidade é mais complexa. A ideia de que as MBI-LCBIs são eventos puramente fisiopatológicos e não relacionados aos cuidados com o cateter é desafiada por evidências crescentes. Um estudo pediátrico demonstrou que a implementação de bundles de prevenção de IPCSL-AC resultou em reduções semelhantes tanto nas taxas de MBI-LCBI quanto nas de IPCSL-AC não-MBI, sugerindo que a manutenção adequada do cateter desempenha um papel na prevenção de ambos os tipos de infecção (Ref. 4). Além disso, um estudo em pacientes oncológicos adultos descobriu que quase 20% dos episódios que preenchiam os critérios para MBI-LCBI também podiam ser classificados como infecções da corrente sanguínea relacionadas ao cateter (ICSRC) quando critérios diagnósticos específicos (como culturas quantitativas pareadas) eram aplicados (Ref. 2).
Esses achados contestam uma dicotomia simplista e sugerem que a patogênese representa um espectro. Em vez de um evento binário (ou é translocação, ou é contaminação do cateter), é mais provável que ocorra uma interação. Um paciente com uma barreira mucosa comprometida (primeiro evento) pode ter bacteremias transitórias de baixo grau. Nesse estado de vulnerabilidade, uma pequena falha na manutenção do cateter (segundo evento) — que poderia ser inconsequente em um paciente saudável — pode ser suficiente para permitir a adesão bacteriana e a formação de biofilme, transformando uma bacteremia transitória em uma infecção sustentada. Portanto, a classificação de uma infecção como MBI-LCBI não deve isentar as equipes da responsabilidade pelos cuidados com o cateter. Em vez disso, deve ser vista como um marcador de extrema vulnerabilidade do hospedeiro, onde a adesão rigorosa às melhores práticas é ainda mais crítica.
Tabela 1: Impacto da Aplicação do Critério MBI-LCBI nas Taxas de IPCSL em Populações de Risco.
| Estudo (Ref.) | População de Pacientes | % de IPCSL Reclassificadas como MBI-LCBI | Redução na Taxa de IPCSL (%) | Principal Achado/Nuança |
| Magill et al., 2015 (Ref. 3) | Hospitais de cuidados agudos (EUA) | 44.7% (em unidades que notificaram MBI) | 49% (Oncologia), 8% (Geral) | O impacto é altamente dependente do tipo de unidade, sendo maior em oncologia. |
| Metzger et al., 2015 (Ref. 52) | Onco-hematologia e Transplante de Medula Óssea | 71% | 53.3% (apenas para não-MBI) | A taxa de MBI-LCBI não diminuiu com as intervenções de bundle, sugerindo uma patogênese distinta. |
| Hagiya et al., 2017 (Ref. 17) | Pacientes com câncer hematológico | 45.5% | Não calculado | Casos de MBI-LCBI tiveram maior probabilidade de neutropenia e infecção por Gram-negativos. |
| Fisher et al., 2017 (Ref. 4) | Oncologia Pediátrica | 60% | Tendência de queda em ambas as taxas | Bundles de prevenção padrão foram associados à redução tanto das taxas de MBI quanto de não-MBI. |
| Marra et al., 2023 (Ref. 2) | Tumores sólidos e malignidades hematológicas | 15.0% | 15.02% (geral), 22.9% (hematologia na UTI) | 19.6% dos episódios de MBI-LCBI também preenchiam critérios para infecção relacionada ao cateter (ICSRC). |
A Quebra da Barreira Urotelial: Integridade Mucosa na Infecção do Trato Urinário Associada a Cateter (ITU-AC)
O conceito de integridade da barreira mucosa como um pilar da defesa do hospedeiro não se limita ao trato gastrointestinal. A mucosa do trato urinário, ou uroepitélio, possui seus próprios mecanismos de defesa sofisticados. Estes incluem o fluxo mecânico da urina, a produção de uma camada de glicosaminoglicanos que impede a aderência bacteriana e respostas imunes locais mediadas por citocinas e células imunes residentes (Ref. 19).
A cateterização vesical de demora é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento de uma Infecção do Trato Urinário Associada a Cateter (ITU-AC) precisamente porque ela anula ou contorna todas essas defesas (Ref. 18). O cateter impede o esvaziamento completo e o fluxo mecânico, pode causar trauma direto ao uroepitélio durante a inserção e remoção, e fornece uma superfície abiótica ideal para a formação de biofilmes bacterianos (Ref. 18). Portanto, a ITU-AC pode ser enquadrada não apenas como uma infecção resultante da introdução de bactérias, mas como uma consequência direta da quebra mecânica e funcional de um sistema de defesa de mucosa especializado.
IV. Modulando a Fronteira Imunológica: Novas Fronteiras na Prevenção de IRAS
Probióticos e Simbióticos na UTI: Uma Análise Crítica e Cepa-Específica das Evidências
Dada a centralidade da disbiose na patogênese das IRAS, a modulação da microbiota intestinal com probióticos (microrganismos vivos) e simbióticos (probióticos mais prebióticos) emergiu como uma estratégia preventiva atraente. A lógica é restaurar a resistência à colonização, modular a resposta imune e fortalecer a barreira intestinal.
Diversas metanálises de estudos menores sugeriram que os probióticos poderiam reduzir significativamente a incidência de PAV (Ref. 11). No entanto, a literatura é marcada por uma heterogeneidade substancial em termos de populações de pacientes, cepas de probióticos, doses e desenhos de estudo. O otimismo inicial foi temperado pelos resultados de um grande ensaio clínico randomizado (ECR), pragmático e de alta qualidade, que avaliou o Lactobacillus rhamnosus GG em mais de 2.600 pacientes de UTI. Este estudo de referência não encontrou nenhum benefício na prevenção de PAV ou em qualquer outro desfecho clinicamente importante, como mortalidade ou tempo de permanência na UTI (Ref. 9).
Este resultado discordante não invalida necessariamente o conceito, mas sublinha uma lição crucial: “probiótico” não é uma categoria monolítica. A eficácia é altamente dependente da cepa, da dose e da população de pacientes. Outras análises, incluindo metanálises em rede, sugerem que combinações específicas, como uma mistura de Bifidobacterium longum, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, podem ser mais eficazes na prevenção de PAV do que outras formulações ou o placebo (Ref. 10). Portanto, a prática clínica deve afastar-se do uso indiscriminado e não específico de probióticos e mover-se em direção a uma abordagem de precisão, baseada em evidências robustas para cepas específicas em populações de pacientes bem definidas.
Tabela 2: Revisão de Estudos com Probióticos na Prevenção de PAV e Infecção por C. difficile.
| Estudo (Ref.) | Cepa(s) Probiótica(s) e Dose | População de Pacientes | Desfecho Primário | Resultado | Qualidade da Evidência |
| Morrow et al., 2010 (Ref. 24) | Lactobacillus rhamnosus GG (109 UFC, 2x/dia) | UTI mista de alto risco | PAV | Redução significativa da PAV (19.1% vs. 40.0%) | ECR piloto, centro único |
| Johnstone et al., 2021 (Ref. 9) | Lactobacillus rhamnosus GG (1010 UFC, 2x/dia) | UTI mista | PAV | Nenhuma diferença significativa (21.9% vs. 21.3%) | ECR grande, multicêntrico |
| Su et al., 2021 (Ref. 11) | Várias cepas | UTI mista | PAV | Redução significativa da PAV (OR 0.58) | Metanálise de 15 ECRs |
| Liu et al., 2019 (Ref. 10) | Várias cepas | UTI mista | PAV | B. longum + L. bulgaricus + S. thermophilus mais eficaz | Metanálise em rede |
| Gao et al., 2010 | Várias cepas | UTI mista | ICD | Redução significativa da ICD | Metanálise de 25 ECRs |
| Goldenberg et al., 2017 (Ref. 25) | Várias cepas | Pacientes em uso de antibióticos | ICD | Redução significativa da ICD | Revisão Cochrane |
Do Antibiotic Stewardship ao Immuno-Stewardship: Rumo a uma Abordagem Holística para a Proteção do Paciente
Por décadas, os programas de stewardship hospitalar focaram-se quase exclusivamente na gestão de antimicrobianos. Embora vital, o Antibiotic Stewardship é, por natureza, reativo ou, na melhor das hipóteses, focado na prevenção da resistência. Ele não aborda a vulnerabilidade subjacente do hospedeiro que permite que a infecção se estabeleça. A crescente compreensão do papel da imunidade de mucosas e do microbioma exige uma evolução em nosso pensamento estratégico (Ref. 12).
Propõe-se aqui o conceito de “Immuno-Stewardship” como a próxima fronteira no controle de infecções. O Immuno-Stewardship é um programa coordenado e multidisciplinar com o objetivo de preservar ou restaurar ativamente a função imune e a homeostase microbiana do paciente (Ref. 12). Seus pilares incluem:
- Minimização do Dano Iatrogênico: Uso criterioso de medicamentos que causam disbiose (antibióticos, inibidores da bomba de prótons) e quebram barreiras físicas (dispositivos invasivos).
- Suporte à Barreira Mucosa: Otimização da nutrição enteral para fornecer substratos para os enterócitos e a microbiota comensal.
- Monitoramento da Vulnerabilidade: Utilização de biomarcadores (quando disponíveis) para avaliar o estado da barreira intestinal e da função imune.
- Terapias Restauradoras: Consideração baseada em evidências de intervenções que restauram a microbiota, como probióticos cepa-específicos ou, em casos selecionados, transplante de microbiota fecal.
O Immuno-Stewardship não substitui, mas complementa o Antibiotic Stewardship, criando uma abordagem holística que trata o paciente não como um campo de batalha passivo, mas como um ecossistema complexo cuja resiliência é a chave para a prevenção de infecções.
Perspectivas Futuras: Transplante de Microbiota Fecal, Metabólitos e Vacinas Mucosas
O futuro da prevenção de IRAS baseada no microbioma provavelmente se moverá para além dos probióticos. O Transplante de Microbiota Fecal (TMF), que transfere um ecossistema microbiano completo de um doador saudável para um receptor, já demonstrou eficácia notável no tratamento da ICD recorrente e está sendo investigado para outras condições de disbiose (Ref. 25).
Outras estratégias futuras incluem o uso de prebióticos (fibras que alimentam seletivamente bactérias benéficas), pós-bióticos (metabólitos microbianos benéficos, como os ácidos graxos de cadeia curta), e até mesmo consórcios de bactérias definidas, projetados para restaurar funções ecológicas específicas (Ref. 6). Finalmente, o desenvolvimento de vacinas mucosas eficazes, que induzam uma resposta imune protetora (particularmente SIgA) diretamente no local de entrada do patógeno, continua a ser uma alta prioridade, embora enfrente desafios significativos para superar a tolerância inerente do ambiente mucoso (Ref. 1, 20).
V. Conclusões e Recomendações Finais
Síntese
A barreira mucosa e seu microbioma residente não são um pano de fundo passivo, mas sim determinantes ativos e centrais do risco de um paciente desenvolver uma infecção relacionada à assistência à saúde. A doença crítica precipita uma tempestade perfeita de falha da barreira, disbiose profunda e disfunção imune sistêmica, transformando o próprio paciente em seu maior reservatório de patógenos. A vigilância epidemiológica está começando a se adaptar a essa realidade com conceitos como o MBI-LCBI, mas a prática clínica e as estratégias de prevenção devem evoluir ainda mais rapidamente. O futuro do controle de infecções reside em uma abordagem mais holística, que não apenas combate os microrganismos, mas também protege e restaura ativamente as defesas do hospedeiro.
Recomendações para a Prática
- Educação e Conscientização: Disseminar ativamente os conceitos do eixo intestino-pulmão, do “patobioma” do paciente crítico e da falha imune sistêmica entre as equipes clínicas (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas). Promover uma compreensão mais profunda da patogênese das IRAS que vá além da simples contaminação cruzada.
- Vigilância Inteligente: Implementar a vigilância de MBI-LCBI de acordo com os critérios do NHSN, mas interpretar os dados com a devida nuançe. Utilizar as taxas de MBI-LCBI não como uma justificativa para taxas de IPCSL elevadas, mas como um marcador da vulnerabilidade da população de pacientes, o que exige uma vigilância ainda maior em todos os aspectos do cuidado, incluindo a manutenção rigorosa dos cateteres.
- Prática Clínica Baseada em Evidências: Evitar o uso rotineiro e não específico de probióticos na UTI. Se a consideração de uma intervenção com probióticos for feita, ela deve ser baseada nas melhores evidências disponíveis para cepas específicas, em uma população de pacientes bem definida e para um desfecho claro, reconhecendo a falta de benefício demonstrada por formulações como o L. rhamnosus GG em populações gerais de UTI.
- Liderança e Inovação: Liderar a criação de um programa de “Immuno-Stewardship”. Formar uma equipe multidisciplinar (Controle de Infecção, Farmácia Clínica, Nutrição, Terapia Intensiva) para desenvolver e implementar protocolos destinados a preservar a saúde intestinal e a função imune em pacientes de alto risco. Isso pode incluir políticas para o uso mais criterioso de inibidores da bomba de prótons, estratégias nutricionais que promovam a eubiose e a avaliação de novas terapias restauradoras do microbioma à medida que evidências robustas se tornem disponíveis.
O futuro do controle de infecção hospitalar vai além de bundles e antibióticos. Ele exige um salto conceitual: proteger a barreira mucosa, preservar a diversidade microbiana e adotar o Immuno-Stewardship como política institucional. Esse é o caminho para reduzir IRAS, enfrentar a sepse nosocomial e transformar a prática clínica em UTIs. A fronteira invisível deixou de ser apenas biológica — agora é também estratégica e ética para a segurança do paciente.
VI. Referências Bibliográficas Comentadas
- ERNST, Peter B.; KIYONO, Hiroshi. Mucosal Immunity. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. cap. 7.
- Resumo: Este capítulo fundamental serve como base conceitual para o artigo, detalhando a arquitetura complexa da imunidade de mucosas. Aborda o desafio de manter a homeostase em uma vasta superfície exposta, o papel central da IgA secretora, a coevolução com o microbioma e a orquestra celular (ILCs, Tregs) que regula a tolerância e a resposta imune. Sua relevância reside em fornecer os princípios biológicos que explicam a vulnerabilidade do paciente quando este sistema falha.
- MARRA, Alexandre R. et al. Applying mucosal barrier injury laboratory-confirmed bloodstream infection criteria in patients with solid tumors and hematologic malignancies: a retrospective cohort study looking for the real source of infection. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 44, n. 2, p. 302-304, fev. 2023. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2021.466.
- Resumo: Este estudo crucial demonstra a complexidade da patogênese das infecções da corrente sanguínea em pacientes oncológicos. Ao aplicar critérios diagnósticos rigorosos, os autores descobriram que 19,6% dos episódios classificados como MBI-LCBI (supostamente por translocação) também preenchiam critérios para infecção relacionada ao cateter. Este achado apoia a tese de que a patogênese é um espectro, e não uma dicotomia, sendo fundamental para a análise crítica da vigilância de IPCSL.
- MAGILL, Shelley S. et al. Mucosal barrier injury laboratory-confirmed bloodstream infections (MBI-LCBI): descriptive analysis of data reported to National Healthcare Safety Network (NHSN), 2013. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 37, n. 1, p. 2-7, jan. 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2015.228.
- Resumo: Uma análise descritiva dos dados do NHSN que quantifica o impacto da definição de MBI-LCBI nas taxas de IPCSL. O estudo mostra que a reclassificação reduz as taxas de IPCSL em até 49% nas unidades de oncologia, destacando a importância da translocação bacteriana nessa população e o efeito significativo da mudança de definição nos indicadores de qualidade.
- FISHER, Brian T. et al. Mucosal Barrier Injury Central-Line–Associated Bloodstream Infections: What is the Impact of Standard Prevention Bundles?. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 38, n. 11, p. 1368-1370, nov. 2017. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2017.189.
- Resumo: Este estudo pediátrico desafia a noção de que as MBI-LCBIs são totalmente independentes dos cuidados com o cateter. Os autores observaram que a implementação de bundles de prevenção padrão foi associada a uma redução nas taxas tanto de MBI-LCBI quanto de IPCSL não-MBI, sugerindo que a manutenção adequada do cateter é crucial mesmo em pacientes com alto risco de translocação.
- STALLINGS, J. Daniel et al. Impaired systemic antibody response against gut microbiota pathobionts in critical illness and susceptibility to nosocomial infections. medRxiv, 2025.07.08.25331079, 9 jul. 2025. DOI: https://doi.org/10.1101/2025.07.08.25331079.
- Resumo: Um estudo importante que revela um novo mecanismo de suscetibilidade a infecções em pacientes críticos. Demonstra que, além da falha da barreira intestinal, há um comprometimento severo da resposta de anticorpos sistêmicos contra os patobiontes intestinais. Este achado é a base para o “modelo de duplo golpe” da sepse nosocomial apresentado neste artigo.
- KIM, M.; MCDONALD, D.; KAEBERLEIN, M. The gut microbiome in the intensive care unit: from dysbiosis to therapeutic strategies. Journal of Intensive Care Medicine, v. 36, n. 8, p. 859-870, ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.1177/0885066620958178.
- Resumo: Esta revisão detalha a conversão da microbiota saudável para um “patobioma” na UTI, caracterizado pela perda de diversidade e dominância de patógenos. O artigo discute como as intervenções da UTI exacerbam essa disbiose e como isso contribui para a inflamação sistêmica e a falência de órgãos, fornecendo o contexto para a discussão sobre o surgimento do patobiome.
- DICKSON, Robert P.; SINGER, Benjamin H.; HUFFNAGLE, Gary B. The role of the gut microbiome in the pathogenesis of ventilator-associated pneumonia. The Lancet Respiratory Medicine, v. 4, n. 10, p. 838-849, out. 2016. DOI:(https://doi.org/10.1016/S2213-2600(16)30135-1 ).
- Resumo: Uma revisão abrangente que explora os mecanismos do eixo intestino-pulmão. Detalha como a disbiose intestinal pode influenciar a imunidade pulmonar através da translocação de produtos microbianos e da migração de células imunes, fornecendo a base científica para a discussão sobre a patogênese da PAV.
- RUPNIK, Maja; WILCOX, Mark H.; GERDING, Dale N. Clostridium difficile infection: new developments in epidemiology and pathogenesis. Nature Reviews Microbiology, v. 7, n. 7, p. 526-536, jul. 2009. DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro2164.
- Resumo: Artigo clássico que descreve a epidemiologia e a patogênese da infecção por C. difficile. Enfatiza o papel central da disbiose induzida por antibióticos na perda da resistência à colonização, servindo como o exemplo arquetípico de doença decorrente da falha do ecossistema microbiano protetor.
- JOHNSTONE, Jennie et al. Effect of Probiotics on Incident Ventilator-Associated Pneumonia in Critically Ill Patients: A Randomized Clinical Trial. JAMA, v. 326, n. 11, p. 1024-1033, 21 set. 2021. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2021.13350.
- Resumo: Este é o maior e mais rigoroso ensaio clínico randomizado sobre o uso de probióticos para prevenção de PAV. Seus resultados negativos para o Lactobacillus rhamnosus GG são um contraponto crucial ao otimismo de estudos menores e metanálises, destacando a necessidade de uma abordagem crítica e cepa-específica para esta intervenção.
- LIU, Ke-xin et al. Synbiotics for prevention of ventilator-associated pneumonia: a probiotics strain-specific network meta-analysis. Journal of International Medical Research, v. 47, n. 11, p. 5433-5448, nov. 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/0300060519876753.
- Resumo: Uma metanálise em rede que compara a eficácia de diferentes formulações de probióticos. O estudo sugere que a eficácia é cepa-específica, com uma combinação de B. longum + L. bulgaricus + S. thermophilus mostrando-se superior a outras. É fundamental para argumentar contra uma visão monolítica dos probióticos.
- SU, Qian-qian et al. The effect of probiotics on the prevention of ventilator-associated pneumonia in critically ill patients: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Nutrition, v. 8, p. 798827, 20 dez. 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fnut.2021.798827.
- Resumo: Uma metanálise recente que, apesar dos resultados do estudo de Johnstone et al., ainda encontra um efeito protetor geral dos probióticos contra a PAV. Isso ilustra a controvérsia e a heterogeneidade na literatura, reforçando a necessidade de uma análise crítica das evidências.
- CCIH.MED.BR. Imunidade em xeque: por que os anticorpos falham na prevenção da infecção hospitalar?. Disponível em: https://www.ccih.med.br/imunidade-em-xeque-por-que-os-anticorpos-falham-na-prevencao-da-infeccao-hospitalar/. Acesso em: 10 ago. 2025.
- Resumo: Este artigo do site de destino (ccih.med.br) aborda a vulnerabilidade do paciente hospitalizado devido à falha das barreiras imunes inatas e da defesa humoral. Introduz a necessidade de uma visão ampliada para além do Antibiotic Stewardship, alinhando-se com a proposta do conceito de Immuno-Stewardship.
- CCIH.MED.BR. Microbioma humano: a nova fronteira no controle de infecções hospitalares. Disponível em: https://www.ccih.med.br/microbioma-humano-a-nova-fronteira-no-controle-de-infeccoes-hospitalares/. Acesso em: 10 ago. 2025.
- Resumo: Outro artigo relevante do site de destino, que posiciona o microbioma como um campo emergente e crucial para o controle de infecções. Discute como a microbiota “educa” o sistema imune da mucosa e como a disbiose aumenta o risco de infecções, reforçando os temas centrais deste relatório.
- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). NHSN Patient Safety Component Manual: Chapter 4 – Bloodstream Infection Event. Atlanta: CDC, 2024. Disponível em: https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/4psc_clabscurrent.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.
- Resumo: O manual oficial do NHSN que define os critérios de vigilância para IPCSL, incluindo os critérios específicos para MBI-LCBI 1 e MBI-LCBI 2. É a fonte primária para a discussão técnica sobre a definição e sua aplicação na prática de vigilância.
- EBERL, Gérard. Immunity, inflammation and allergy in the gut. Science, v. 351, n. 6275, p. 812-817, 19 fev. 2016. DOI: https://doi.org/10.1126/science.aad1959.
- Resumo: Uma revisão que discute o papel das Células Linfoides Inatas (ILCs) na manutenção da homeostase intestinal e na resposta a patógenos. Fornece o background científico para a seção sobre a “orquestra celular” da mucosa.
- ROUND, June L.; MAZMANIAN, Sarkis K. The gut microbiota shapes intestinal immune responses during health and disease. Nature Reviews Immunology, v. 9, n. 5, p. 313-323, maio 2009. DOI: https://doi.org/10.1038/nri2515.
- Resumo: Este artigo de revisão detalha como a microbiota comensal induz e mantém populações de células T reguladoras (Tregs) no intestino, um mecanismo essencial para a tolerância imunológica. É uma referência chave para explicar o papel dos Tregs na homeostase da mucosa.
- HAGIYA, Hideharu et al. Epidemiology and clinical characteristics of mucosal barrier injury-associated bloodstream infections: A 4-year survey in a Japanese tertiary-care university hospital. Journal of Infection and Chemotherapy, v. 23, n. 11, p. 759-764, nov. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiac.2017.07.003.
- Resumo: Estudo que corrobora a alta prevalência de MBI-LCBI em pacientes com câncer hematológico (45,5% de todas as IPCSL), reforçando os dados apresentados na Tabela 1 e a importância deste conceito para a epidemiologia hospitalar.
- GOULD, Carolyn V. et al. Strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections in acute care hospitals: 2022 update. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 45, n. 2, p. 137-157, fev. 2024. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2023.238.
- Resumo: Diretriz atualizada que delineia as estratégias de prevenção de ITU-AC. Enfatiza que a duração da cateterização é o principal fator de risco, o que apoia a ideia de que a prevenção se baseia em evitar a quebra prolongada da barreira mucosa urotelial.
- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Manual de Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Hospitalar. Brasília: ANVISA, 2001. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_microbiologia_completo.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.
- Resumo: Manual brasileiro que, embora mais antigo, descreve os mecanismos de defesa do hospedeiro, incluindo os da mucosa do trato urinário. É relevante para contextualizar a discussão sobre a barreira urotelial no cenário nacional.
- MESTECKY, Jiri et al. The mucosal immune system: from fundamental concepts to vaccine development. The Journal of Clinical Investigation, v. 117, n. 7, p. 1725-1735, jul. 2007. DOI: https://doi.org/10.1172/JCI32328.
- Resumo: Uma revisão abrangente que fornece uma visão geral do sistema imune mucoso comum, explicando como a estimulação em um sítio mucoso pode levar a respostas em outros, um conceito importante para entender a interconexão entre diferentes mucosas.
- HANSSON, Gunnar C. Role of mucus layers in gut infection and inflammation. Current Opinion in Microbiology, v. 15, n. 1, p. 57-62, fev. 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mib.2011.11.002.
- Resumo: Este artigo foca no papel crucial das camadas de muco como a primeira linha de defesa física e bioquímica no intestino. Explica como o muco separa fisicamente as bactérias das células epiteliais, um componente essencial da barreira mucosa.
- ZUO, Tao; NG, Siew C. The gut microbiota in the pathogenesis and therapeutics of inflammatory bowel disease. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, v. 20, n. 11, p. 705-724, nov. 2023. DOI: https://doi.org/10.1038/s41575-023-00809-y.
- Resumo: Embora focado em DII, este artigo de revisão detalha os mecanismos pelos quais a disbiose contribui para a inflamação crônica, incluindo a degradação da barreira epitelial e a ativação de respostas imunes aberrantes, conceitos diretamente aplicáveis ao paciente crítico.
- SHIMIZU, Kentaro et al. Gut microbiota and systemic inflammatory response syndrome in critically ill patients. Annals of Intensive Care, v. 11, n. 1, p. 13, jan. 2021. DOI: https://doi.org/10.1186/s13613-021-00800-4.
- Resumo: Este artigo conecta diretamente a disbiose intestinal em pacientes críticos com a resposta inflamatória sistêmica. Fornece evidências de que a deterioração da microbiota está associada à progressão da doença, apoiando a discussão sobre as consequências sistêmicas da falha da barreira.
- MORROW, Lee E. et al. Probiotic supplementation reduces ventilator-associated pneumonia in critically ill patients: a randomized controlled trial. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, v. 182, n. 7, p. 948-955, out. 2010. DOI: https://doi.org/10.1164/rccm.200912-1853OC.
- Resumo: Um dos primeiros ECRs piloto que mostrou um benefício significativo do L. rhamnosus GG na prevenção de PAV. É importante citá-lo para contrastar com o estudo maior e mais recente de Johnstone et al. e ilustrar a evolução e a complexidade das evidências neste campo.
- GOLDENBERG, Joshua Z. et al. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews, n. 12, CD006095, dez. 2017. DOI:((https://doi.org/10.1002/14651858.CD006095.pub4)).
- Resumo: Uma revisão sistemática Cochrane, padrão-ouro da medicina baseada em evidências, que conclui com moderada certeza que os probióticos são eficazes na prevenção da diarreia associada ao C. difficile. Fornece um forte suporte para o uso de probióticos neste cenário específico.
Autor:
Antonio Tadeu Fernandes:
https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/
https://www.instagram.com/tadeuccih/
#ControleDeInfecção #SegurançaDoPaciente #ImmunoStewardship #Microbioma #GestãoEmSaúde #Hospital
Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação
Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:
MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção
MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização
MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica
Especialização em Farmácia Clínica e Hospitalar
Pós-graduação em Farmácia Oncológica