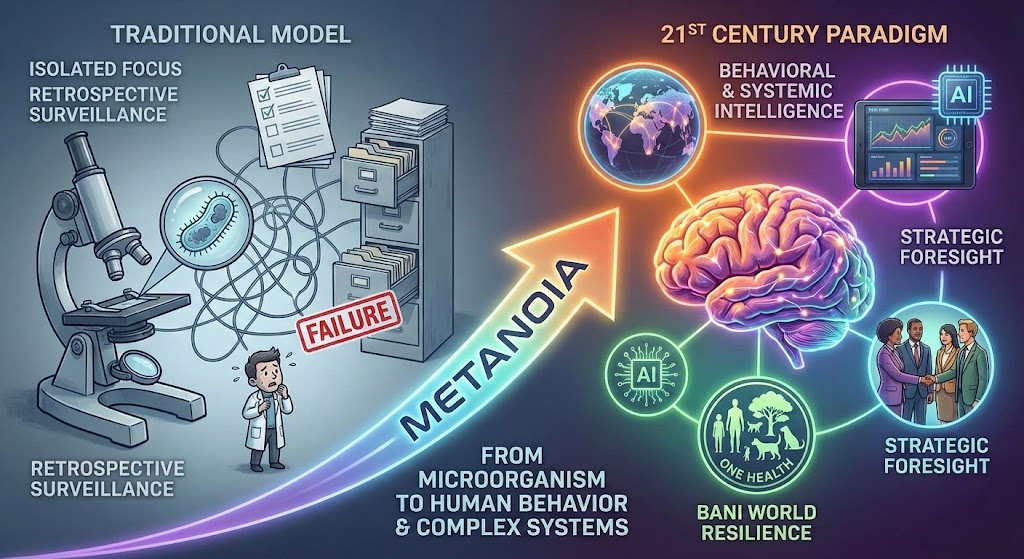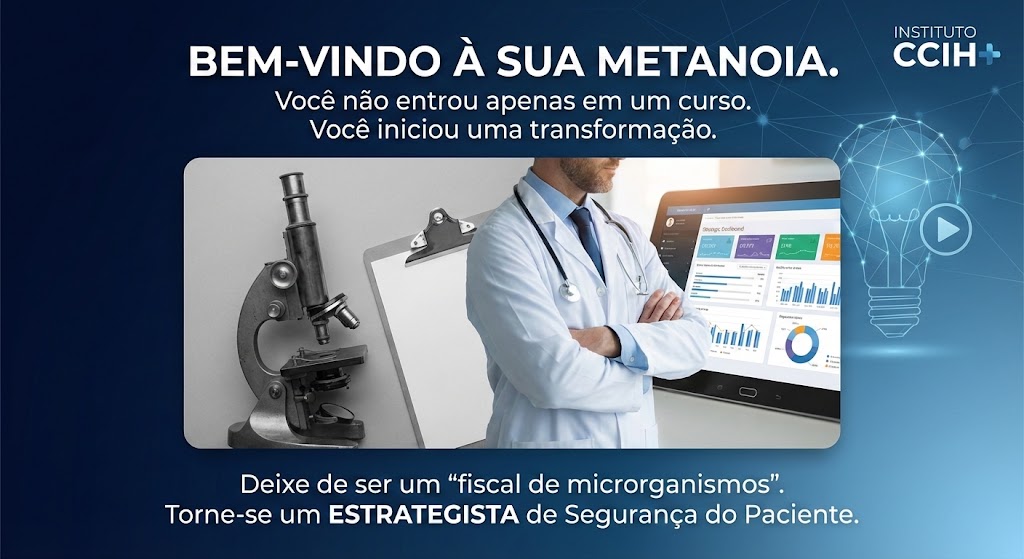Quando a Ciência Encontra o Limite do Uso Humano
Há uma linha tênue separando o uso racional do uso conveniente.
E é exatamente sobre essa linha que caminham, há décadas, os macrolídeos e a clindamicina — antibióticos que já foram sinônimos de segurança, previsibilidade e eficácia, mas que hoje simbolizam o dilema ético e técnico da prática antimicrobiana moderna.
Esses fármacos sobreviveram a modismos terapêuticos e crises sanitárias. São velhos conhecidos de quem vive o cotidiano da CCIH, mas agora enfrentam o julgamento implacável da resistência microbiana e do próprio comportamento humano.
A cada prescrição sem cultura, a cada uso empírico baseado em hábito, uma parte da eficácia coletiva é sacrificada.
A era da resistência não é apenas uma crise microbiológica — é uma crise de gestão e de cultura hospitalar.
E é nesse contexto que o Antimicrobial Stewardship deixa de ser um “programa” e passa a ser um ato de sobrevivência institucional.
Entre o stewardship e a resistência, não há meio-termo: há apenas a maturidade de quem entende que o futuro da terapêutica antimicrobiana será decidido não no laboratório, mas nas decisões clínicas cotidianas.
O presente artigo não se propõe a repetir o que já está descrito em manuais. Ele oferece uma leitura estratégica — farmacológica, microbiológica e ética — sobre os macrolídeos e a clindamicina, como instrumentos que exigem, mais do que nunca, discernimento.
FAQ: O Futuro dos Macrolídeos e da Clindamicina em Tempos de Stewardship e Resistência Antimicrobiana
Este FAQ foi elaborado para profissionais de saúde, incluindo gestores hospitalares, membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), médicos, farmacêuticos e enfermeiros, com base no artigo “Entre o Stewardship e a Resistência: O Futuro dos Macrolídeos e da Clindamicina“, publicado no site ccih.med.br, e em referências adicionais relevantes.
Sobre Macrolídeos e Clindamicina
1. Qual o mecanismo de ação dos macrolídeos e da clindamicina?
Ambos os antimicrobianos atuam inibindo a síntese proteica bacteriana ao se ligarem à subunidade 50S do ribossomo da bactéria. Essa ligação impede a translocação do peptidil-tRNA, bloqueando a produção de proteínas essenciais para o crescimento e a replicação bacteriana. Embora o alvo seja o mesmo, seus sítios de ligação são próximos, mas não idênticos.
2. Quais são os principais representantes da classe dos macrolídeos?
Os macrolídeos são classificados pelo número de átomos em seu anel de lactona. Os mais conhecidos e utilizados na prática clínica são a Eritromicina (14 átomos), a Claritromicina (14 átomos) e a Azitromicina (15 átomos), esta última um azalídeo derivado da eritromicina.
- Referência: Macrolides – StatPearls – NCBI Bookshelf
3. A clindamicina pertence à mesma classe dos macrolídeos?
Não. Embora frequentemente agrupada com os macrolídeos devido ao mecanismo de resistência cruzada (MLSb), a clindamicina pertence à classe das lincosamidas. A semelhança no mecanismo de ação e resistência justifica sua discussão conjunta em programas de stewardship.
- Referência: Clindamycin – StatPearls – NCBI Bookshelf
Mecanismos de Resistência
4. O que é o fenótipo de resistência MLSb?
O fenótipo MLSb (Macrolídeo-Lincosamida-Estreptogramina B) é um mecanismo de resistência cruzada que afeta essas três classes de antimicrobianos. A resistência é mediada pela metilação do RNA ribossômico 23S, alterando o sítio de ligação dos fármacos na subunidade 50S. Essa alteração é codificada principalmente pelos genes erm (erythromycin ribosome methylase).
- Referência: Entre o Stewardship e a Resistência: O Futuro dos Macrolídeos e da Clindamicina – CCIH Cursos
5. Qual a diferença entre a resistência MLSb constitutiva e a induzível?
Na resistência constitutiva, os genes erm estão constantemente ativados, tornando a bactéria resistente a todos os fármacos do grupo MLSb. Na resistência induzível (iMLSb), a metilase só é produzida na presença de um agente indutor, como a eritromicina. Assim, o microrganismo pode parecer sensível à clindamicina in vitro, mas a resistência pode ser induzida durante o tratamento, levando à falha terapêutica.
- Referência: Inducible Clindamycin Resistance in Staphylococci: A Critical Review – Clinical Infectious Diseases
6. Como o laboratório de microbiologia detecta a resistência induzível à clindamicina (iMLSb)?
A detecção é realizada pelo teste de aproximação de discos, conhecido como D-teste. Um disco de eritromicina (indutor) é posicionado próximo a um disco de clindamicina em uma placa de ágar inoculada com a bactéria. Se a bactéria possui o mecanismo iMLSb, o halo de inibição ao redor da clindamicina ficará achatado no lado próximo à eritromicina, formando uma letra “D”.
7. Além do MLSb, quais outros mecanismos de resistência afetam macrolídeos e clindamicina?
Outro mecanismo importante é o efluxo ativo, mediado por bombas que expulsam o antimicrobiano de dentro da célula bacteriana antes que ele alcance seu alvo. Este mecanismo é frequentemente codificado por genes msr (macrolide-streptogramin resistance) e confere resistência apenas a macrolídeos e estreptograminas B, mantendo a sensibilidade à clindamicina (fenótipo MS).
Aplicações Clínicas e Stewardship
8. Quais as principais indicações clínicas para o uso de macrolídeos?
Os macrolídeos são amplamente utilizados no tratamento de infecções do trato respiratório superior e inferior, como sinusite, faringite, otite média e pneumonia adquirida na comunidade (PAC), especialmente para cobertura de patógenos atípicos (ex: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila). Também são indicados para infecções de pele e tecidos moles e algumas infecções sexualmente transmissíveis.
- Referência: Macrolide Antibiotics – MedlinePlus
9. E para a clindamicina, quais são as indicações preferenciais?
A clindamicina tem excelente atividade contra bactérias anaeróbias e cocos Gram-positivos. É uma droga de escolha para infecções de pele e tecidos moles, especialmente as causadas por Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, incluindo infecções necrosantes, devido à sua capacidade de suprimir a produção de toxinas bacterianas. Também é usada em infecções odontogênicas e como alternativa para pacientes alérgicos a beta-lactâmicos.
10. Por que a azitromicina foi amplamente utilizada (e de forma inadequada) durante a pandemia de COVID-19?
A azitromicina foi inicialmente proposta por seus potenciais efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores, além da hipótese de uma atividade antiviral. No entanto, estudos clínicos robustos, como o RECOVERY Trial, demonstraram que ela não oferece benefício clínico no tratamento de pacientes hospitalizados com COVID-19 e seu uso indiscriminado contribuiu para o aumento da resistência bacteriana.
11. Qual o papel da clindamicina no tratamento de infecções estafilocócicas com suspeita de produção de toxinas?
A clindamicina é crucial no tratamento de infecções graves por S. aureus ou S. pyogenes associadas à produção de toxinas, como na síndrome do choque tóxico ou em fasceítes necrosantes. Por inibir a síntese proteica, ela bloqueia a produção de exotoxinas e superantígenos, reduzindo a resposta inflamatória sistêmica e o dano tecidual, sendo frequentemente associada a um beta-lactâmico.
12. Em quais situações a monoterapia com clindamicina deve ser evitada em infecções estafilocócicas?
A monoterapia com clindamicina deve ser evitada em infecções graves e de alto inóculo por S. aureus, mesmo que o antibiograma mostre sensibilidade (e D-teste negativo). Isso se deve ao risco de seleção de subpopulações resistentes durante o tratamento. Em bacteremias e endocardites, por exemplo, a clindamicina é considerada um agente bacteriostático e alternativas bactericidas são preferíveis.
13. Como um programa de Antimicrobial Stewardship pode otimizar o uso de macrolídeos e clindamicina?
Um programa de stewardship pode implementar estratégias como:
- Protocolos baseados em diretrizes: Restringir o uso empírico para indicações específicas.
- Revisão do antibiograma: Garantir a correta interpretação do D-teste e orientar a terapia.
- Auditoria e feedback: Monitorar a prescrição e fornecer orientação aos prescritores.
- Educação contínua: Disseminar informações sobre resistência local e uso apropriado.
- Referência: Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs – CDC
14. Qual o impacto do uso indiscriminado de azitromicina na resistência de Streptococcus pneumoniae?
O uso excessivo de azitromicina, especialmente em doses subótimas ou para tratar infecções virais, seleciona cepas de S. pneumoniae resistentes aos macrolídeos. Isso compromete a eficácia do tratamento empírico da pneumonia adquirida na comunidade, uma das principais indicações da classe.
- Referência: Macrolide Resistance in Streptococcus pneumoniae in the United States – New England Journal of Medicine
Segurança e Efeitos Adversos
15. Quais são os principais efeitos adversos associados aos macrolídeos?
Os efeitos adversos mais comuns são gastrointestinais (náusea, vômito, diarreia), devido à sua atividade pró-cinética (estímulo à motilidade gástrica). Um efeito adverso mais grave, embora raro, é o prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma, que pode levar a arritmias ventriculares como Torsades de Pointes.
16. A clindamicina é um dos principais antimicrobianos associados a qual infecção?
A clindamicina é historicamente um dos antimicrobianos mais associados ao desenvolvimento de colite pseudomembranosa, uma infecção causada pela proliferação da bactéria Clostridioides difficile no cólon. O uso da clindamicina suprime a flora intestinal protetora, permitindo que o C. difficile se multiplique e produza toxinas.
- Referência: Clindamycin and the Risk of Clostridium difficile–Associated Diarrhea – Archives of Internal Medicine
17. Existem interações medicamentosas importantes com os macrolídeos?
Sim, especialmente a eritromicina e a claritromicina (mas não a azitromicina) são inibidores potentes da enzima hepática CYP3A4. Isso pode aumentar a concentração sérica de diversos medicamentos metabolizados por essa via, como algumas estatinas (ex: sinvastatina), anticoagulantes orais (ex: varfarina) e imunossupressores (ex: ciclosporina), aumentando o risco de toxicidade.
Perspectivas
18. Qual é o futuro do uso da clindamicina diante da resistência do S. aureus Meticilina-Resistente (MRSA)?
A clindamicina ainda pode ser uma opção valiosa para infecções de pele e tecidos moles por MRSA adquiridas na comunidade, desde que a cepa seja sensível (D-teste negativo). No entanto, sua utilidade é limitada em infecções hospitalares e invasivas, onde as taxas de resistência são maiores e alternativas como sulfametoxazol-trimetoprim, doxiciclina ou vancomicina são frequentemente preferidas.
19. Existem novos macrolídeos ou lincosamidas em desenvolvimento?
Sim, a pesquisa continua focada no desenvolvimento de novos agentes com atividade aprimorada contra cepas resistentes. Cetolídeos (ex: telitromicina) foram desenvolvidos para superar a resistência do tipo MLSb, mas sua utilidade foi limitada por toxicidade. Novas moléculas, como a solithromycin, estão sendo investigadas para tratar infecções respiratórias, mas ainda não estão amplamente disponíveis.
20. Como os gestores hospitalares e a CCIH podem atuar para preservar a eficácia desses antimicrobianos?
A atuação deve ser multifacetada, envolvendo:
- Vigilância epidemiológica: Monitorar os perfis de sensibilidade locais, incluindo a prevalência de iMLSb em S. aureus.
- Políticas de prescrição: Desenvolver e implementar diretrizes claras para o uso empírico e direcionado de macrolídeos e clindamicina.
- Integração com o laboratório: Assegurar que testes como o D-teste sejam realizados rotineiramente e que seus resultados sejam comunicados de forma eficaz.
- Capacitação profissional: Promover sessões educativas sobre a interpretação de testes de resistência e as indicações clínicas apropriadas para preservar essas importantes classes de antimicrobianos.
- Referência: O papel da CCIH no uso racional de antimicrobianos – CCIH Cursos
Introdução – Relevância Contínua e Desafios Crescentes no Ambiente Hospitalar
Os macrolídeos e a clindamicina representam classes de antimicrobianos que, por décadas, têm sido pilares no tratamento de uma vasta gama de infecções bacterianas, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar (Ref. 1, Ref. 2). Sua eficácia contra patógenos respiratórios atípicos, cocos Gram-positivos e bactérias anaeróbias consolidou seu lugar no arsenal terapêutico. No entanto, a utilidade clínica dessas “balas mágicas” encontra-se sob crescente ameaça, confrontada por uma tempestade perfeita de desafios: a escalada da resistência antimicrobiana (RAM), preocupações significativas com a segurança do paciente e a persistência de práticas de prescrição subótimas. A RAM, agora reconhecida como uma “pandemia silenciosa” e uma das principais ameaças à saúde global, impõe uma reavaliação crítica de como utilizamos cada agente disponível (Ref. 4).
Este artigo propõe uma análise aprofundada e crítica sobre macrolídeos e clindamicina, desenvolvida especificamente para profissionais de controle de infecção hospitalar (CCIH). Partindo de uma base farmacológica robusta, a discussão se aprofunda nos complexos mecanismos de resistência, como o fenótipo MLSb, nos riscos de eventos adversos graves — notadamente a cardiotoxicidade associada aos macrolídeos e a colite por Clostridioides difficile (CDI) induzida pela clindamicina — e nas tendências epidemiológicas que moldam seu uso no Brasil e na América Latina (Ref. 1, Ref. 5).
A tese central deste trabalho é que os desafios clínicos associados a esses fármacos não são problemas isolados, mas sim consequências interconectadas da pressão seletiva e do uso inadequado. Portanto, a implementação de programas robustos de gestão de antimicrobianos, ou Antimicrobial Stewardship Programs (ASPs), não é apenas uma recomendação final, mas o imperativo estratégico que unifica toda a discussão. Cada aspecto farmacológico e microbiológico será analisado através da lente do stewardship, transformando este documento de uma mera revisão descritiva em um guia prescritivo e estratégico, com o objetivo de capacitar as equipes de CCIH a otimizar o uso, mitigar riscos e preservar a eficácia desses agentes cruciais para as gerações futuras.
Macrolídeos – Farmacologia, Mecanismos e o Paradoxo Imunomodulador
Os macrolídeos, uma classe heterogênea de antibióticos, continuam a desempenhar um papel significativo no tratamento de infecções respiratórias e outras condições. No entanto, seu perfil complexo, que abrange desde interações medicamentosas clinicamente importantes até efeitos significativos no sistema imune, exige um conhecimento aprofundado para um manejo seguro e eficaz.
Estrutura e Mecanismo de Ação: Da Inibição da Síntese Proteica aos Efeitos Pleiotrópicos
A estrutura química fundamental dos macrolídeos é definida por um anel lactônico macrocíclico, geralmente com 14, 15 ou 16 átomos de carbono, ao qual se ligam um ou mais desoxiaçúcares (Ref. 1). A eritromicina e a claritromicina são exemplos de macrolídeos de 14 membros, enquanto a azitromicina, um azalídeo, possui um anel de 15 membros com um átomo de nitrogênio inserido.
O mecanismo de ação primário é a inibição da síntese proteica bacteriana. Os macrolídeos ligam-se de forma reversível à subunidade ribossômica 50S, especificamente a uma região do RNA ribossômico (rRNA) 23S conhecida como domínio V, próximo ao centro da peptidil transferase (Ref. 1). Essa ligação obstrui fisicamente o túnel de saída do polipeptídeo nascente, impedindo o alongamento da cadeia proteica e levando à dissociação prematura do peptidil-tRNA do ribossomo (Ref. 1). Este efeito é predominantemente bacteriostático, embora concentrações elevadas possam exercer atividade bactericida contra patógenos altamente suscetíveis (Ref. 1).
Além da inibição direta da síntese proteica, a eficácia clínica dos macrolídeos é potencializada por duas propriedades farmacodinâmicas chave: um significativo efeito pós-antibiótico (EPA), que suprime o crescimento bacteriano mesmo após a concentração do fármaco cair abaixo da Concentração Inibitória Mínima (CIM), e uma excelente penetração tecidual, que permite alcançar altas concentrações no local da infecção (Ref. 1).
Espectro de Atividade e Farmacocinética: Implicações para a Prática Clínica
O espectro de atividade dos macrolídeos os torna particularmente valiosos contra uma gama de patógenos. São ativos contra cocos Gram-positivos, como Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes, e muitos isolados de Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina (MSSA). Contudo, sua principal vantagem reside na excelente atividade contra patógenos “atípicos” causadores de pneumonia, como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae e Legionella pneumophila (Ref. 1). A atividade contra Haemophilus influenzae é modesta, sendo a azitromicina a mais potente (Ref. 1).
As propriedades farmacocinéticas variam significativamente entre os principais representantes da classe, com implicações diretas na escolha do agente, na posologia e no potencial de interações medicamentosas (Ref. 1). A eritromicina, o protótipo da classe, possui baixa biodisponibilidade oral e é um potente inibidor da enzima hepática citocromo P450 3A4 (CYP3A4), o que a torna suscetível a inúmeras interações medicamentosas. A claritromicina, também um inibidor do CYP3A4, oferece melhor biodisponibilidade e é metabolizada em um composto ativo, a 14-hidroxi-claritromicina. A azitromicina se destaca por sua farmacocinética única: não inibe significativamente o CYP3A4, possui uma meia-vida tecidual extremamente longa e exibe uma extensa distribuição para os tecidos, permitindo esquemas de tratamento mais curtos e com dose única diária.
Tabela 1: Comparativo Farmacológico dos Principais Macrolídeos
| Característica | Eritromicina | Claritromicina | Azitromicina |
| Biodisponibilidade Oral | Variável (25%–50%) | 50%–55% | $\approx$ 37% |
| Efeito do Alimento | Reduz a absorção | Aumenta discretamente a absorção | Reduz a absorção (cápsulas) |
| Meia-vida Plasmática | 1.5–2 horas | 3–7 horas | 68–72 horas (tecidual) |
| Metabolismo (CYP3A4) | Substrato e Inibidor Potente | Substrato e Inibidor Potente | Inibição Mínima |
| Eliminação Principal | Biliar | Renal (20%–40%) e Biliar | Biliar (>50%) |
| Ajuste em Insuficiência Renal | Não necessário | Sim (ClCr < 30 mL/min) | Não necessário |
Fonte: Elaborado com base nos dados de (Ref. 1).
O Efeito Imunomodulador da Azitromicina: Uma Ferramenta Terapêutica na Sepse?
Além de sua atividade antimicrobiana, a azitromicina exibe potentes efeitos adicionais, atuando como um agente imunomodulador. Esse fármaco demonstrou a capacidade de atenuar respostas inflamatórias exacerbadas através de múltiplos mecanismos, incluindo a inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias como interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-$\alpha$), a modulação da função de macrófagos para um fenótipo M2 (associado à resolução e reparo tecidual) e a inibição do influxo de neutrófilos para os sítios de inflamação (Ref. 11, Ref. 26).
Essas propriedades geraram grande interesse em seu uso potencial em condições hiperinflamatórias, como a sepse. De fato, estudos observacionais sugeriram uma associação entre o uso de azitromicina e melhores desfechos em pacientes com sepse, incluindo um aumento no número de dias livres de UTI, mesmo em pacientes sem diagnóstico de pneumonia (Ref. 23). No entanto, essa “dupla identidade” da azitromicina como antibiótico e anti-inflamatório cria um complexo paradoxo para o stewardship. A utilização do fármaco para uma indicação imunomoduladora, embora farmologicamente plausível, ainda carece de evidências robustas de ensaios clínicos randomizados de grande porte. O uso disseminado para essa finalidade off-label pode levar a um fenômeno de “indication creep” (expansão inadequada de indicações), expondo desnecessariamente a microbiota bacteriana à pressão seletiva e acelerando o desenvolvimento de resistência contra sua função primária e comprovada: a antibacteriana (Ref. 4). Portanto, para o profissional de CCIH, é crucial reconhecer que, embora o potencial imunomodulador seja uma área promissora de pesquisa, seu uso clínico para este fim deve ser restrito a protocolos de pesquisa. O objetivo prioritário do stewardship continua sendo a preservação da eficácia da azitromicina como um agente antimicrobiano.
Segurança Cardiovascular: Navegando o Risco de Prolongamento do Intervalo QT
Uma das preocupações de segurança mais significativas associadas aos macrolídeos é o risco de prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma, o que pode predispor a arritmias ventriculares potencialmente fatais (Ref. 1). Esse risco é mais pronunciado com a eritromicina e a claritromicina, mas, embora menor, também está presente com a azitromicina. O mecanismo subjacente envolve o bloqueio dos canais de potássio cardíacos (IKr/hERG), que são cruciais para a repolarização ventricular.
A avaliação de risco antes da prescrição é fundamental. Fatores que aumentam significativamente o risco incluem: sexo feminino, idade avançada, doença cardíaca estrutural pré-existente (ex: insuficiência cardíaca, infarto prévio), distúrbios eletrolíticos (hipocalemia, hipomagnesemia) e, crucialmente, o uso concomitante de outros medicamentos que também prolongam o intervalo QT (ex: antiarrítmicos, antipsicóticos, fluoroquinolonas) ou que inibem o metabolismo dos macrolídeos via CYP3A4 (ex: antifúngicos azólicos, inibidores de protease), aumentando suas concentrações séricas (Ref. 1). O manejo desse risco envolve a correção de eletrólitos, a revisão cuidadosa da lista de medicamentos do paciente e, em pacientes de alto risco, a consideração de um eletrocardiograma basal e de acompanhamento.
Clindamicina – Uma Ferramenta Essencial com Responsabilidades Críticas
A clindamicina, um antibiótico da classe das lincosamidas, ocupa um nicho terapêutico indispensável, particularmente em infecções onde bactérias anaeróbias e a produção de toxinas desempenham um papel central. Contudo, sua utilidade é contrabalançada por um perfil de risco significativo, mais notavelmente sua forte associação com o desenvolvimento de infecção por Clostridioides difficile, o que exige uma prescrição altamente criteriosa e justificada.
Mecanismo de Ação, Atividade Antianaeróbica e Supressão de Toxinas
Similarmente aos macrolídeos, a clindamicina atua inibindo a síntese proteica bacteriana ao se ligar à subunidade ribossômica 50S. Seu sítio de ligação no rRNA 23S se sobrepõe parcialmente ao dos macrolídeos, explicando a base molecular para a resistência cruzada do tipo MLSb (Ref. 1, Ref. 2). O efeito é primariamente bacteriostático, mas pode ser bactericida dependendo da concentração do fármaco, da espécie bacteriana e do inóculo.
O grande valor clínico da clindamicina reside em seu excelente espectro de atividade contra bactérias anaeróbias, incluindo muitas espécies do grupo Bacteroides fragilis (embora a resistência esteja aumentando) e, notavelmente, Clostridium perfringens (Ref. 1, Ref. 2). Além disso, mantém boa atividade contra muitos cocos Gram-positivos, como Staphylococcus aureus (incluindo muitos isolados de MRSA adquiridos na comunidade) e Streptococcus pyogenes.
Uma propriedade farmacodinâmica única e clinicamente vital é sua capacidade de suprimir a produção de toxinas bacterianas em concentrações subinibitórias. Essa característica a torna um componente crucial no tratamento de infecções graves mediadas por toxinas, como a fasceíte necrotizante e a síndrome do choque tóxico estreptocócico ou estafilocócico. Nesses cenários, a clindamicina é frequentemente adicionada a um agente bactericida, como a penicilina, para neutralizar a produção de superantígenos e exotoxinas que impulsionam a resposta inflamatória sistêmica devastadora, um efeito que os antibióticos beta-lactâmicos não possuem (Ref. 25).
Farmacologia Clínica e Aplicações em Infecções de Pele, Partes Moles e Osteoarticulares
A clindamicina possui um perfil farmacocinético favorável, com excelente biodisponibilidade oral de aproximadamente 90%, que não é significativamente afetada pela alimentação (Ref. 1, Ref. 2). Essa característica, combinada com sua notável penetração em diversos tecidos, incluindo abscessos e, crucialmente, o tecido ósseo, a posiciona como uma excelente opção para a terapia de descalonamento (transição de via intravenosa para oral) em infecções osteoarticulares, como a osteomielite (Ref. 2).
No tratamento de infecções de pele e partes moles (IPPM), a clindamicina é uma opção valiosa, especialmente em infecções purulentas (ex: abscessos, furúnculos) onde há suspeita ou confirmação de CA-MRSA, desde que o isolado seja suscetível (Ref. 2, Ref. 25). Sua atividade contra anaeróbios também a torna útil em infecções polimicrobianas, como as decorrentes de mordeduras humanas ou de animais.
O Espectro da Colite por Clostridioides difficile: Fator de Risco e Implicações para o Stewardship
A principal limitação e o mais grave risco associado ao uso da clindamicina é sua forte propensão a induzir colite por Clostridioides difficile (CDI). A clindamicina está consistentemente classificada entre os antibióticos de mais alto risco para o desenvolvimento de CDI (Ref. 5, Ref. 7). O mecanismo subjacente é uma profunda e duradoura disrupção da microbiota intestinal protetora. Ao suprimir bactérias anaeróbias comensais que normalmente competem por nutrientes e mantêm a colonização por C. difficile sob controle, a clindamicina cria um nicho ecológico que permite a proliferação do patógeno e a subsequente produção de toxinas A e B, levando à diarreia e colite pseudomembranosa (Ref. 1).
Essa associação de alto risco transforma a gestão do uso de clindamicina em um verdadeiro “teste de fogo” para a maturidade de um programa de stewardship antimicrobiano. A capacidade de um hospital de controlar, justificar e monitorar suas taxas de prescrição de clindamicina serve como um indicador robusto da eficácia de seu ASP. Um uso elevado, irrestrito ou não monitorado sugere uma abordagem reativa, em vez de proativa, ao controle de infecções. Programas de stewardship maduros implementam políticas específicas para a clindamicina, como a exigência de justificativa para uso, restrição no formulário ou auditoria prospectiva com feedback (Ref. 21). O monitoramento do consumo de clindamicina, medido em Dias de Terapia (DOT) por 1.000 pacientes-dia, torna-se uma métrica de desempenho crucial, onde picos de uso podem servir como um sistema de alerta precoce para um potencial aumento futuro nos casos de CDI. Assim, a equipe de CCIH deve encarar os dados de consumo de clindamicina não apenas como uma métrica farmacêutica, mas como uma ferramenta de vigilância essencial para a prevenção de infecções.
O Panorama da Resistência – Desafios Globais e Realidades Locais
A eficácia sustentada dos macrolídeos e da clindamicina é diretamente ameaçada pela prevalência e disseminação de mecanismos de resistência. Compreender esses mecanismos a nível molecular e monitorar sua expressão epidemiológica localmente são tarefas fundamentais para guiar a terapia empírica e desenvolver estratégias de controle eficazes.
Mecanismos de Resistência a Macrolídeos e Lincosamidas: Do Efluxo à Metilação Ribossômica (MLSb)
A resistência a esses antibióticos é mediada principalmente por três mecanismos moleculares distintos:
- Modificação do Sítio Alvo: Este é o mecanismo mais prevalente e clinicamente significativo. Envolve a metilação de uma adenina específica (A2058) no rRNA 23S da subunidade ribossômica 50S. Essa modificação, catalisada por metilases codificadas por genes erm (erythromycin ribosome methylation), impede a ligação dos antibióticos ao seu alvo. Crucialmente, esse mecanismo confere resistência cruzada a Macrolídeos, Lincosamidas e Estreptograminas do tipo B, um fenótipo conhecido como MLSb (Ref. 1, Ref. 2, Ref. 18).
- Efluxo Ativo: Este mecanismo envolve bombas de efluxo que removem ativamente o antibiótico de dentro da célula bacteriana, mantendo sua concentração intracelular abaixo dos níveis inibitórios. É comumente mediado por genes mef (macrolide efflux). Esse mecanismo tipicamente confere resistência apenas a macrolídeos de 14 e 15 membros (ex: eritromicina, azitromicina), mas não à clindamicina ou às estreptograminas. Esse padrão é conhecido como Fenótipo M (Ref. 2). Em bacilos Gram-negativos como Klebsiella pneumoniae, sistemas de efluxo de múltiplos fármacos, como o sistema AcrAB-TolC, também contribuem para a resistência intrínseca ou adquirida a macrolídeos (Ref. 13).
- Inativação Enzimática: Menos comum, a resistência pode ocorrer pela degradação do antibiótico por enzimas como esterases (genes ere) ou fosfotransferases (genes mph) (Ref. 1).
A Importância Crítica do Teste D: Identificando a Resistência Induzível à Clindamicina em Staphylococcus aureus
Um dos maiores desafios no uso da clindamicina para tratar infecções estafilocócicas é o fenótipo de resistência MLSb induzível (iMLSb). Nesses casos, a bactéria possui o gene erm, mas só o expressa na presença de um indutor, como a eritromicina. Em testes de suscetibilidade de rotina, um isolado com iMLSb pode aparecer falsamente como sensível à clindamicina, pois a clindamicina é um indutor fraco da expressão do gene erm (Ref. 2, Ref. 8). No entanto, durante o tratamento in vivo, a exposição contínua à clindamicina pode selecionar subpopulações de mutantes que expressam o gene erm de forma constitutiva, levando à falha terapêutica.
Para detectar esse risco oculto, o Teste de Aproximação de Discos (Teste D) é uma ferramenta laboratorial simples, barata e essencial. O teste consiste em colocar um disco de eritromicina e um de clindamicina em proximidade em uma placa de ágar inoculada com o S. aureus. Se o isolado possuir resistência iMLSb, a eritromicina difundida no ágar induzirá a produção da metilase, criando uma zona de resistência à clindamicina adjacente ao disco de eritromicina. Isso resulta em um achatamento da zona de inibição da clindamicina, formando uma característica forma de “D” (Ref. 8, Ref. 10).
A prevalência da resistência iMLSb é significativa, sendo consistentemente mais alta em isolados de MRSA do que em MSSA (Ref. 8, Ref. 10, Ref. 20). Dada a gravidade das infecções estafilocócicas e o risco de falha terapêutica, a realização do Teste D deve ser uma política laboratorial mandatória para todos os isolados de S. aureus que apresentem o perfil de resistência à eritromicina e sensibilidade à clindamicina. Reportar um isolado D-positivo como “resistente” à clindamicina, independentemente da CIM, é uma prática de segurança do paciente fundamental.
Tabela 2: Fenótipos de Resistência a Macrolídeos e Clindamicina e Interpretação do Teste D
| Fenótipo | Eritromicina | Clindamicina | Aparência do Teste D | Gene(s) Prováveis | Implicação Clínica |
| Suscetível | Sensível | Sensível | Zona circular | Nenhum | Terapia com ambos é possível. |
| Fenótipo M (Efluxo) | Resistente | Sensível | Zona circular | mef | Terapia com clindamicina é possível. |
| MLSb Constitutivo | Resistente | Resistente | Sem zona de inibição | erm (constitutivo) | Resistente a ambos. Não usar clindamicina. |
| MLSb Induzível | Resistente | Sensível | Zona em forma de “D” | erm (induzível) | Risco de falha terapêutica. Reportar como resistente e não usar clindamicina. |
Fonte: Elaborado com base nos dados de (Ref. 1, Ref. 8, Ref. 10).
Tendências de Resistência em Patógenos-Chave: S. aureus (MRSA), S. pneumoniae e Bacilos Gram-Negativos
Dados de vigilância global revelam tendências preocupantes de resistência para ambos os macrolídeos e clindamicina em patógenos clinicamente importantes.
- Staphylococcus aureus: Uma meta-análise recente demonstrou uma prevalência global de resistência à eritromicina de aproximadamente 57%. A disparidade entre MRSA e MSSA é gritante, com taxas de resistência em MRSA (cerca de 64%) sendo mais que o dobro das encontradas em MSSA (cerca de 31%), destacando a co-seleção de resistência (Ref. 18).
- Streptococcus pneumoniae: A resistência aos macrolídeos em pneumococos tornou-se um problema de saúde pública global. Na América Latina, a situação é particularmente alarmante, com estudos recentes reportando taxas de resistência que podem ultrapassar 70-80% em algumas áreas. Essa alta prevalência é impulsionada pela disseminação de clones que carregam múltiplos mecanismos de resistência, frequentemente a combinação dos genes erm(B) e mef(A/E) (Ref. 17).
- Klebsiella pneumoniae: Embora não sejam fármacos de primeira linha para infecções por bacilos Gram-negativos, a resistência intrínseca e adquirida a macrolídeos em patógenos como K. pneumoniae é mediada por uma combinação de baixa permeabilidade da membrana externa e bombas de efluxo de múltiplos fármacos, como o sistema AcrAB-TolC (Ref. 13).
Contexto Latino-Americano e Brasileiro: Dados Atuais de Vigilância
A transposição de dados globais para a prática clínica local deve ser feita com cautela, pois a epidemiologia da resistência varia drasticamente entre regiões. Estudos realizados no Brasil e na América Latina confirmam a gravidade do cenário:
- Resistência em S. aureus no Brasil: Estudos brasileiros têm documentado taxas de resistência à clindamicina em S. aureus que frequentemente se situam na faixa de 41% a 45%, tornando o uso empírico desse fármaco para infecções estafilocócicas uma decisão de alto risco que deve ser guiada por testes de suscetibilidade (Ref. 3, Ref. 6, Ref. 19).
- Resistência em S. pneumoniae no Brasil: Em consonância com o cenário latino-americano, dados de centros brasileiros mostram altas taxas de resistência a macrolídeos. Um estudo no Rio de Janeiro, por exemplo, encontrou uma prevalência de 46.4% de resistência à eritromicina em isolados de pneumococo (Ref. 15, Ref. 24).
Esses dados locais reforçam uma mensagem crítica para o stewardship: a confiança cega em diretrizes internacionais, que podem recomendar macrolídeos como primeira linha para PAC ambulatorial, é inadequada e potencialmente perigosa no contexto brasileiro. A alta prevalência de resistência pneumocócica exige que a terapia empírica seja baseada em dados de vigilância locais, que frequentemente desqualificam os macrolídeos como monoterapia confiável.
Diretrizes Clínicas e Estratégias de Stewardship para Uso Otimizado
A integração de dados farmacológicos, microbiológicos e epidemiológicos em diretrizes clínicas claras e a implementação de estratégias de stewardship são fundamentais para otimizar o uso de macrolídeos e clindamicina. Esta seção traduz a evidência discutida em recomendações práticas para a equipe de CCIH.
Recomendações Atuais para Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) e Infecções de Pele e Partes Moles (IPPM)
As diretrizes da Infectious Diseases Society of America (IDSA) e da American Thoracic Society (ATS) são referências globais importantes, mas devem ser adaptadas à epidemiologia local.
- Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) – Diretriz IDSA/ATS 2019:
- Pacientes Ambulatoriais: A monoterapia com um macrolídeo (ex: azitromicina) é uma opção condicional para adultos saudáveis sem comorbidades, apenas se a taxa de resistência pneumocócica local aos macrolídeos for inferior a 25% (Ref. 16). Dado o cenário brasileiro, essa condição raramente é atendida, tornando a amoxicilina ou a doxiciclina opções de primeira linha mais seguras. Para pacientes com comorbidades, a recomendação é uma terapia combinada de um beta-lactâmico (ex: amoxicilina-clavulanato) mais um macrolídeo ou monoterapia com uma fluoroquinolona respiratória.
- Pacientes Hospitalizados (Não-UTI): O regime preferencial é a terapia combinada com um beta-lactâmico (ex: ceftriaxona, ampicilina-sulbactam) associado a um macrolídeo (azitromicina). Essa combinação garante cobertura para patógenos típicos e atípicos (Ref. 16).
- Infecções de Pele e Partes Moles (IPPM) – Diretriz IDSA 2014:
- Infecções Purulentas (ex: abscessos, furúnculos): O tratamento primário é a incisão e drenagem. A antibioticoterapia é adjuvante em casos moderados a graves. Se houver suspeita de MRSA, as opções orais recomendadas incluem clindamicina, doxiciclina ou sulfametoxazol-trimetoprima (SMX-TMP), guiadas pela suscetibilidade local (Ref. 22, Ref. 25).
- Infecções Não Purulentas (ex: celulite, erisipela): O agente etiológico mais comum é o Streptococcus pyogenes. A terapia deve ser direcionada a estreptococos, sendo a penicilina ou cefalosporinas de primeira geração as drogas de escolha. A clindamicina é uma alternativa importante para pacientes com alergia grave a beta-lactâmicos (Ref. 25).
Tabela 3: Recomendações de Tratamento (IDSA/ATS) para Indicações Selecionadas
| Síndrome Clínica | Cenário | Terapia de Primeira Linha Recomendada | Alternativas/Considerações Importantes |
| PAC | Ambulatorial (sem comorbidades) | Amoxicilina OU Doxiciclina | Macrolídeo (apenas se resistência pneumocócica local < 25%). |
| PAC | Hospitalar (Enfermaria) | Beta-lactâmico + Macrolídeo | Monoterapia com Fluoroquinolona respiratória. |
| IPPM Purulenta | Moderada | Incisão e Drenagem + SMX-TMP ou Doxiciclina | Clindamicina (guiar pelo Teste D e suscetibilidade local). |
| IPPM Não Purulenta | Moderada | Cefalexina ou Dicloxacilina | Clindamicina (para pacientes com alergia grave a beta-lactâmicos). |
Fonte: Adaptado das diretrizes da IDSA/ATS (Ref. 16, Ref. 25).
O Papel do Antimicrobial Stewardship na Gestão de Macrolídeos e Clindamicina
A aplicação dos princípios de stewardship é essencial para mitigar os riscos associados a essas classes de antibióticos. As estratégias devem ser multifacetadas e integradas à prática diária.
- Restrição de Formulário e Pré-autorização: A clindamicina, devido ao seu alto risco para CDI, é uma candidata ideal para restrição no formulário hospitalar, exigindo justificativa clínica ou aprovação de um infectologista ou farmacêutico clínico para seu uso (Ref. 5, Ref. 7).
- Auditoria Prospectiva com Feedback: A revisão ativa das prescrições de macrolídeos e clindamicina em 48-72 horas por um farmacêutico clínico é uma das intervenções de maior impacto. Essa revisão avalia a adequação da indicação, dose, duração e a possibilidade de descalonamento, fornecendo feedback direto ao prescritor (Ref. 21).
- Stewardship Diagnóstico: A promoção do uso correto de ferramentas diagnósticas é fundamental. Isso inclui:
- A implementação de uma política laboratorial para a realização automática do Teste D em todos os isolados de S. aureus com o perfil fenotípico apropriado (Ref. 8).
- A educação contínua sobre os critérios para testagem de C. difficile, desencorajando testes em fezes formadas e a prática inútil do “teste de cura” após o tratamento (Ref. 7).
- Desenvolvimento de Diretrizes Institucionais: As equipes de CCIH devem liderar a criação de diretrizes de tratamento empírico que reflitam a epidemiologia local. Por exemplo, desaconselhar formalmente o uso de monoterapia com macrolídeos para PAC em um hospital onde a resistência pneumocócica é sabidamente alta (Ref. 21).
Tabela 4: Pontos de Corte Clínicos (Breakpoints) do EUCAST 2024 para Patógenos Selecionados (CIM em mg/L)
| Microrganismo | Antibiótico | S (≤) | R (>) |
| Staphylococcus aureus | Eritromicina | 1 | 2 |
| Claritromicina | 1 | 2 | |
| Azitromicina | 1 | 2 | |
| Clindamicina | 0.25 | 0.5 | |
| Streptococcus pneumoniae | Eritromicina | 0.25 | 0.5 |
| Claritromicina | 0.25 | 0.5 | |
| Azitromicina | 0.25 | 0.5 | |
| Clindamicina | 0.5 | 0.5 |
Nota: A categoria “I” (Suscetível, Exposição Aumentada) não é definida para estas combinações; a interpretação é binária (S ou R). Para S. aureus, a suscetibilidade à clindamicina deve ser inferida a partir do Teste D quando a eritromicina é resistente. Fonte: EUCAST Breakpoint Tables v. 14.0, 2024 (Ref. 9).
Conclusões e Recomendações Práticas para a CCIH
A análise aprofundada dos macrolídeos e da clindamicina revela que, embora continuem sendo agentes terapêuticos valiosos, seu uso seguro e eficaz na era da resistência exige uma abordagem vigilante, informada e disciplinada. As seguintes recomendações sintetizam os pontos-chave para a prática da CCIH:
- Priorize a Epidemiologia Local: Os dados de resistência locais devem ser o principal guia para a terapia empírica. A recomendação de macrolídeos para PAC em diretrizes internacionais não deve ser transposta para a realidade brasileira sem uma avaliação crítica do perfil de suscetibilidade do pneumococo local.
- Implemente o Teste D como Política de Segurança: O Teste D para detecção de resistência induzível à clindamicina em S. aureus não é opcional; é uma ferramenta essencial de segurança do paciente. As equipes de CCIH devem garantir que o laboratório de microbiologia o realize rotineiramente e que os resultados sejam comunicados de forma clara para evitar falhas terapêuticas.
- Monitore o Uso de Clindamicina como um Indicador de Stewardship: O consumo de clindamicina deve ser um indicador de desempenho chave para o programa de stewardship. A restrição de seu uso e a auditoria de suas prescrições são estratégias de alto impacto para a prevenção de infecções por C. difficile.
- Gerencie o Risco Cardiovascular dos Macrolídeos: Eduque os prescritores sobre o risco de prolongamento do intervalo QT. Incentive a avaliação de fatores de risco e a revisão de medicações concomitantes antes de iniciar a terapia com macrolídeos, especialmente claritromicina e eritromicina.
- Aborde o Potencial Imunomodulador da Azitromicina com Cautela: Reconheça o fascinante potencial anti-inflamatório da azitromicina como uma área de pesquisa ativa, mas desestimule seu uso rotineiro e off-label para este fim, a fim de preservar sua eficácia antimicrobiana.
Em última análise, o futuro dos macrolídeos e da clindamicina como agentes terapêuticos eficazes depende diretamente da nossa capacidade de gerenciá-los com a sabedoria e a disciplina que a era da resistência antimicrobiana exige.
Stewardship como Fronteira da Responsabilidade
Ao fim desta análise, uma verdade se impõe: não é a bactéria que define o sucesso terapêutico — é o comportamento humano.
Macrolídeos e clindamicina ainda têm lugar legítimo no arsenal antimicrobiano, mas somente sob vigilância e propósito.
No Brasil e na América Latina, onde a resistência pneumocócica ultrapassa margens aceitáveis e o uso empírico ainda domina a prática, o stewardship é o divisor entre eficácia e colapso.
A maturidade de um serviço de CCIH pode ser medida pelo modo como lida com esses dois fármacos:
- Pelo rigor em realizar o Teste D antes de confiar na clindamicina;
- Pela prudência em não banalizar o uso imunomodulador da azitromicina;
- Pela coragem em restringir a prescrição onde outros se omitem;
- E, sobretudo, pela capacidade de formar consciência clínica, não apenas protocolos.
O stewardship é, afinal, uma forma de cultura — e cultura se constrói com convicção e exemplo.
Os antibióticos não fracassaram: fomos nós que esquecemos o preço da sua potência.
Se quisermos preservar o futuro terapêutico, teremos de resgatar algo mais antigo que os próprios macrolídeos: a responsabilidade científica de quem entende que cada prescrição é um voto de confiança da humanidade na ciência.
Referências Bibliográficas Comentadas
- DHARA, A. K.; NAYAK, A. K. (ed.). Antibiotics – Therapeutic Spectrum and Limitations. Academic Press, 2023.
- Resumo: Este livro-texto serviu como base fundamental, fornecendo uma visão geral abrangente sobre as classes de antibióticos, incluindo macrolídeos e clindamicina (Capítulo 8). Foi crucial para estabelecer a estrutura química, o mecanismo de ação básico, os efeitos adversos gerais e o contexto histórico desses fármacos.
- NESBITT, W. J.; ARONOFF, D. M. Macrolides and Clindamycin. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Elsevier, [s.d.]. Cap. 29.
- Resumo: Este capítulo do livro de referência em doenças infecciosas forneceu dados detalhados e clinicamente orientados sobre a farmacologia, espectro de atividade, mecanismos de resistência (incluindo MLSb), efeitos adversos e indicações clínicas para macrolídeos e clindamicina. Foi uma fonte primária para a construção das tabelas comparativas e para a compreensão das nuances clínicas de cada fármaco.
- ALMEIDA, L. P. P. de. Prevalência e perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos de Staphylococcus aureus isolados de profissionais de enfermagem. 2016. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
- Resumo: Este estudo brasileiro forneceu dados locais valiosos sobre a prevalência de resistência em S. aureus, incluindo taxas de resistência à clindamicina (45.5% em MRSA) e eritromicina em profissionais de saúde. Foi essencial para contextualizar o problema da resistência estafilocócica no ambiente hospitalar brasileiro.
- DOI/Link:(https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-28012016-144814/publico/LETICIAPIMENTALOPES.pdf)
- ANTIBIOTICOTERAPIA 4.0: o novo campo de batalha contra a resistência microbiana. CCIH.med.br, [2025].
- Resumo: Este artigo do site-alvo (ccih.med.br) ajudou a definir o tom e o escopo do presente trabalho, enfatizando a resistência antimicrobiana como uma “pandemia silenciosa”. Foi utilizado para alinhar a linguagem e o foco do artigo com as expectativas do público da plataforma.
- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/o-que-vai-alterar-na-antibioticoterapia-que-a-ccih-precisa-saber/
- BLUM, C. A. et al. New guidance deems antibiotic stewardship essential for preventing C diff infections. CIDRAP, 12 abr. 2023.
- Resumo: Esta reportagem da CIDRAP, comentando novas diretrizes, reforçou a clindamicina como um dos antibióticos de maior risco para CDI. A informação foi crucial para embasar a recomendação de que o uso de clindamicina deve ser um indicador da maturidade de um programa de stewardship.
- DOI/Link: https://www.cidrap.umn.edu/antimicrobial-stewardship/new-guidance-deems-antibiotic-stewardship-essential-preventing-c-diff
- CARVALHO, V. C. de; SOUZA, A. D. de M.; PEREIRA, M. S. V. Perfil de resistência de Staphylococcus aureus isolados em amostras de pacientes de um hospital pediátrico. Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 27, 102796, 2023.
- Resumo: Este estudo retrospectivo de um hospital pediátrico no Sul do Brasil (2020-2022) forneceu dados epidemiológicos brasileiros recentes, mostrando uma taxa de resistência de 43% à clindamicina em isolados de S. aureus. Foi uma fonte chave para a seção sobre o panorama da resistência no Brasil.
- DOI/Link:(https://bjid.org.br/en-perfil-de-resistencia-de-staphylococcus-articulo-S1413867023001265 )
- DUBLIN, S. et al. Strategies to Prevent Clostridioides difficile Infections in Acute Care Hospitals: 2022 Update. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 44, n. 4, p. 503-526, abr. 2023.
- Resumo: Esta atualização de diretrizes da SHEA foi uma fonte primária para a discussão sobre CDI. O documento classifica a clindamicina como um agente de altíssimo risco e destaca o stewardship de antimicrobianos como uma prática essencial para a prevenção de CDI.
- DOI/Link:(https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/strategies-to-prevent-clostridioides-difficile-infections-in-acutecare-hospitals-2022-update/575A2A0C9E68BD8535D14B2E337FD0A4 )
- EL-BAZ, A. M. et al. Incidence of Inducible Clindamycin Resistance Among Staphylococcus aureus Clinical Isolates in Egyptian University Hospitals. Infection and Drug Resistance, v. 16, p. 4537-4545, 2023.
- Resumo: Este estudo egípcio forneceu dados de prevalência da resistência induzível à clindamicina (iMLSb), mostrando taxas de 38.9% em MRSA e 15.4% em MSSA. Foi fundamental para ilustrar a importância global do Teste D e a maior prevalência de iMLSb em isolados de MRSA.
- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10397438/
- EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 14.0, 2024.
- Resumo: O documento oficial do EUCAST para 2024 foi a fonte definitiva para os valores de breakpoints de CIM apresentados na Tabela 4. É a referência padrão-ouro para a interpretação de testes de suscetibilidade na Europa e em muitas outras regiões, incluindo o Brasil.
- DOI/Link:(https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_14.0_Breakpoint_Tables.pdf)
- GHOLIZADEH, P. et al. Inducible Clindamycin Resistance and erm Genes in Staphylococcus aureus Clinical Isolates in the West of Iran. Jundishapur Journal of Clinical Research & Practice, v. 13, n. 1, e143681, 2024.
- Resumo: Este estudo iraniano contribuiu com dados sobre a prevalência de fenótipos de resistência MLSb (15.9% iMLSb) e a distribuição dos genes erm (ermC sendo o mais comum). Apoiou a discussão sobre os mecanismos genéticos da resistência induzível.
- DOI/Link: https://brieflands.com/articles/jcrps-143681
- GÓMEZ-ZORRILLA, S. et al. Immunomodulatory Effects of Antibiotics in Sepsis. Antibiotics, v. 13, n. 12, p. 1176, dez. 2024.
- Resumo: Esta revisão recente sobre os efeitos imunomoduladores de vários antibióticos, incluindo macrolídeos, na sepse, forneceu um contexto mais amplo para a discussão sobre a azitromicina. Confirmou que os macrolídeos são bem conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias.
- DOI/Link: https://www.mdpi.com/2079-6382/13/12/1176
- HAN, H. et al. Macrolide Resistance in Mycoplasma pneumoniae Among Adults in Beijing, China. Infection and Drug Resistance, v. 17, p. 4147-4155, 2024.
- Resumo: Este estudo recente da China destacou a alta prevalência de resistência a macrolídeos em M. pneumoniae (41.7% em adultos), principalmente por mutações no rRNA 23S. Foi usado para ilustrar as tendências globais de resistência em patógenos atípicos.
- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11955812/
- LI, X. et al. Mechanisms of Antibiotic Resistance and Developments in Therapeutic Strategies to Combat Klebsiella pneumoniae Infection. Infection and Drug Resistance, v. 17, p. 1105-1123, 2024.
- Resumo: Esta revisão sobre os mecanismos de resistência em K. pneumoniae foi fundamental para detalhar o papel das bombas de efluxo, como o sistema AcrAB-TolC, na resistência a múltiplas drogas, incluindo macrolídeos, em bacilos Gram-negativos.
- DOI/Link:(https://www.dovepress.com/mechanisms-of-antibiotic-resistance-and-developments-in-therapeutic-st-peer-reviewed-fulltext-article-IDR)
- MACGOWAN, A. P. Macrolide resistance in Streptococcus pneumoniae: a UK and European perspective. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 49, n. suppl_1, p. 15-20, mar. 2002.
- Resumo: Embora mais antigo, este artigo foi útil para estabelecer o contexto histórico do aumento da resistência a macrolídeos em pneumococos na Europa, mencionando os mecanismos de efluxo (mef) e modificação ribossômica (erm).
- DOI/Link: https://academic.oup.com/jac/article/49/suppl_1/15/760589
- MARTINEZ, R. Resistência do pneumococo à penicilina e aos macrolídeos: implicações no tratamento das infecções respiratórias. Jornal de Pneumologia, v. 28, n. 4, p. 209-218, jul./ago. 2002.
- Resumo: Este artigo de revisão brasileiro forneceu um panorama inicial da resistência do pneumococo no Brasil, já apontando para um aumento gradual da resistência não apenas à penicilina, mas também a outras classes, como os macrolídeos.
- DOI/Link:(http://jornaldepneumologia.com.br/details/1441/pt-BR/pneumococcal-resistance-to-penicillin-and-macrolides–implications-for-the-treatment-of-respiratory-infections)
- METLAY, J. P. et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-Acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, v. 200, n. 7, p. e45-e67, out. 2019.
- Resumo: Esta diretriz da IDSA/ATS foi a fonte primária para as recomendações de tratamento da PAC. Foi crucial para estabelecer a recomendação condicional de macrolídeos baseada na resistência local e o regime combinado preferencial para pacientes hospitalizados.
- DOI/Link:(https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201908-1581ST)
- MIRANDA-NOVALES, M. G. et al. Macrolide Resistance in Streptococcus pneumoniae in Latin America. Clinical Microbiology Reviews, v. 37, n. 4, e0013023, nov. 2024.
- Resumo: Esta revisão sistemática extremamente recente e focada na América Latina foi uma das fontes mais importantes do artigo. Detalhou a evolução alarmante da resistência a macrolídeos em pneumococos na região, com taxas atingindo até 80%, e a mudança nos mecanismos predominantes para a combinação de genes ermB e mef(A/E).
- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11448541/
- MOHAMED, A. M. et al. Global prevalence of macrolide resistance in Staphylococcus species: a systematic review and meta-analysis. Journal of Global Antimicrobial Resistance, v. 38, p. 136-148, set. 2024.
- Resumo: Esta meta-análise global forneceu dados quantitativos robustos sobre a prevalência de resistência a macrolídeos em Staphylococcus spp.. Foi a fonte principal para as taxas de resistência em MRSA vs. MSSA e para a discussão dos mecanismos genéticos (erm, msr, mef).
- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11967404/
- MOREIRA, D. et al. Clindamycin microbial resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus from a tertiary hospital in Rio de Janeiro, Brazil. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 58, e20224092, 2022.
- Resumo: Este estudo do Rio de Janeiro forneceu dados locais sobre a resistência à clindamicina em S. aureus, contribuindo para a contextualização do cenário brasileiro.
- DOI/Link:(https://www.scielo.br/j/jbpml/a/Bg8npLYhnGcmS3B66bxSGMD/abstract/?lang=pt)
- POURMAND, M. R. et al. The prevalence of inducible clindamycin resistance in Staphylococcus aureus. Iranian Journal of Pathology, v. 7, n. 3, p. 207-212, 2012.
- Resumo: Este estudo iraniano foi uma das fontes para a discussão sobre a prevalência da resistência iMLSb e a importância do Teste D, mostrando uma alta prevalência do fenótipo em sua região e reforçando a necessidade do teste na rotina laboratorial.
- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3434646/
- RESTORI, S. L.; RESTIVO, V. R. O impacto da gestão de antimicrobianos na redução da resistência. CCIH.med.br, 18 jul. 2025.
- Resumo: Este artigo do site-alvo (ccih.med.br) foi fundamental para estruturar a discussão sobre Antimicrobial Stewardship. Forneceu os pilares de um programa eficaz, incluindo a importância da equipe multidisciplinar, auditoria com feedback e o papel do diagnóstico rápido.
- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/o-impacto-da-gestao-de-antimicrobianos-na-reducao-da-resistencia/
- RESTORI, S. L.; RESTIVO, V. R. TMP-SMX: entre a tradição e a resistência antimicrobiana, o que ainda justifica seu uso? CCIH.med.br, [s.d.].
- Resumo: Este artigo foi utilizado para uma comparação específica, citando as diretrizes da IDSA que colocam o TMP-SMX e a clindamicina como opções para infecções de pele por MRSA, com taxas de cura semelhantes.
- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/tmp-smx-entre-a-tradicao-e-a-resistencia-antimicrobiana-o-que-ainda-justifica-seu-uso/
- RESTREPO, M. I. et al. Azithromycin Is Associated With Increased ICU-Free Days in Patients With Severe Sepsis. Chest, v. 149, n. 4, p. A34, abr. 2016.
- Resumo: Este estudo observacional foi a principal fonte para a discussão sobre os efeitos imunomoduladores da azitromicina na sepse. A associação encontrada entre o uso de azitromicina e mais dias livres de UTI fundamentou a análise do paradoxo do stewardship.
- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4769933/
- RODRIGUES, L. S. et al. Prevalência de resistência aos antimicrobianos em Streptococcus pneumoniae em uma amostra de pacientes no Rio de Janeiro. Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 28, 104084, 2024.
- Resumo: Este estudo retrospectivo (2021-2023) no Rio de Janeiro forneceu dados brasileiros recentes e específicos sobre a resistência do pneumococo, com uma taxa de 46.4% à eritromicina, reforçando a inadequação do uso empírico de macrolídeos na região.
- DOI/Link:(https://bjid.org.br/en-ep-068-prevalencia-de-resistencia-articulo-resumen-S1413867024002770 )
- STEVENS, D. L. et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, v. 59, n. 2, p. e10-e52, jul. 2014.
- Resumo: A diretriz da IDSA para IPPM foi a fonte primária para as recomendações de tratamento nesta área. Detalhou o uso da clindamicina para infecções purulentas (suspeita de MRSA) e não purulentas (alternativa para alérgicos), e seu papel na supressão de toxinas.
- DOI/Link: https://academic.oup.com/cid/article/59/2/e10/2895845
- WOLKOW, P. et al. Azithromycin: A Potent Immunomodulator With a Broad Range of Therapeutic Applications. Frontiers in Pharmacology, v. 12, 624093, fev. 2021.
- Resumo: Esta revisão detalhou os múltiplos mecanismos imunomoduladores da azitromicina, como a inibição de NF-κB, a modulação do inflamassoma e a indução de macrófagos regulatórios. Foi essencial para aprofundar a discussão sobre os efeitos pleiotrópicos do fármaco.
- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7906979/
Autor:
Antonio Tadeu Fernandes:
https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/
https://www.instagram.com/tadeuccih/
#CCIH #Infectologia #AntimicrobialStewardship #ResistenciaMicrobiana #Clindamicina #Macrolideos #Sepse #SegurancaDoPaciente #FarmaciaClinica #Eritromicina #Claritromicina #Azitromicina
Anexo: MACROLÍDEOS E CLINDAMICINA: REVISÃO ABRANGENTE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PARTE I – MACROLÍDEOS
Introdução e Estrutura Química
Os macrolídeos constituem uma classe de antibióticos bacteriostáticos caracterizada por um anel lactônico macrocíclico ao qual se ligam um ou mais açúcares desoxigenados (Ref. 10). A nomenclatura desta classe deriva do grego “makros” (grande) e refere-se ao tamanho do anel lactônico, que pode conter 14, 15 ou 16 átomos de carbono (Ref. 7)(Ref. 107).
A estrutura básica dos macrolídeos inclui: um anel lactônico macrocíclico, grupos amino-açúcares ligados por ligações glicosídicas, e substituintes que conferem propriedades farmacocinéticas específicas a cada derivado (Ref. 10)(Ref. 91). Os principais representantes são macrolídeos de 14 membros (eritromicina, claritromicina), 15 membros (azitromicina) e 16 membros (espiramicina, josamicina, midecamicina, roxitromicina) (Ref. 101)(Ref. 107).
A eritromicina, descoberta em 1952 a partir do Saccharopolyspora erythraea, foi o primeiro macrolídeo introduzido na prática clínica e serviu como protótipo para o desenvolvimento de derivados semi-sintéticos com melhores propriedades farmacocinéticas (Ref. 48)(Ref. 103). Modificações estruturais na molécula de eritromicina levaram ao desenvolvimento de claritromicina (metilação da posição 6) e azitromicina (inserção de nitrogênio no anel lactônico, formando um anel azalídeo de 15 membros) (Ref. 41)(Ref. 91).
Mais recentemente, foram desenvolvidos os cetolídeos (telitromicina, solitromicina), que representam derivados semi-sintéticos da eritromicina com substituição do grupo 3-cladinose por um grupo ceto, apresentando atividade melhorada contra patógenos resistentes aos macrolídeos tradicionais (Ref. 85)(Ref. 100)(Ref. 103).
Mecanismo de Ação
Os macrolídeos exercem sua ação antimicrobiana através da inibição da síntese proteica bacteriana, ligando-se reversivelmente à subunidade ribossomal 50S (Ref. 10)(Ref. 13). Especificamente, estes antibióticos se ligam ao túnel de saída nascente do peptídeo ribossomal, próximo ao centro peptidil transferase, bloqueando o alongamento da cadeia polipeptídica (Ref. 10)(Ref. 19).
O mecanismo molecular envolve: ligação ao RNA ribossomal 23S na região do domínio V, interferência com a transpeptidação e translocação do peptidil-tRNA, obstrução física do túnel de saída do peptídeo nascente, e consequente interrupção prematura da síntese proteica (Ref. 10)(Ref. 13). Este mecanismo resulta em efeito predominantemente bacteriostático, embora em altas concentrações alguns macrolídeos possam exibir atividade bactericida contra patógenos específicos (Ref. 7)(Ref. 28).
Os macrolídeos demonstram importante efeito pós-antibiótico (PAE), definido como a supressão persistente do crescimento bacteriano após breve exposição ao antibiótico, mesmo quando sua concentração cai abaixo da concentração inibitória mínima (CIM) (Ref. 169)(Ref. 171). O PAE dos macrolídeos varia de 1 a 4 horas para Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus, contribuindo para sua eficácia clínica com regimes de dosagem menos frequentes (Ref. 173).
Além dos efeitos antibacterianos diretos, os macrolídeos possuem propriedades imunomoduladores e anti-inflamatórias significativas (Ref. 88)(Ref. 168). Essas propriedades incluem: redução da produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α), inibição da quimiotaxia e ativação de neutrófilos, redução da secreção de muco e modulação da resposta imune adaptativa (Ref. 88)(Ref. 170)(Ref. 177).
Espectro de Atividade Antimicrobiana
Os macrolídeos apresentam atividade contra uma ampla gama de microrganismos gram-positivos, alguns gram-negativos e patógenos atípicos (Ref. 28)(Ref. 42). O espectro típico inclui:
Bactérias Gram-positivas: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus sensível à meticilina (MSSA) e outros estafilococos coagulase-negativos (Ref. 7)(Ref. 28).
Patógenos atípicos: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Ureaplasma urealyticum, Bordetella pertussis (Ref. 202)(Ref. 205)(Ref. 208). Esta atividade contra atípicos é particularmente valiosa no tratamento empírico de pneumonia adquirida na comunidade.
Outros patógenos: Haemophilus influenzae (atividade variável, melhor com azitromicina), Moraxella catarrhalis, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori (em terapia combinada), Corynebacterium diphtheriae, Treponema pallidum, micobactérias atípicas (Mycobacterium avium complex) (Ref. 28)(Ref. 41)(Ref. 42).
Os macrolídeos não são ativos contra bacilos gram-negativos entéricos (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter), Pseudomonas aeruginosa, anaeróbios (exceto alguns Peptococcus e Peptostreptococcus) e microrganismos intracelulares obrigatórios como Rickettsia (Ref. 28).
Propriedades Farmacocinéticas
Absorção e Biodisponibilidade
As propriedades farmacocinéticas variam consideravelmente entre os diferentes macrolídeos (Ref. 5)(Ref. 11):
Eritromicina: biodisponibilidade oral variável (25-50%), sensível à degradação pelo ácido gástrico, requer formulações com revestimento entérico. A administração com alimentos pode reduzir a absorção (Ref. 5)(Ref. 41).
Claritromicina: biodisponibilidade oral de 50-55%, parcialmente convertida no metabólito ativo 14-hidroxi-claritromicina. A administração com alimentos pode aumentar discretamente a absorção (Ref. 41)(Ref. 223).
Azitromicina: biodisponibilidade oral de aproximadamente 37%, absorção reduzida por alimentos quando administrada em cápsulas (deve ser tomada 1 hora antes ou 2 horas após as refeições), mas não afetada na formulação em comprimidos ou suspensão (Ref. 25)(Ref. 30).
Roxitromicina: biodisponibilidade de 50-60%, não significativamente afetada por alimentos (Ref. 91)(Ref. 136).
Distribuição
Os macrolídeos apresentam excelente penetração tecidual, com concentrações teciduais frequentemente excedendo as concentrações plasmáticas em 10 a 100 vezes (Ref. 5)(Ref. 152)(Ref. 154). Esta característica é particularmente pronunciada para azitromicina e claritromicina.
Volume de distribuição: eritromicina (0,7 L/kg), claritromicina (3-4 L/kg), azitromicina (23-31 L/kg, refletindo extensa captação tecidual) (Ref. 5)(Ref. 152).
Concentrações teciduais elevadas são alcançadas em: pulmões, tonsilas, mucosa brônquica, tecido prostático, pele e tecidos moles, células fagocitárias (macrófagos e neutrófilos) (Ref. 152)(Ref. 154). A penetração no sistema nervoso central é limitada, com macrolídeos não atravessando efetivamente a barreira hematoencefálica íntegra (Ref. 5).
Ligação às proteínas plasmáticas: eritromicina (70-90%), claritromicina (42-70%), azitromicina (7-50%) (Ref. 2)(Ref. 5).
Metabolismo
Os macrolídeos são primariamente metabolizados no fígado, principalmente através do sistema do citocromo P450 (Ref. 2)(Ref. 24):
Eritromicina e claritromicina: substratos e inibidores potentes da CYP3A4, resultando em significativo potencial para interações medicamentosas (Ref. 21)(Ref. 24)(Ref. 220).
Azitromicina: não é metabolizada significativamente pelo sistema CYP450, apresentando menor potencial de interações medicamentosas em comparação com eritromicina e claritromicina (Ref. 25)(Ref. 220).
A claritromicina é parcialmente convertida ao metabólito ativo 14-hidroxi-claritromicina, que possui atividade antimicrobiana similar ou superior ao composto original contra certos patógenos (Ref. 41).
Eliminação
Eritromicina: eliminação predominantemente biliar, meia-vida de 1,5-2 horas (Ref. 5).
Claritromicina: eliminação renal (20-40%) e biliar, meia-vida de 3-7 horas (aumentada para 5-9 horas para o metabólito 14-hidroxi). Ajuste de dose necessário em insuficiência renal grave (ClCr <30 mL/min) (Ref. 41)(Ref. 220).
Azitromicina: eliminação predominantemente biliar (50%) e renal (6%), meia-vida tecidual prolongada de 68-72 horas, permitindo regime de dose única diária e cursos terapêuticos curtos (Ref. 25)(Ref. 30). Não requer ajuste de dose em insuficiência renal leve a moderada.
Farmacodinâmica
Os macrolídeos são antibióticos tempo-dependentes com características de concentração-dependência, apresentando melhor correlação com a relação AUC/CIM (área sob a curva versus concentração inibitória mínima) como preditor de eficácia (Ref. 5)(Ref. 8). Um valor de AUC/CIM >25-40 está geralmente associado a melhores resultados clínicos para patógenos respiratórios (Ref. 5).
O prolongado efeito pós-antibiótico e a alta penetração intracelular e tecidual contribuem para a eficácia clínica dos macrolídeos, permitindo regimes posológicos convenientes (Ref. 169)(Ref. 173).
Mecanismos de Resistência
A resistência bacteriana aos macrolídeos representa crescente preocupação global, ocorrendo através de três mecanismos principais (Ref. 3)(Ref. 6)(Ref. 63):
- Modificação do Sítio Alvo (genes erm)
O mecanismo mais clinicamente relevante envolve metilação do RNA ribossomal 23S mediada por metilases codificadas por genes erm (erythromycin ribosome methylation) (Ref. 6)(Ref. 63). Esta metilação na adenina A2058 (numeração de E. coli) impede a ligação dos macrolídeos ao ribossomo (Ref. 3)(Ref. 153).
Genes erm comuns: erm(A), erm(B), erm(C) em estafilococos e estreptococos; erm(F) em Bacteroides (Ref. 6)(Ref. 9).
A expressão dos genes erm pode ser constitutiva (conferindo resistência a todos os macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas B – fenótipo MLSB) ou induzível (conferindo resistência apenas a macrolídeos de 14 e 15 membros inicialmente, mas podendo ser induzida por eritromicina para causar resistência cruzada com lincosamidas) (Ref. 102)(Ref. 108)(Ref. 116).
- Efluxo Ativo (genes mef)
Bombas de efluxo codificadas por genes mef (macrolide efflux), particularmente mef(A) e mef(E), conferem resistência por expulsão ativa do antibiótico (Ref. 153)(Ref. 155)(Ref. 158). Este mecanismo geralmente confere resistência apenas a macrolídeos de 14 e 15 membros (fenótipo M), mantendo sensibilidade a lincosamidas e estreptograminas (Ref. 153).
Os genes mef são frequentemente encontrados em elementos genéticos móveis, facilitando sua disseminação horizontal (Ref. 15)(Ref. 158).
- Mutações Ribossomais
Mutações pontuais no gene do rRNA 23S (rrl) ou nas proteínas ribossomais L4 e L22 podem conferir resistência, sendo particularmente importantes em patógenos como Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae e Campylobacter (Ref. 3)(Ref. 45).
Aspectos Genéticos e Fenotípicos
Fenótipo MLSB constitutivo: resistência a macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas B devido à expressão constitutiva de genes erm. Detectado por resistência tanto a eritromicina quanto a clindamicina (Ref. 108).
Fenótipo MLSB induzível: sensibilidade aparente à clindamicina in vitro, mas resistência pode ser induzida durante terapia. Detectado pelo teste D (disco-difusão com eritromicina e clindamicina), onde zona de inibição achatada ao redor da clindamicina no lado da eritromicina indica indutibilidade (Ref. 102)(Ref. 105)(Ref. 108).
Fenótipo M: resistência apenas a macrolídeos de 14-15 membros, sensibilidade a lincosamidas e macrolídeos de 16 membros (Ref. 153).
Epidemiologia da resistência: taxas de resistência de S. pneumoniae aos macrolídeos variam globalmente de 10% a >40%, com S. pyogenes mostrando taxas de 5-30% em diferentes regiões (Ref. 3)(Ref. 12). A resistência mediada por erm é predominante na Europa, enquanto mef é mais comum nos EUA (Ref. 153)(Ref. 161).
Indicações Clínicas
Infecções Respiratórias
Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC): os macrolídeos são componentes essenciais do tratamento empírico inicial, particularmente quando há suspeita de patógenos atípicos (Mycoplasma, Chlamydophila, Legionella) (Ref. 200)(Ref. 206)(Ref. 209). Diretrizes internacionais recomendam macrolídeos em monoterapia para PAC leve em pacientes ambulatoriais sem comorbidades, ou em combinação com beta-lactâmicos para casos mais graves ou pacientes hospitalizados (Ref. 203)(Ref. 212).
Exacerbação aguda de DPOC: azitromicina é frequentemente utilizada em cursos curtos (3-5 dias), com evidências de benefício em reduzir exacerbações futuras quando usada em terapia de manutenção prolongada em pacientes selecionados (Ref. 22)(Ref. 124).
Sinusite, faringite, otite média: macrolídeos são alternativas em pacientes alérgicos a beta-lactâmicos (Ref. 7)(Ref. 33).
Infecções Sexualmente Transmissíveis
Azitromicina em dose única (1 g) é tratamento de primeira linha para uretrite e cervicite não-gonocócica causada por Chlamydia trachomatis, e alternativa para cancro mole (Haemophilus ducreyi) (Ref. 25)(Ref. 55).
Infecções Cutâneas e de Partes Moles
Macrolídeos são alternativas para celulite, erisipela, impetigo causadas por estreptococos e estafilococos sensíveis, particularmente em pacientes alérgicos a beta-lactâmicos (Ref. 28)(Ref. 44).
Infecção por Helicobacter pylori
Claritromicina é componente essencial da terapia tripla ou quádrupla para erradicação de H. pylori, combinada com inibidores de bomba de prótons e amoxicilina ou metronidazol (Ref. 41).
Infecções por Micobactérias Atípicas
Azitromicina e claritromicina são tratamentos de escolha para Mycobacterium avium complex (MAC) em pacientes com AIDS ou outras imunodeficiências (Ref. 25)(Ref. 28).
Outras Indicações Específicas
- Coqueluche (Bordetella pertussis): azitromicina é tratamento preferencial
- Difteria: eritromicina como adjuvante à antitoxina
- Profilaxia de endocardite: claritromicina ou azitromicina em alérgicos a penicilina
- Doença de Lyme (alternativa): para Borrelia burgdorferi
- Profilaxia pós-exposição: azitromicina para Mycobacterium avium complex em pacientes HIV+ (Ref. 7)(Ref. 28)
Contraindicações
Contraindicações absolutas:
- Hipersensibilidade conhecida a macrolídeos
- Uso concomitante de medicamentos que podem causar prolongamento do intervalo QT crítico (para eritromicina e claritromicina)
- Insuficiência hepática grave (particularmente para eritromicina e claritromicina)
- História de icterícia colestática/disfunção hepática associada ao uso prévio de macrolídeos (Ref. 7)(Ref. 28)
Contraindicações relativas e precauções:
- Arritmias cardíacas ou prolongamento do intervalo QT
- Distúrbios eletrolíticos (hipocalemia, hipomagnesemia)
- Bradicardia significativa (<50 bpm)
- Miastenia gravis (risco de exacerbação)
- Insuficiência renal grave (ajuste de dose necessário para claritromicina)
- Gestação (discutido em seção específica) (Ref. 22)(Ref. 28)
Efeitos Adversos
Efeitos Gastrointestinais
Os efeitos adversos mais comuns incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e dispepsia, ocorrendo em 10-30% dos pacientes (Ref. 23)(Ref. 26). Estes efeitos resultam da ação pró-cinética dos macrolídeos sobre receptores de motilina no trato gastrointestinal (Ref. 23).
Eritromicina apresenta maior incidência de efeitos gastrointestinais (até 30%), seguida por claritromicina (15-20%) e azitromicina (10-12%) (Ref. 26)(Ref. 28).
Hepatotoxicidade
Hepatotoxicidade pode ocorrer, manifestando-se como elevação de transaminases, icterícia colestática ou hepatite (Ref. 182)(Ref. 189). Eritromicina estolato tem maior associação com hepatotoxicidade (Ref. 182).
A lesão hepática induzida por macrolídeos é geralmente reversível após descontinuação, mas casos raros de insuficiência hepática foram relatados (Ref. 189). Pacientes com doença hepática pré-existente requerem monitoramento cuidadoso.
Cardiotoxicidade – Prolongamento do QT
Macrolídeos, particularmente eritromicina e claritromicina, podem prolongar o intervalo QT através do bloqueio de canais de potássio cardíacos (IKr/hERG), aumentando o risco de torsades de pointes e morte súbita cardíaca (Ref. 40)(Ref. 43)(Ref. 46).
Azitromicina apresenta menor, mas ainda clinicamente significativo, risco de prolongamento do QT (Ref. 40). Solitromicina demonstrou perfil cardíaco mais favorável em estudos recentes (Ref. 113).
Fatores de risco: idade avançada, sexo feminino, doença cardíaca estrutural, distúrbios eletrolíticos, uso concomitante de outros medicamentos que prolongam QT ou inibem CYP3A4 (Ref. 43).
Ototoxicidade
Perda auditiva reversível pode ocorrer, particularmente com doses altas ou em pacientes com insuficiência renal (Ref. 183)(Ref. 188)(Ref. 190). O risco é maior com eritromicina intravenosa em altas doses (Ref. 183)(Ref. 193).
Um estudo recente demonstrou associação entre uso de macrolídeos e aumento de 1,3-1,5 vezes no risco de perda auditiva (Ref. 183)(Ref. 196).
Outros Efeitos Adversos
- Reações alérgicas: rash cutâneo (1-3%), raramente anafilaxia
- Alterações do paladar: disgeusia, especialmente com claritromicina (sabor metálico)
- Candidíase: orofaríngea ou vaginal
- Neuropatia periférica: rara, mais descrita com uso prolongado
- Miastenia gravis: exacerbação dos sintomas (Ref. 23)(Ref. 26)(Ref. 28)
Interações Medicamentosas
Os macrolídeos, particularmente eritromicina e claritromicina, são potentes inibidores da CYP3A4, resultando em numerosas interações clinicamente significativas (Ref. 21)(Ref. 24)(Ref. 220).
Interações Graves (Contraindicadas ou Requerem Precaução Extrema)
Estatinas metabolizadas por CYP3A4 (sinvastatina, lovastatina, atorvastatina): aumento de 10-15 vezes na exposição, com risco de rabdomiólise. Contraindicado ou requer suspensão temporária da estatina durante curso de macrolídeo (Ref. 32)(Ref. 35)(Ref. 220).
Medicamentos que prolongam QT: antiarrítmicos (amiodarona, sotalol), antipsicóticos (haloperidol, ziprasidona), antidepressivos tricíclicos. Risco aumentado de torsades de pointes (Ref. 40)(Ref. 43).
Ergotamina e di-hidroergotamina: risco de ergotismo (vasoespasmo periférico). Contraindicado (Ref. 24).
Colchicina: aumento da toxicidade, incluindo mielossupressão fatal, especialmente em insuficiência renal ou hepática. Contraindicado em pacientes com disfunção renal/hepática (Ref. 21)(Ref. 24).
Pimozida, cisaprida, terfenadina, astemizol: prolongamento QT e arritmias ventriculares. Contraindicado (Ref. 21)(Ref. 24).
Interações Moderadas (Requerem Monitoramento ou Ajuste de Dose)
Varfarina: aumento do efeito anticoagulante, requer monitoramento rigoroso do INR (Ref. 24).
Digoxina: aumento de 50-100% dos níveis séricos, risco de toxicidade digitálica. Monitorar níveis de digoxina (Ref. 21)(Ref. 24).
Teofilina: eritromicina e claritromicina aumentam níveis de teofilina (azitromicina não). Monitorar níveis e sintomas de toxicidade (Ref. 21).
Ciclosporina, tacrolimus: aumento de nefrotoxicidade. Monitorar função renal e níveis séricos (Ref. 24).
Carbamazepina, fenitoína, valproato: alteração nos níveis dos anticonvulsivantes (Ref. 21).
Benzodiazepínicos (midazolam, triazolam, alprazolam): aumento de sedação (Ref. 24).
Anticoagulantes orais diretos (rivaroxabana, apixabana): possível aumento da exposição com eritromicina/claritromicina (Ref. 220).
Interações com Azitromicina
Azitromicina apresenta menor potencial de interações devido à ausência de metabolismo significativo por CYP3A4 (Ref. 25)(Ref. 220). No entanto, ainda requer precaução com medicamentos que prolongam QT e antiácidos contendo alumínio/magnésio (administrar com 1 hora de intervalo) (Ref. 25).
Uso em Populações Especiais
Gestação e Lactação
Eritromicina e azitromicina são consideradas relativamente seguras na gestação (categoria FDA B), sendo opções preferenciais quando macrolídeos são necessários (Ref. 125)(Ref. 131)(Ref. 134).
Claritromicina é classificada como categoria FDA C devido a evidências de efeitos teratogênicos em animais, devendo ser evitada na gestação, especialmente no primeiro trimestre, a menos que os benefícios superem claramente os riscos (Ref. 129)(Ref. 131).
Estudos epidemiológicos recentes (2021) sugeriram possível associação entre exposição a macrolídeos no primeiro trimestre e pequeno aumento no risco de malformações cardiovasculares e genitais, embora a magnitude do risco absoluto permaneça baixa (Ref. 129)(Ref. 131).
Lactação: eritromicina e azitromicina são consideradas compatíveis com amamentação (Ref. 123)(Ref. 126). A claritromicina é excretada no leite materno; recomenda-se cautela (Ref. 123).
Uso Pediátrico
Macrolídeos são amplamente utilizados em pediatria (Ref. 118)(Ref. 121). Considerações especiais incluem:
- Uso em neonatos <6 semanas está associado a risco de estenose hipertrófica do piloro (particularmente eritromicina) (Ref. 117)(Ref. 121)
- Azitromicina é preferida em crianças devido a regime posológico conveniente e melhor tolerabilidade
- Dosagens pediátricas: azitromicina 10 mg/kg no dia 1, seguido de 5 mg/kg/dia por 4 dias; claritromicina 15 mg/kg/dia dividida em 2 doses (Ref. 118)(Ref. 121)
Idosos
Pacientes idosos apresentam maior risco de eventos adversos cardíacos (prolongamento QT, arritmias) e interações medicamentosas devido a polifarmácia (Ref. 40). Atenção especial deve ser dada a ajustes de dose em insuficiência renal e monitoramento de interações.
Monitoramento Terapêutico
Indicações para Monitoramento
Embora o monitoramento terapêutico de medicamentos (TDM) não seja rotineiramente realizado para macrolídeos em infecções comuns, pode ser considerado em situações específicas (Ref. 186):
- Uso prolongado em infecções por micobactérias
- Pacientes críticos com alterações farmacocinéticas
- Suspeita de toxicidade
- Falha terapêutica inexplicada
Parâmetros a Monitorar
Antes do início da terapia:
- ECG em pacientes de risco para prolongamento QT
- Eletrólitos séricos (potássio, magnésio)
- Função hepática (AST, ALT, bilirrubinas) em pacientes com doença hepática
- Função renal (claritromicina requer ajuste) (Ref. 22)(Ref. 28)
Durante a terapia:
- Sinais/sintomas de toxicidade gastrointestinal
- Função hepática se tratamento prolongado (>14 dias)
- INR em pacientes usando varfarina
- Níveis de digoxina se uso concomitante
- Sintomas auditivos (zumbido, perda auditiva) especialmente em doses altas
- ECG se sintomas cardíacos (Ref. 22)(Ref. 186)
Terapia prolongada (uso imunomodulador):
- Monitoramento regular de função hepática (mensalmente nos primeiros 3 meses, depois trimestralmente)
- Audiometria basal e periódica
- ECG periódico
- Cultura de escarro e testes de sensibilidade (para prevenir resistência) (Ref. 22)
Vantagens e Desvantagens dos Principais Derivados
Eritromicina
Vantagens: baixo custo, ampla experiência clínica, disponível em múltiplas formulações (oral, IV, tópica) (Ref. 28)(Ref. 41).
Desvantagens: alta incidência de efeitos gastrointestinais, necessidade de múltiplas doses diárias, biodisponibilidade variável, múltiplas interações medicamentosas (inibição potente de CYP3A4), maior risco de hepatotoxicidade e cardiotoxicidade (Ref. 21)(Ref. 41)(Ref. 182).
Claritromicina
Vantagens: melhor biodisponibilidade que eritromicina, melhor tolerabilidade gastrointestinal, espectro aumentado incluindo H. pylori, metabólito ativo, regime de 2x/dia (Ref. 41).
Desvantagens: inibição significativa de CYP3A4 (múltiplas interações), risco de prolongamento QT, teratogênica em animais (evitar na gestação), custo intermediário, ajuste necessário em insuficiência renal (Ref. 21)(Ref. 129)(Ref. 220).
Azitromicina
Vantagens: regime posológico conveniente (dose única diária, curso de 3-5 dias), excelente penetração tecidual, meia-vida prolongada, melhor tolerabilidade gastrointestinal, mínimas interações medicamentosas (não inibe significativamente CYP3A4), não requer ajuste renal, segura na gestação (Ref. 25)(Ref. 220).
Desvantagens: custo mais elevado, resistência emergente em S. pneumoniae, ainda apresenta risco de prolongamento QT (menor que eritromicina/claritromicina) (Ref. 40)(Ref. 162).
Macrolídeos de 16 membros (Espiramicina, Josamicina, Roxitromicina)
Vantagens: atividade mantida contra algumas cepas resistentes com fenótipo M (resistência por efluxo), boa penetração tecidual, menor incidência de efeitos gastrointestinais (Ref. 101)(Ref. 107)(Ref. 136).
Desvantagens: disponibilidade limitada em muitos países, experiência clínica mais restrita, menos estudos comparativos (Ref. 107).
Cetolídeos (Telitromicina, Solitromicina)
Vantagens: atividade contra algumas cepas resistentes a macrolídeos (incluindo resistência mediada por erm e mef), boa atividade contra patógenos respiratórios, menor risco cardíaco (solitromicina) (Ref. 100)(Ref. 103)(Ref. 113).
Desvantagens: hepatotoxicidade grave (telitromicina teve restrição de uso), disponibilidade limitada, custo elevado, experiência clínica limitada (Ref. 100).
Perspectivas Futuras e Desenvolvimento de Novos Macrolídeos
O desenvolvimento de novos macrolídeos concentra-se em superar resistência bacteriana, melhorar perfil de segurança e expandir espectro de atividade (Ref. 39)(Ref. 48)(Ref. 103):
Estratégias de desenvolvimento:
- Modificações estruturais para superar mecanismos de resistência mediados por erm e mef
- Desenvolvimento de macrolídeos com atividade contra gram-negativos multirresistentes
- Otimização do perfil farmacocinético/farmacodinâmico
- Redução da cardiotoxicidade e hepatotoxicidade
- Novos derivados com propriedades imunomoduladoras aprimoradas para doenças respiratórias crônicas (Ref. 48)(Ref. 111)(Ref. 170)
Macrolídeos em investigação: novos derivados sintéticos demonstrando atividade contra patógenos multirresistentes, incluindo S. aureus resistente à meticilina (MRSA) e Pseudomonas aeruginosa (Ref. 39)(Ref. 111).
Uso imunomodulador: crescente interesse no uso prolongado de macrolídeos (principalmente azitromicina) em baixas doses para condições inflamatórias crônicas (bronquiectasias, fibrose cística, DPOC, asma grave), explorando propriedades anti-inflamatórias independentes do efeito antimicrobiano (Ref. 88)(Ref. 170)(Ref. 177).
PARTE II – CLINDAMICINA
Introdução e Estrutura Química
A clindamicina é um antibiótico semissintético do grupo das lincosamidas, derivado da lincomicina através de clorização (substituição do grupo 7-hidroxil por cloro), resultando em melhora significativa na absorção oral e atividade antimicrobiana (Ref. 52)(Ref. 70).
A estrutura química consiste em um amino-ácido (derivado da prolina) ligado a um açúcar amino-octose (metil-tio-lincosamida) (Ref. 55)(Ref. 66). A fórmula molecular é C₁₈H₃₃ClN₂O₅S, com peso molecular de 424,98 g/mol (Ref. 66).
Apesar de estruturalmente diferente dos macrolídeos, a clindamicina compartilha mecanismo de ação e sítio de ligação ribossomal similares, resultando em resistência cruzada através de alguns mecanismos (particularmente genes erm) (Ref. 13)(Ref. 63).
Mecanismo de Ação
A clindamicina inibe a síntese proteica bacteriana ligando-se à subunidade ribossomal 50S, especificamente ao domínio V do RNA ribossomal 23S, sobrepondo-se parcialmente ao sítio de ligação dos macrolídeos (Ref. 13)(Ref. 52)(Ref. 55).
O mecanismo molecular envolve: bloqueio do alongamento da cadeia peptídica através da interferência com a transpeptidação, prevenção da translocação do peptidil-tRNA do sítio A para o sítio P, e obstrução do túnel de saída do peptídeo nascente (Ref. 13)(Ref. 64).
A clindamicina exerce efeito predominantemente bacteriostático, mas pode ser bactericida em concentrações elevadas contra bactérias sensíveis, particularmente estafilococos e estreptococos (Ref. 52)(Ref. 59).
A clindamicina demonstra efeito pós-antibiótico de 2-6 horas para estafilococos e estreptococos, contribuindo para eficácia com regime posológico de 3-4 vezes ao dia (Ref. 169).
Espectro de Atividade Antimicrobiana
A clindamicina apresenta excelente atividade contra cocos gram-positivos e anaeróbios, com perfil distinto dos macrolídeos (Ref. 52)(Ref. 59):
Bactérias Gram-positivas aeróbias:
- Staphylococcus aureus sensível à meticilina (MSSA): excelente atividade
- Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA): atividade variável (40-90% de sensibilidade dependendo da região geográfica e fenótipo de resistência) (Ref. 201)(Ref. 204)(Ref. 210)
- Streptococcus pyogenes, agalactiae, S. pneumoniae: geralmente sensíveis (Ref. 59)(Ref. 60)
- Estreptococos do grupo viridans
- Corynebacterium diphtheriae
Bactérias anaeróbias (principal vantagem sobre macrolídeos):
- Bacteroides fragilis e outras espécies de Bacteroides: 80-95% de sensibilidade (Ref. 59)(Ref. 83)
- Prevotella, Porphyromonas spp.
- Fusobacterium
- Peptostreptococcus, Peptococcus spp.
- Clostridium perfringens e outras espécies de Clostridium (exceto difficile) (Ref. 52)(Ref. 83)
- Actinomyces
Outros patógenos:
- Toxoplasma gondii: usada em combinação com pirimetamina
- Plasmodium: atividade antimalárica moderada, usada em combinação com quinina ou artemisinina (Ref. 138)
- Babesia: tratamento de babesiose em combinação com quinina (Ref. 138)
- Pneumocystis jirovecii: atividade moderada, alternativa em casos leves a moderados
Microrganismos resistentes ou com atividade inadequada:
- Bacilos gram-negativos aeróbios ( coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter)
- Haemophilus influenzae
- Clostridioides difficile (anteriormente Clostridium difficile): resistente
- Micobactérias
- Fungos (Ref. 52)(Ref. 59)
Propriedades Farmacocinéticas
Absorção e Biodisponibilidade
A clindamicina é bem absorvida por via oral, com biodisponibilidade de aproximadamente 90% (Ref. 53)(Ref. 55). O pico de concentração plasmática é atingido em 45-60 minutos após dose oral (Ref. 53).
A absorção oral não é significativamente afetada pela presença de alimentos, embora o pico possa ser levemente retardado (Ref. 61)(Ref. 72).
Formulações disponíveis:
- Oral: cápsulas de cloridrato de clindamicina, solução pediátrica de palmitato de clindamicina
- Parenteral: fosfato de clindamicina para administração IV ou IM
- Tópica: gel, loção, espuma (para acne)
- Vaginal: creme e óvulos (para vaginose bacteriana) (Ref. 52)(Ref. 55)
Distribuição
A clindamicina apresenta excelente penetração tecidual (Ref. 53)(Ref. 55):
Volume de distribuição: aproximadamente 0,6-1,1 L/kg (Ref. 53).
Concentrações elevadas são alcançadas em: osso e fluido sinovial (importante para osteomielite), tecidos moles e abscessos, pulmão, fígado, bile, líquido pleural e peritoneal (Ref. 53)(Ref. 141).
Penetração no SNC: limitada através da barreira hematoencefálica íntegra (<10% das concentrações séricas); penetração aumenta na presença de meningite, mas concentrações permanecem inadequadas para tratamento de infecções do SNC (Ref. 52)(Ref. 141).
Ligação às proteínas plasmáticas: 92-94%, principalmente à albumina (Ref. 53)(Ref. 55).
A clindamicina cruza a placenta e é excretada no leite materno (Ref. 119)(Ref. 122).
Metabolismo
A clindamicina é extensamente metabolizada no fígado, principalmente por oxidação, produzindo metabólitos com atividade antimicrobiana reduzida: N-desmetil-clindamicina (atividade ~20%) e clindamicina-sulfóxido (atividade ~50%) (Ref. 55)(Ref. 61).
O metabolismo envolve principalmente CYP3A4/5, mas a clindamicina não é inibidor significativo dessas enzimas, resultando em menor potencial de interações medicamentosas comparado aos macrolídeos (Ref. 55)(Ref. 74).
Eliminação
A eliminação ocorre principalmente através de metabolismo hepático e excreção biliar (Ref. 55)(Ref. 75):
- Excreção renal: 10% do fármaco inalterado, 4-10% dos metabólitos (Ref. 61)
- Excreção biliar/fecal: via principal de eliminação (Ref. 55)
- Meia-vida plasmática: 2-3 horas em adultos (aumentada em neonatos: 3,6-8,7 horas; e em insuficiência hepática) (Ref. 52)(Ref. 53)
Ajustes de dose: não é necessário ajuste em insuficiência renal, incluindo pacientes em diálise. Cautela em insuficiência hepática grave (considerar redução de dose ou aumento de intervalo) (Ref. 52)(Ref. 79).
Farmacodinâmica
A clindamicina é antibiótico tempo-dependente, com eficácia correlacionada ao tempo acima da CIM (T>CIM) (Ref. 53). Um T>CIM de 40-50% do intervalo entre doses está geralmente associado a eficácia clínica (Ref. 53).
A alta penetração tecidual e o efeito pós-antibiótico contribuem para eficácia clínica com dosagens de 6-8 horas (Ref. 169).
Mecanismos de Resistência
A resistência à clindamicina pode ocorrer através de mecanismos similares aos macrolídeos, resultando em resistência cruzada (Ref. 57)(Ref. 60)(Ref. 63):
1. Modificação do Sítio Alvo (genes erm)
Metilação do RNA ribossomal 23S mediada por metilases codificadas por genes erm (Ref. 60)(Ref. 63). A metilação na posição A2058 impede a ligação tanto de macrolídeos quanto de lincosamidas (resistência cruzada MLSв) (Ref. 54)(Ref. 63).
Resistência constitutiva vs. induzível:
- Constitutiva (cMLSв): resistência detectável in vitro a macrolídeos e clindamicina
- Induzível (iMLSв): sensibilidade aparente à clindamicina in vitro, mas resistência pode ser induzida durante terapia por macrolídeos. Teste D é essencial para detectar (Ref. 102)(Ref. 105)(Ref. 108)(Ref. 116)
Genes erm comuns: erm(A), erm(B), erm(C) em estafilococos; erm(TR) em estreptococos; erm(F) em anaeróbios (Ref. 60)(Ref. 65).
2. Efluxo Ativo
Bombas de efluxo específicas para lincosamidas, como lnu genes (lnu(A), lnu(B)), podem conferir resistência à clindamicina sem afetar a sensibilidade a macrolídeos (Ref. 57).
3. Modificação Enzimática
Nucleotidiltransferases codificadas por genes lnu podem inativar a clindamicina através de adenilação, conferindo resistência específica a lincosamidas (Ref. 57)(Ref. 67).
4. Mutações Ribossomais
Mutações no rRNA 23S ou proteínas ribossomais L4/L22 podem conferir resistência (Ref. 54)(Ref. 63).
Aspectos Epidemiológicos
A resistência à clindamicina em MRSA comunitário varia de 5-25% na maioria das regiões, mas pode atingir >50% em algumas localidades (Ref. 67)(Ref. 69)(Ref. 210). A resistência induzível (iMLSв) é particularmente problemática, ocorrendo em 10-20% dos isolados de S. aureus em muitas séries (Ref. 65)(Ref. 108)(Ref. 210).
Teste D para detecção de resistência induzível: disco de eritromicina (15 µg) colocado a 15-26 mm de disco de clindamicina (2 µg). Achatamento da zona de inibição ao redor da clindamicina no lado da eritromicina (formato “D”) indica resistência induzível (Ref. 102)(Ref. 105)(Ref. 116).
Indicações Clínicas
Infecções de Pele e Tecidos Moles
A clindamicina é amplamente utilizada para celulite, abscessos, furunculose, erisipela causadas por S. aureus (incluindo MRSA comunitário com sensibilidade à clindamicina) e estreptococos (Ref. 201)(Ref. 204)(Ref. 216).
É particularmente valiosa em infecções polimicrobianas envolvendo anaeróbios, como mordidas (humanas ou animais), úlceras de decúbito e pé diabético infectado (Ref. 52)(Ref. 141).
Infecções Intra-abdominais e Pélvicas
A excelente atividade contra anaeróbios torna a clindamicina escolha frequente para peritonite, abscessos intra-abdominais, apendicite perfurada, doença inflamatória pélvica (DIP), geralmente em combinação com antibiótico ativo contra gram-negativos (aminoglicosídeo, fluoroquinolona ou cefalosporina de 3ª geração) (Ref. 52)(Ref. 141).
Vaginose Bacteriana
Clindamicina vaginal (creme ou óvulos) é tratamento de primeira linha para vaginose bacteriana, com eficácia similar ao metronidazol (Ref. 174).
Dose: creme vaginal 2% (5 g) ao deitar por 7 dias, ou óvulo de 100 mg ao deitar por 3 dias (Ref. 174).
Infecções Ósseas e Articulares
Penetração óssea excepcional torna a clindamicina escolha para osteomielite (aguda ou crônica) e artrite séptica causadas por S. aureus sensível (Ref. 52)(Ref. 141)(Ref. 179).
Infecções Dentárias e Orais
Clindamicina é altamente eficaz para abscessos dentários, periodontite, infecções odontogênicas devido à excelente atividade contra estreptococos orais e anaeróbios (Ref. 59)(Ref. 141)(Ref. 179).
Acne Vulgar
Clindamicina tópica (gel, loção, solução 1%) é tratamento comum para acne inflamatória leve a moderada, frequentemente combinada com peróxido de benzoíla para reduzir resistência (Ref. 58)(Ref. 80).
Pneumonia por Aspiração e Abscessos Pulmonares
Atividade contra anaeróbios orais torna a clindamicina escolha para pneumonia por aspiração e abscessos pulmonares (Ref. 52)(Ref. 83).
Toxoplasmose
Clindamicina (600-1200 mg q6h) em combinação com pirimetamina e ácido folínico é alternativa importante para tratamento de toxoplasmose em pacientes intolerantes ou alérgicos a sulfonamidas (Ref. 141)(Ref. 149).
Malária
Clindamicina em combinação com quinina ou artesunato é opção para tratamento de malária por Plasmodium falciparum, particularmente em gestantes (Ref. 138)(Ref. 141).
Dose: 20 mg/kg/dia dividida em 3 doses por 7 dias, combinada com quinina (Ref. 138).
Babesiose
Clindamicina (600 mg IV q8h ou 600 mg VO q8h) combinada com quinina (650 mg VO q8h) é tratamento padrão para babesiose grave (Ref. 138).
Infecções Estreptocócicas Toxigênicas
Clindamicina é recomendada como adjuvante à penicilina em fasceíte necrotizante e síndrome do choque tóxico estreptocócico, pois inibe a produção de toxinas bacterianas e não é afetada pelo “efeito Eagle” (redução de atividade de beta-lactâmicos em infecções com alta carga bacteriana) (Ref. 52)(Ref. 216).
Profilaxia Cirúrgica
Alternativa importante em profilaxia cirúrgica para procedimentos colorretais e ginecológicos em pacientes alérgicos a beta-lactâmicos, geralmente combinada com aminoglicosídeo (Ref. 52)(Ref. 141).
Contraindicações
Contraindicações absolutas:
- Hipersensibilidade conhecida à clindamicina ou lincomicina
- História de colite pseudomembranosa ou diarreia associada à clindamicina (Ref. 52)(Ref. 79)
Contraindicações relativas e precauções:
- Doença inflamatória intestinal (doença de Crohn, colite ulcerativa): risco aumentado de colite
- Insuficiência hepática grave
- História de atopia ou múltiplas alergias medicamentosas
- Miastenia gravis: possível exacerbação (Ref. 73)(Ref. 79)
Efeitos Adversos
Diarreia e Colite Associada a Clostridioides difficile (CDAC)
O efeito adverso mais significativo é a colite pseudomembranosa causada por Clostridioides difficile, ocorrendo em 0,01-10% dos pacientes (Ref. 52)(Ref. 84)(Ref. 87)(Ref. 90).
A clindamicina altera profundamente a microbiota intestinal, permitindo proliferação de C. difficile produtor de toxinas (Ref. 87)(Ref. 89). A CDAC pode ocorrer durante o tratamento ou até 8 semanas após a descontinuação (Ref. 90).
Manifestações clínicas: diarreia aquosa (3 ou mais evacuações/dia), dor abdominal, febre, leucocitose, e em casos graves, megacólon tóxico e perfuração intestinal (Ref. 90).
Prevenção e manejo:
- Uso criterioso e duração limitada
- Evitar uso desnecessário
- Suspender clindamicina se diarreia se desenvolver
- Testar fezes para difficile (PCR para toxinas ou teste de glutamato desidrogenase)
- Tratamento: vancomicina oral (125 mg q6h) ou fidaxomicina (200 mg q12h) como primeira linha (Ref. 90)
Importante: CDAC pode ocorrer mesmo após aplicação tópica ou vaginal de clindamicina, embora seja rara (Ref. 84)(Ref. 94).
Efeitos Gastrointestinais
Náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia não relacionada a C. difficile ocorrem em 2-20% dos pacientes (Ref. 52)(Ref. 75).
Reações de Hipersensibilidade
- Rash cutâneo: 3-10% dos pacientes (Ref. 52)
- Reações graves (síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica): raras (<0,1%)
- Urticária e angioedema
- Anafilaxia: rara, mas documentada (Ref. 73)
Hepatotoxicidade
Elevação transitória de transaminases (AST, ALT) pode ocorrer (Ref. 75). Hepatotoxicidade clinicamente significativa (icterícia, hepatite) é rara, mas foi relatada (Ref. 75).
Reações Hematológicas
- Neutropenia: rara, geralmente reversível
- Trombocitopenia: rara
- Eosinofilia: ocasional
- Agranulocitose: muito rara (Ref. 52)(Ref. 73)
Reações Locais
Administração IV: flebite, tromboflebite (risco reduzido com diluição adequada e velocidade de infusão lenta – não exceder 30 mg/minuto; concentração não deve exceder 18 mg/mL) (Ref. 72)(Ref. 79).
Administração IM: dor no local da injeção (Ref. 72).
Uso tópico/vaginal: irritação local, queimação, prurido (Ref. 80)(Ref. 174).
Outros Efeitos Adversos
- Disgeusia: alteração do paladar, gosto metálico (particularmente com administração IV)
- Bloqueio neuromuscular: raro, mas pode exacerbar miastenia gravis ou potencializar bloqueadores neuromusculares em anestesia (Ref. 73)
- Vaginite fúngica: por alteração da microbiota (Ref. 174)
Interações Medicamentosas
A clindamicina apresenta menor potencial de interações medicamentosas comparada aos macrolídeos, pois não é inibidor significativo do sistema citocromo P450 (Ref. 74).
Interações Clinicamente Significativas
Bloqueadores neuromusculares (pancurônio, vecurônio, rocurônio, atracúrio): a clindamicina pode potencializar bloqueio neuromuscular. Monitorar função neuromuscular durante anestesia (Ref. 73)(Ref. 74).
Eritromicina e outros macrolídeos: antagonismo in vitro devido à competição pelo mesmo sítio de ligação ribossomal. Evitar uso concomitante (Ref. 74).
Rifampicina: pode reduzir concentrações de clindamicina por indução enzimática. Monitorar resposta clínica (Ref. 74).
Kaolin-pectina: pode reduzir absorção de clindamicina oral. Administrar com 2 horas de intervalo (Ref. 74).
Vitamina K e antagonistas: clindamicina pode potencializar efeito de antagonistas da vitamina K (varfarina) por alteração da microbiota intestinal (produção de vitamina K). Monitorar INR (Ref. 74).
Vacinas vivas (tifoide oral, BCG): antibióticos podem interferir com eficácia. Evitar administração simultânea se possível (Ref. 74).
Uso em Populações Especiais
Gestação e Lactação
Gestação: clindamicina é classificada como categoria B pela FDA (estudos em animais não demonstraram risco fetal, mas estudos adequados em humanos são limitados) (Ref. 119)(Ref. 125).
A clindamicina cruza a placenta, mas não há evidência de teratogenicidade. É considerada opção segura quando necessária durante gestação, incluindo tratamento de vaginose bacteriana em gestantes (recomendada por diretrizes para reduzir risco de parto prematuro) (Ref. 119)(Ref. 125).
Lactação: clindamicina é excretada no leite materno em pequenas quantidades (0,5-3,8% da dose materna) (Ref. 122)(Ref. 130). A Academia Americana de Pediatria considera compatível com amamentação, mas lactentes devem ser monitorados para diarreia e candidíase oral (Ref. 122)(Ref. 130).
Uso tópico/vaginal tem risco negligenciável para o lactente (Ref. 122).
Uso Pediátrico
A clindamicina é amplamente utilizada em pediatria (Ref. 62):
Dosagens pediátricas típicas:
- Oral: 8-25 mg/kg/dia dividida em 3-4 doses (máximo: 1,8 g/dia)
- IV/IM: 20-40 mg/kg/dia dividida em 3-4 doses (infecções graves: até 40 mg/kg/dia; máximo: 2,7 g/dia)
Neonatos: ajustes de dose baseados em idade gestacional e peso (Ref. 62):
- <7 dias: 15-20 mg/kg/dia dividida em 2-3 doses
- 7 dias: 15-40 mg/kg/dia dividida em 3-4 doses
Clindamicina oral pediátrica (palmitato) tem sabor amargo; formulações aromatizadas melhoram aceitação (Ref. 226).
Idosos
Pacientes idosos apresentam maior risco de CDAC e podem requerer monitoramento mais cuidadoso (Ref. 89). Ajuste de dose não é geralmente necessário apenas pela idade, mas considerar função hepática e renal (Ref. 52).
Posologia e Administração
Via Oral
Adultos:
- Infecções leves a moderadas: 150-300 mg a cada 6 horas
- Infecções graves: 300-450 mg a cada 6 horas
- Dose máxima: 1,8 g/dia (Ref. 52)(Ref. 141)
Pediatria: 8-25 mg/kg/dia dividida em 3-4 doses
Administração: pode ser tomada com ou sem alimentos. Tomar com copo cheio de água para reduzir irritação esofágica (Ref. 80)(Ref. 141).
Via Parenteral (IV/IM)
Adultos:
- Infecções moderadas: 600-1200 mg/dia dividida em 2-4 doses
- Infecções graves: 1200-2700 mg/dia dividida em 2-4 doses
- Dose máxima: 4800 mg/dia (em infecções com risco de vida)
- Dose única máxima IV: 1200 mg; IM: 600 mg (Ref. 52)(Ref. 72)(Ref. 141)
Pediatria: 20-40 mg/kg/dia dividida em 3-4 doses
Administração IV:
- Infusão intermitente (preferível): diluir em solução compatível (SF 0,9%, SG 5%) para concentração ≤18 mg/mL
- Velocidade de infusão: não exceder 30 mg/minuto
- Tempo de infusão: 300 mg em 10-20 minutos; 600 mg em 20-30 minutos; 900 mg em 30-40 minutos; 1200 mg em 40-60 minutos
- Não administrar em bolus rápido – risco de arritmias cardíacas e parada cardíaca (Ref. 72)(Ref. 79)
Administração IM: injetar profundamente no músculo para minimizar dor e irritação. Não exceder 600 mg por local (Ref. 72).
Via Tópica
Acne:
- Gel/loção/solução 1%: aplicar fina camada nas áreas afetadas 2 vezes ao dia
- Combinação com peróxido de benzoíla (1-5%): aplicar 1-2 vezes ao dia (Ref. 80)
Via Vaginal
Vaginose bacteriana:
- Creme 2%: 5 g (1 aplicador) intravaginal ao deitar por 3-7 dias
- Óvulos 100 mg: 1 óvulo intravaginal ao deitar por 3 dias (Ref. 174)
Monitoramento Terapêutico
Antes do Início da Terapia
- História detalhada de alergias e reações prévias a antibióticos
- Função hepática (AST, ALT) se doença hepática conhecida
- Hemograma completo se terapia prolongada planejada (Ref. 72)(Ref. 141)
Durante a Terapia
Terapia de curta duração (<14 dias):
- Monitorar resposta clínica
- Vigilância para diarreia e sintomas gastrointestinais
- Interromper imediatamente se diarreia significativa (Ref. 52)
Terapia prolongada (>14 dias):
- Hemograma completo semanalmente nas primeiras 2-4 semanas, depois mensalmente (vigilância para neutropenia, trombocitopenia)
- Função hepática mensalmente
- Vigilância contínua para CDAC
- Cultura e antibiograma periódicos para confirmar sensibilidade persistente (Ref. 72)(Ref. 141)
Administração IV:
- Monitorar sítio de infusão para flebite
- Pressão arterial e frequência cardíaca durante infusão (risco de hipotensão com infusão rápida)
- Vigilância para reações de hipersensibilidade (Ref. 72)
Sinais de Alerta
- Diarreia persistente ou grave: suspeitar CDAC, solicitar testes para difficile
- Rash cutâneo, prurido, dispneia: possível reação de hipersensibilidade
- Icterícia, urina escura: possível hepatotoxicidade
- Sangramento inexplicado: monitorar hemograma (Ref. 52)(Ref. 73)
Vantagens e Desvantagens
Vantagens
- Excelente atividade contra anaeróbios (superior aos macrolídeos)
- Boa atividade contra MRSA comunitário (quando sensível)
- Penetração óssea excepcional (osteomielite)
- Biodisponibilidade oral elevada (90%)
- Não requer ajuste em insuficiência renal
- Menor potencial de interações medicamentosas que macrolídeos
- Múltiplas formulações (oral, IV, tópica, vaginal)
- Inibição da produção de toxinas bacterianas (fasceíte necrotizante, choque tóxico)
- Custo relativamente baixo (genéricos disponíveis) (Ref. 52)(Ref. 141)(Ref. 179)
Desvantagens
- Alto risco de colite por difficile (limitação mais significativa)
- Resistência crescente em MRSA hospitalar
- Resistência cruzada com macrolídeos (genes erm)
- Necessidade de teste D para detectar resistência induzível
- Sem atividade contra gram-negativos aeróbios
- Penetração limitada no SNC
- Necessidade de múltiplas doses diárias (q6-8h)
- Risco de flebite com administração IV
- Espectro limitado comparado a antibióticos de amplo espectro (Ref. 52)(Ref. 87)(Ref. 179)
Perspectivas
Desenvolvimento de novos derivados: pesquisas focam em lincosamidas com atividade contra patógenos resistentes e menor perturbação da microbiota intestinal (reduzindo risco de CDAC) (Ref. 70).
Estratégias para preservar eficácia:
- Uso racional e baseado em antibiograma
- Implementação sistemática do teste D para detectar resistência induzível
- Stewardship antimicrobiano para reduzir uso desnecessário
- Combinação com antibióticos para reduzir seleção de resistência (Ref. 210)
Uso em combinação: clindamicina continuará sendo valiosa em regimes combinados para infecções polimicrobianas complexas, particularmente aquelas envolvendo anaeróbios (Ref. 179).
Formulações otimizadas: desenvolvimento de formulações de liberação prolongada e combinações fixas (ex: clindamicina + peróxido de benzoíla tópica) para melhorar adesão e eficácia (Ref. 80).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO ABNT)
- COM. Macrolides | Mechanism of Action, Uses & Examples. Disponível em: https://study.com/learn/lesson/macrolides-examples-uses.html. Acesso em: 22 out. 2025.
- PHAM, J. T. et al. PharmGKB summary: macrolide antibiotic pathway, pharmacokinetics/pharmacodynamics. Pharmacogenetics and Genomics, v. 16, n. 5, p. 331-337, maio 2006. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5346035/. Acesso em: 22 out. 2025.
- LECLERCQ, R.; COURVALIN, P. Resistance to macrolides and related antibiotics in Streptococcus pneumoniae. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 46, n. 9, p. 2727-2734, set. 2002. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5046686/. Acesso em: 22 out. 2025.
- MECHANISMS of Action and Resistance. Macrolides: Mechanisms of Action and Resistance [vídeo]. YouTube, 28 mar. 2011. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oC21vLFtsjo. Acesso em: 22 out. 2025.
- TULKENS, P. M. Macrolides: pharmacokinetics and pharmacodynamics. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 18, Suppl. 1, p. S17-S23, 2001. Disponível em: https://www.facm.ucl.ac.be/Full-texts-FACM/Vanbambeke-2001-4.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- LECLERCQ, R. Macrolide resistance mechanisms in Gram-positive cocci. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 16, Suppl. 1, p. S41-S47, dez. 2000. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11574191/. Acesso em: 22 out. 2025.
- ZUCKERMAN, J. M. Macrolides. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551495/. Acesso em: 22 out. 2025.
- AMSDEN, G. W. A pharmacokinetic and pharmacodynamic overview. Current Pharmaceutical Design, v. 10, n. 25, p. 3045-3053, set. 2004. Disponível em: https://www.benthamdirect.com/content/journals/cpd/10.2174/1381612043383322. Acesso em: 22 out. 2025.
- SPÍŽEK, J.; REZANKA, T. Resistance to the tetracyclines and macrolide-lincosamide-streptogramin group of antibiotics and its genetic linkage – a review. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, v. 24, n. 2, p. 177-184, jun. 2017. Disponível em: https://www.aaem.pl/Resistance-to-the-tetracyclines-and-macrolide-lincosamide-streptogramin-group-of-antibiotics-and-its-genetic-linkage-a-review,74718,0,2.html. Acesso em: 22 out. 2025.
- WILSON, D. N. How macrolide antibiotics work. Nature Chemical Biology, v. 14, n. 10, p. 899-900, jul. 2018. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6108949/. Acesso em: 22 out. 2025.
- VANCE-BRYAN, K.; GUAY, D. R.; ROTSCHAFER, J. C. Macrolides: pharmacokinetics and pharmacodynamics. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 16, Suppl. 1, p. S41-S47, dez. 2000. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11574190/. Acesso em: 22 out. 2025.
- NASCIMENTO, J. D. S. et al. Antimicrobial resistance profiles and genetic diversity of Streptococcus pneumoniae. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 106, n. 3, p. 259-267, abr. 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/mioc/a/Ksy3HJpBSHjzRJ6kTGPJ98c/?lang=en. Acesso em: 22 out. 2025.
- SCHLÜNZEN, F. et al. The mechanism of action of macrolides, lincosamides and streptogramin B reveals the nascent peptide exit path in the ribosome. Journal of Molecular Biology, v. 330, n. 5, p. 1017-1025, jul. 2003. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022283603006624. Acesso em: 22 out. 2025.
- TULKENS, P. M. Macrolides: pharmacokinetics and pharmacodynamics. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 18, Suppl. 1, p. S17-S23, 2001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092485790100406X. Acesso em: 22 out. 2025.
- WANG, Y. et al. Macrolide resistance genes and mobile genetic elements in Gram-positive and Gram-negative bacteria. Infection and Drug Resistance, v. 15, p. 2939-2955, 2022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716522000996. Acesso em: 22 out. 2025.
- In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [S.l.], 24 fev. 2002. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Macrolide. Acesso em: 22 out. 2025.
- Macrolide Antibiotic Pathway, Pharmacokinetics/Pharmacodynamics – Literature. Disponível em: https://www.clinpgx.org/pathway/PA166160731/literature. Acesso em: 22 out. 2025.
- Macrolide Antibiotic Pathway, Pharmacokinetics/Pharmacodynamics. Disponível em: https://www.clinpgx.org/pathway/PA166160731. Acesso em: 22 out. 2025.
- KANOH, S.; RUBIN, B. K. Mechanisms of action and clinical application of macrolides as immunomodulatory medications. Clinical Microbiology Reviews, v. 23, n. 3, p. 590-615, jun. 2010. Disponível em: https://journals.asm.org/doi/10.1128/cmr.00078-09. Acesso em: 22 out. 2025.
- LABRO, M. T.; EL BENNA, J. Current macrolide antibiotics and their mechanisms of action. In: Macrolide Antibiotics. Basel: Birkhäuser, 2002. p. 107-129. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119282549.ch5. Acesso em: 22 out. 2025.
- WESTPHAL, J. F. Macrolide-induced clinically relevant drug interactions with cytochrome P-450A (CYP) 3A4. Pharmacotherapy, v. 20, n. 10, p. 1143-1149, out. 2000. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7576262/. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRITISH THORACIC SOCIETY. BTS guideline for long-term macrolide use in adults with respiratory disease. London: BTS, 2018. Disponível em: https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/guidelines/macrolide/bts-guideline-for-long-term-macrolide-use/. Acesso em: 22 out. 2025.
- Adverse events in people taking macrolide antibiotics. Cochrane Database of Systematic Reviews, jun. 2024. Disponível em: https://www.cochrane.org/evidence/CD011825_adverse-events-people-taking-macrolide-antibiotics. Acesso em: 22 out. 2025.
- PERITI, P.; MAZZEI, T.; MINI, E.; NOVELLI, A. Macrolide-induced clinically relevant drug interactions with cytochrome P-450A (CYP) 3A4: an update focused on clarithromycin, azithromycin and dirithromycin. Clinical Pharmacokinetics, v. 35, n. 5, p. 361-390, nov. 1999. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2015000/. Acesso em: 22 out. 2025.
- NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION. Azithromycin. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557766/. Acesso em: 22 out. 2025.
- KONG, F. et al. Adverse events in people taking macrolide antibiotics versus placebo for any indication. Cochrane Database of Systematic Reviews, n. 1, jan. 2019. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6353052/. Acesso em: 22 out. 2025.
- HEALTH SERVICE EXECUTIVE (Ireland). Macrolides – Drug Interactions. Disponível em: https://www.hse.ie/eng/services/list/2/gp/antibiotic-prescribing/drug-interactions/macrolides.html. Acesso em: 22 out. 2025.
- PORTER, R. S.; KAPLAN, J. L. (ed.). Macrolides. In: The Merck Manual Professional Edition. Rahway, NJ: Merck & Co., 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/bacteria-and-antibacterial-medications/macrolides. Acesso em: 22 out. 2025.
- Macrolide-induced clinically relevant drug interactions with cytochrome P-450A (CYP) 3A4. Disponível em: https://www.clinpgx.org/literature/9665903/pathway. Acesso em: 22 out. 2025.
- Azithromycin: Uses, Interactions, Mechanism of Action. DrugBank Online, fev. 2024. Disponível em: https://go.drugbank.com/drugs/DB00207. Acesso em: 22 out. 2025.
- CLEVELAND CLINIC. Macrolide Antibiotic: Examples, Uses & Side Effects. Cleveland, OH: Cleveland Clinic, ago. 2024. Disponível em: https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/macrolides. Acesso em: 22 out. 2025.
- SPECIALIST PHARMACY SERVICE (NHS). Managing interactions between macrolides and statins. London: NHS, jul. 2024. Disponível em: https://www.sps.nhs.uk/articles/managing-interactions-between-macrolides-and-statins/. Acesso em: 22 out. 2025.
- BEST PRACTICE ADVOCACY CENTRE NEW ZEALAND. The appropriate use of macrolides. Best Practice Journal, n. 44, p. 32-39, maio 2012. Disponível em: https://bpac.org.nz/bpj/2012/may/macrolides.aspx. Acesso em: 22 out. 2025.
- DR ORACLE. What are the adverse effects associated with macrolides (macrolide antibiotics)? Disponível em: https://www.droracle.ai/articles/134692/what-are-the-adverse-effects-associated-with-macrolides-macrolide-antibiotics. Acesso em: 22 out. 2025.
- SCHMIDT, M. et al. Concomitant use of statins and macrolide antibiotics: risk of cardiovascular events. International Journal of Cardiology, v. 268, p. 200-206, out. 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167527318334259. Acesso em: 22 out. 2025.
- HEALTH SERVICE EXECUTIVE (Ireland). Macrolide warnings. Disponível em: https://www.hse.ie/eng/services/list/2/gp/antibiotic-prescribing/drug-interactions/macrolide-warning.html. Acesso em: 22 out. 2025.
- DANEMAN, N. et al. Comparing two types of macrolide antibiotics for the treatment of community-acquired pneumonia. BMJ Open, v. 3, n. 7, e002857, jul. 2013. Disponível em: https://bmjopen.bmj.com/content/3/7/e002857. Acesso em: 22 out. 2025.
- Antibiotics – Macrolides: Nursing pharmacology. Osmosis from Elsevier, jul. 2021. Disponível em: https://www.osmosis.org/learn/Antibiotics_-_Macrolides:_Nursing_Pharmacology. Acesso em: 22 out. 2025.
- SEIPLE, I. B. et al. Discovery of macrolide antibiotics effective against multi-drug resistant bacteria. Accounts of Chemical Research, v. 54, n. 6, p. 1298-1310, mar. 2021. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.1c00020. Acesso em: 22 out. 2025.
- CHENG, Y. J. et al. Macrolide antibiotics and the risk of cardiac arrhythmias. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, v. 191, n. 4, p. 4-6, maio 2014. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4061901/. Acesso em: 22 out. 2025.
- GUAY, D. R.; CRAFT, J. C. Erythromycin, clarithromycin, and azithromycin: are the differences real? Clinical Therapeutics, v. 18, n. 1, p. 56-72, jan. 1996. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8851453/. Acesso em: 22 out. 2025.
- AMSDEN, G. W. Macrolides, a group of antibiotics with a broad spectrum of activity. Infection, v. 22, Suppl. 2, p. S88-S93, 1994. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7959864/. Acesso em: 22 out. 2025.
- RAY, W. A.; MURRAY, K. T.; HALL, K.; ARBOGAST, P. G.; STEIN, C. M. The role of macrolide antibiotics in increasing cardiovascular risk. Journal of the American College of Cardiology, v. 66, n. 20, p. 2173-2184, nov. 2015. Disponível em: https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2015.09.029. Acesso em: 22 out. 2025.
- EBSCO INFORMATION SERVICES. Macrolide antibiotics | Research Starters. Health & Medicine Research Starters, 2022. Disponível em: https://www.ebsco.com/research-starters/health-and-medicine/macrolide-antibiotics. Acesso em: 22 out. 2025.
- LI, J. et al. Understanding the evolution of macrolides resistance. Infection and Drug Resistance, v. 17, p. 2663-2683, 2024. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716524001474. Acesso em: 22 out. 2025.
- QI, X. et al. Administration of macrolide antibiotics increases cardiovascular risk. Frontiers in Cardiovascular Medicine, v. 10, fev. 2023. Disponível em: https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2023.1117254/full. Acesso em: 22 out. 2025.
- GUAY, D. R.; CRAFT, J. C. Erythromycin, clarithromycin, and azithromycin: are the differences real? Clinical Therapeutics, v. 18, n. 1, p. 56-72, jan. 1996. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149291896801792. Acesso em: 22 out. 2025.
- DINOS, G. P. The macrolide antibiotic renaissance. British Journal of Pharmacology, v. 174, n. 18, p. 2967-2983, set. 2017. Disponível em: https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.13936. Acesso em: 22 out. 2025.
- HEALTH HUB SINGAPORE. Macrolides (Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin). Singapore: Ministry of Health, set. 2021. Disponível em: https://www.healthhub.sg/medication-devices-and-treatment/medications/macrolides-azithromycin-clarithromycin-erythromycin. Acesso em: 22 out. 2025.
- DR ORACLE. What types of bacteria are susceptible to macrolides? Disponível em: https://www.droracle.ai/articles/134720/what-kind-of-bacteria-are-covered-by-macrolides. Acesso em: 22 out. 2025.
- OWENS, R. C.; AMBROSE, P. G. QT prolongation with antimicrobial agents: understanding the significance. Drugs, v. 64, n. 10, p. 1091-1124, 2004. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15139788/. Acesso em: 22 out. 2025.
- NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION. Clindamycin. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519574/. Acesso em: 22 out. 2025.
- TOOTHAKER, R. D. et al. Population pharmacokinetics of clindamycin orally and intravenously administered. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 56, n. 6, p. 3054-3059, abr. 2012. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3250868/. Acesso em: 22 out. 2025.
- PROTEIN DATA BANK. Clindamycin resistance. RCSB PDB-101, jan. 2025. Disponível em: https://pdb101.rcsb.org/global-health/antimicrobial-resistance/drugs/antibiotics/protein-synthesis/ribosome/lincosamides/clindamycin/clindamycin-resistance/clindamycin-resistance. Acesso em: 22 out. 2025.
- Clindamycin: Uses, Interactions, Mechanism of Action. DrugBank Online, abr. 2024. Disponível em: https://go.drugbank.com/drugs/DB01190. Acesso em: 22 out. 2025.
- FDA VERIFICATION PORTAL (Philippines). Clindamycin – Product Information. Disponível em: https://verification.fda.gov.ph/files/DRP-13525_PI_01.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- LI, T. et al. Molecular characteristics and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus clinical isolates. Frontiers in Microbiology, v. 14, fev. 2023. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10014864/. Acesso em: 22 out. 2025.
- In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [S.l.], 4 maio 2004. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Clindamycin. Acesso em: 22 out. 2025.
- PORTER, R. S.; KAPLAN, J. L. (ed.). Clindamycin. In: The Merck Manual Professional Edition. Rahway, NJ: Merck & Co., 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/bacteria-and-antibacterial-medications/clindamycin. Acesso em: 22 out. 2025.
- MOREIRA, D. et al. Clindamycin microbial resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus from a tertiary hospital in Rio de Janeiro, Brazil. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 52, n. 4, p. 238-243, jun. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jbpml/a/Bg8npLYhnGcmS3B66bxSGMD/?lang=en. Acesso em: 22 out. 2025.
- S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. CLEOCIN HCl (clindamycin hydrochloride) capsules, USP – Label. Disponível em: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/050162s102lbl.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- COHEN-WOLKOWIEZ, M. et al. Clindamycin pharmacokinetics and safety in preterm and term infants. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 60, n. 5, p. 2888-2894, fev. 2016. Disponível em: https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.03086-15. Acesso em: 22 out. 2025.
- LECLERCQ, R. Mechanisms of resistance to macrolides and lincosamides: nature of the resistance elements and their clinical implications. Clinical Infectious Diseases, v. 34, n. 4, p. 482-492, fev. 2002. Disponível em: https://academic.oup.com/cid/article/34/4/482/412492. Acesso em: 22 out. 2025.
- MEDICOSIS PERFECTIONALIS. Clindamycin | Bacterial Targets, Mechanism of Action, Adverse Effects [vídeo]. YouTube, 22 fev. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PvSNGf8jGEs. Acesso em: 22 out. 2025.
- LEUNG, M. J.; NUTTALL, N.; MAZUR, M. Inducible clindamycin resistance among clinical isolates of Staphylococcus aureus. Pathology, v. 47, Suppl. 1, p. S76, jul. 2015. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4576536/. Acesso em: 22 out. 2025.
- Clindamycin | C18H33ClN2O5S | CID 446598. National Library of Medicine, jul. 2025. Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Clindamycin. Acesso em: 22 out. 2025.
- KHALIL, E. et al. Clindamycin-resistant among Staphylococcus aureus clinical isolates. PLoS ONE, v. 19, n. 8, e0329467, ago. 2024. Disponível em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0329467. Acesso em: 22 out. 2025.
- What is the mechanism of clindamycin hydrochloride? PatSnap Synapse. Disponível em: https://synapse.patsnap.com/article/what-is-the-mechanism-of-clindamycin-hydrochloride. Acesso em: 22 out. 2025.
- MARTINEAU, F. et al. Clindamycin-resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Infection Genetics and Evolution, v. 19, p. 270-276, out. 2005. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378113505003135. Acesso em: 22 out. 2025.
- SPÍŽEK, J.; NOVOTNÁ, J.; ŘEZANKA, T. Lincosamides: chemical structure, biosynthesis, mechanism of action, resistance, and applications. Biochemical Pharmacology, v. 71, n. 7, p. 981-990, mar. 2006. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006295216304622. Acesso em: 22 out. 2025.
- HARSHITHA, K. K. et al. Study of resistance patterns of clindamycin in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Clinical and Preventive Cardiology Practice, v. 14, n. 1, p. 23-28, mar. 2025. Disponível em: https://www.jccpractice.com/article/study-of-resistance-patterns-of-clindamycin-in-methicillin-resistant-staphylococcus-aureus-and-its-relation-to-minimum-inhibitory-concentration-amongst-clinical-samples-isolated-in-a-tertiary-care-hospital-487/. Acesso em: 22 out. 2025.
- ISMP CANADA. Clindamycin – Safe Home Infusion Monograph. Disponível em: https://www.ismp-canada.org/SafeHomeInfusion/download/Monograph-IV-Clindamycin.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- PEDIATRIC ONCALL. Clindamycin – Mechanism, Indication, Contraindications, Dosing. Mumbai, India: Pediatric Oncall, jun. 2024. Disponível em: https://www.pediatriconcall.com/drugs/clindamycin/429. Acesso em: 22 out. 2025.
- These 5 clindamycin interactions are common. GoodRx Health, set. 2022. Disponível em: https://www.goodrx.com/clindamycin/interactions. Acesso em: 22 out. 2025.
- NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION. Clindamycin – LiverTox. In: LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2019. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548292/. Acesso em: 22 out. 2025.
- Cleocin (clindamycin) dosing, indications, interactions, adverse effects. WebMD LLC, ago. 2024. Disponível em: https://reference.medscape.com/drug/cleocin-clindamycin-342558. Acesso em: 22 out. 2025.
- Clindamycin HCL Oral: Uses, Side Effects, Interactions. WebMD LLC, dez. 2024. Disponível em: https://www.webmd.com/drugs/2/drug-12235/clindamycin-hcl-oral/details. Acesso em: 22 out. 2025.
- DR ORACLE. What are the contraindications of clindamycin (antibiotic)? Disponível em: https://www.droracle.ai/articles/251314/contraindications-of-clindamycin. Acesso em: 22 out. 2025.
- S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. CLEOCIN HCl (clindamycin hydrochloride) capsules, USP – Label (2024). Disponível em: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/050162s105lbl.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- Clindamycin: MedlinePlus Drug Information. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine, dez. 2024. Disponível em: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682399.html. Acesso em: 22 out. 2025.
- MAYO CLINIC. Clindamycin (oral route) – Side effects & dosage. Rochester (MN): Mayo Foundation for Medical Education and Research, set. 2024. Disponível em: https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/clindamycin-oral-route/description/drg-20110243. Acesso em: 22 out. 2025.
- CLEVELAND CLINIC. Clindamycin (Cleocin): Uses & Side Effects. Cleveland, OH: Cleveland Clinic, ago. 2024. Disponível em: https://my.clevelandclinic.org/health/drugs/19673-clindamycin-capsules. Acesso em: 22 out. 2025.
- INGHAM, H. R. et al. Clindamycin in pure and mixed anaerobic infections. Archives of Internal Medicine, v. 130, n. 4, p. 581-588, out. 1972. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/583210. Acesso em: 22 out. 2025.
- MILSTONE, E. B. et al. Pseudomembranous colitis caused by topical clindamycin phosphate. Archives of Dermatology, v. 117, n. 9, p. 589-591, set. 1981. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2939805/. Acesso em: 22 out. 2025.
- ZHANEL, G. G. et al. Review of macrolides and ketolides: focus on respiratory tract infections. Drugs, v. 61, n. 4, p. 443-498, 2001. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11324679/. Acesso em: 22 out. 2025.
- MERCK VETERINARY MANUAL. Lincosamides use in animals. Rahway, NJ: Merck & Co., set. 2022. Disponível em: https://www.msdvetmanual.com/pharmacology/antibacterial-agents/lincosamides-use-in-animals. Acesso em: 22 out. 2025.
- GEORGE, W. L. et al. The clinical significance of antibiotic-associated diarrhea and pseudomembranous colitis. Scandinavian Journal of Gastroenterology, v. 26, Suppl. 188, p. 16-23, 1991. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1930740/. Acesso em: 22 out. 2025.
- ZIMMERMANN, P.; ZIESENITZ, V. C.; CURTIS, N.; RITZ, N. The immunomodulatory effects of macrolides—A systematic review. Frontiers in Immunology, v. 9, art. 302, mar. 2018. Disponível em: https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2018.00302/full. Acesso em: 22 out. 2025.
- SHOAEI, P. et al. Recent trends in antimicrobial resistance among Clostridioides difficile isolates. Frontiers in Microbiology, v. 14, maio 2023. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10302625/. Acesso em: 22 out. 2025.
- PORTER, R. S.; KAPLAN, J. L. (ed.). Clostridioides (formerly Clostridium) difficile–induced diarrhea. In: The Merck Manual Professional Edition. Rahway, NJ: Merck & Co., 2023. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/anaerobic-bacteria/clostridioides-formerly-clostridium-difficile-induced-diarrhea. Acesso em: 22 out. 2025.
- KUMAR, A. et al. Comparative study of macrolides: erythromycin, clarithromycin, azithromycin, and roxithromycin. RSC Advances, v. 14, n. 23, p. 15900-15914, jun. 2024. Disponível em: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/ra/d4ra00718b. Acesso em: 22 out. 2025.
- Pseudomembranous colitis – an overview. Elsevier. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/pseudomembranous-colitis. Acesso em: 22 out. 2025.
- GOOGLE TRANSLATE. Macrolídeos – StatPearls [tradução]. Disponível em: https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fbooks%2FNBK551495%2F&hl=pt&sl=en&tl=pt&client=srp. Acesso em: 22 out. 2025.
- MILSTONE, E. B. et al. Pseudomembranous colitis caused by topical clindamycin phosphate. JAMA Dermatology, v. 117, n. 9, p. 589-591, set. 1981. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/547199. Acesso em: 22 out. 2025.
- WILLIAMS, J. D. et al. Structure–activity relationships of ketolides vs. macrolides. Clinical Microbiology and Infection, v. 22, n. 2, p. 107-114, fev. 2016. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X15301051. Acesso em: 22 out. 2025.
- DR ORACLE. What is the spectrum of activity of clindamycin (antibiotic)? Disponível em: https://www.droracle.ai/articles/377044/clindamycin-spectrum. Acesso em: 22 out. 2025.
- DR ORACLE. What is the rare but serious side effect of topical clindamycin? Disponível em: https://www.droracle.ai/articles/172119/which-side-effect-of-topical-clindamycin-is-rare-but-serious-question-47answer-a-pseudomembranous-colitis-b-gynecomastia-c-pseudotumor-cerebri-d-methemoglobinemia. Acesso em: 22 out. 2025.
- ZUCKERMAN, J. M. Macrolides, azalides, and ketolides. In: Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. p. 344-358. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118675014.ch13. Acesso em: 22 out. 2025.
- MAYO CLINIC. Pseudomembranous colitis – Symptoms & causes. Rochester (MN): Mayo Foundation for Medical Education and Research, set. 2024. Disponível em: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pseudomembranous-colitis/symptoms-causes/syc-20351434. Acesso em: 22 out. 2025.
- BALFOUR, J. A.; FIGGITT, D. P. Telithromycin: a novel agent for the treatment of community-acquired respiratory tract infections. Expert Review of Anti-infective Therapy, v. 2, n. 2, p. 185-200, mar. 2004. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1200691/. Acesso em: 22 out. 2025.
- JONES, R. N. et al. Antimicrobial activity of 14-, 15-, and 16-membered macrolides against gram-positive cocci. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v. 15, n. 4 Suppl., p. 79S-82S, ago. 1992. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1506329/. Acesso em: 22 out. 2025.
- CERQUEIRA, G. C. et al. Use of the D test method to detect inducible clindamycin resistance in coagulase-negative staphylococci (CNS). Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 11, n. 2, p. 186-188, abr. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bjid/a/9Mnr8fCMSsxV6qSQTrcq8VB/. Acesso em: 22 out. 2025.
- ZHANEL, G. G. et al. Nature nurtures the design of new semi-synthetic macrolide antibiotics. Journal of Antibiotics, v. 70, n. 3, p. 249-263, nov. 2016. Disponível em: https://www.nature.com/articles/ja2016137. Acesso em: 22 out. 2025.
- RICHARDSON, K. et al. Increased activity of 16-membered lactone ring macrolides against gram-positive pathogens. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 43, n. 1, p. 47-54, dez. 1998. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10052895/. Acesso em: 22 out. 2025.
- YILMAZ, G. et al. D-test method for detection of inducible clindamycin resistance in staphylococci. Iranian Journal of Pediatrics, v. 19, n. 3, p. 293-298, set. 2009. Disponível em: https://applications.emro.who.int/imemrf/Iran_J_Pediatr/Iran_J_Pediatr_2009_19_3_293.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- TAI, J. et al. A novel macrolide solithromycin exerts superior anti-inflammatory effects. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, v. 391, n. 2, p. 187-198, nov. 2024. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022356524185606. Acesso em: 22 out. 2025.
- ARSIC, B. et al. 16-membered macrolide antibiotics: a review. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 51, n. 3, p. 283-298, mar. 2018. Disponível em: https://2024.sci-hub.se/6412/2e6d371f4276b2657eb517b304f7fdc1/arsic2017.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- SIBERRY, G. K. et al. Inducible clindamycin resistance in Staphylococcus aureus. Journal of Clinical Microbiology, v. 37, n. 9, p. 2940-2944, set. 1999. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3118052/. Acesso em: 22 out. 2025.
- ARSIC, B. et al. 16-membered macrolide antibiotics: a review. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 51, n. 3, p. 283-298, mar. 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924857917302388. Acesso em: 22 out. 2025.
- DELIALIOGLU, N. et al. Validation of Vitek-2 against CLSI D-test for detection of inducible clindamycin resistance. Indian Journal of Medical Microbiology, v. 31, n. 1, p. 40-44, fev. 2013. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23277176/. Acesso em: 22 out. 2025.
- SEIPLE, I. B. et al. Synthetic macrolides overcoming MLSBK-resistant bacteria. Nature Communications, v. 15, art. 6028, jul. 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11239830/. Acesso em: 22 out. 2025.
- MERCK VETERINARY MANUAL. Macrolide use in animals. Rahway, NJ: Merck & Co., ago. 2024. Disponível em: https://www.msdvetmanual.com/pharmacology/antibacterial-agents/macrolide-use-in-animals. Acesso em: 22 out. 2025.
- NOEL, G. J. et al. Solithromycin, a novel macrolide, does not prolong cardiac repolarization. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 72, n. 2, p. 515-522, jan. 2017. Disponível em: https://academic.oup.com/jac/article/72/2/515/2374133. Acesso em: 22 out. 2025.
- BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. Inducible clindamycin resistance in gram positive cocci. Lima, Peru: BVS, dez. 2018. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sea-215616. Acesso em: 22 out. 2025.
- KIRST, H. A. Antibiotics, macrolides. In: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 5th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/0471238961.1301031811091819.a01.pub2. Acesso em: 22 out. 2025.
- LEWIS, J. S.; JORGENSEN, J. H. Detection of inducible clindamycin resistance of staphylococci by disk diffusion. Journal of Clinical Microbiology, v. 42, n. 4, p. 1800-1802, abr. 2004. Disponível em: https://journals.asm.org/doi/10.1128/jcm.42.4.1800-1802.2004. Acesso em: 22 out. 2025.
- LUND, M. et al. Use of macrolides in mother and child and risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis. BMJ, v. 348, g1908, mar. 2014. Disponível em: https://www.bmj.com/content/348/bmj.g1908. Acesso em: 22 out. 2025.
- BOSNAR, M. et al. Clinical pharmacology of macrolides in infants and children. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, v. 36, n. 3, p. 28522-28532, set. 2021. Disponível em: https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.007302.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- Clindamycin. Brentwood (TN): Organization of Teratology Information Specialists, jan. 2024. Disponível em: https://mothertobaby.org/fact-sheets/clindamycin-pregnancy/. Acesso em: 22 out. 2025.
- PORTER, R. S.; KAPLAN, J. L. (ed.). Macrolides. In: The Merck Manual Consumer Version. Rahway, NJ: Merck & Co., 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/home/infections/antibiotics/macrolides. Acesso em: 22 out. 2025.
- BOSNAR, M. et al. Clinical pharmacology of macrolides in infants and children. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, v. 36, n. 3, p. 28522-28532, set. 2022. Disponível em: https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.007302.php. Acesso em: 22 out. 2025.
- E-LACTATION. Clindamycin. E-lactation Database, mar. 2018. Disponível em: https://www.e-lactation.com/en/clindamycin-pr/. Acesso em: 22 out. 2025.
- SPECIALIST PHARMACY SERVICE (NHS). Using macrolide antibiotics during breastfeeding. London: NHS, nov. 2024. Disponível em: https://www.sps.nhs.uk/articles/using-macrolide-antibiotics-during-breastfeeding/. Acesso em: 22 out. 2025.
- KOBBERNAGEL, H. E. et al. Long-term, low-dose macrolide antibiotic treatment in pediatric chronic airway diseases. Pediatric Pulmonology, v. 55, n. 11, p. 3098-3111, jun. 2021. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9122820/. Acesso em: 22 out. 2025.
- NAHUM, G. G.; UMSTET, K.; MCELMURRY, P. Antibiotic use during pregnancy and lactation. American Family Physician, v. 74, n. 6, p. 1035-1040, set. 2006. Disponível em: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2006/0915/p1035.html. Acesso em: 22 out. 2025.
- GOLDSTEIN, L. H. et al. The safety of macrolides during lactation. Breastfeeding Medicine, v. 4, n. 4, p. 197-200, dez. 2009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19366316/. Acesso em: 22 out. 2025.
- BEST PRACTICE ADVOCACY CENTRE NEW ZEALAND. The appropriate use of macrolides. Best Practice Journal, n. 44, p. 32-39, maio 2012. Disponível em: https://bpac.org.nz/magazine/2012/may/docs/bpj_44_macrolides_pages_32-39_pf.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.
- YEFET, E. et al. A review of antibiotic safety in pregnancy—2025 update. Reproductive Toxicology, v. 130, art. 108712, mar. 2025. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11998890/. Acesso em: 22 out. 2025.
- FAN, H. et al. Association between use of macrolides in pregnancy and risk of major malformations. BMJ, v. 372, n107, fev. 2021. Disponível em: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n107. Acesso em: 22 out. 2025.
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. Clindamycin – Drugs and Lactation Database (LactMed®). Bethesda (MD): National Institute of Child Health and Human Development, 2015. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501208/. Acesso em: 22 out. 2025.
- MEDICINES AND HEALTHCARE PRODUCTS REGULATORY AGENCY. Safety of macrolide antibiotics in pregnancy: a review of the epidemiological evidence. London: UK Government, jun. 2021. Disponível em: https://www.gov.uk/government/publications/public-assessment-report-safety-of-macrolide-antibiotics-in-pregnancy-a-review-of-the-epidemiological-evidence/safety-of-macrolide-antibiotics-in-pregnancy-a-review-of-the-epidemiological-evidence. Acesso em: 22 out. 2025.
- DR ORACLE. Azithromycin dosage recommendations for bacterial infections. Disponível em: https://droracle.ai/articles/259358/what-is-the-recommended-dosage-of-azithromycin-macrolide-antibiotic-for-treating-bacterial-infections-in-adults-and-pediatric-patients. Acesso em: 22 out. 2025.
- PORTER, R. S.; KAPLAN, J. L. (ed.). Clindamycin. In: The Merck Manual Consumer Version. Rahway, NJ: Merck & Co., 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/home/infections/antibiotics/clindamycin. Acesso em: 22 out. 2025.
- BAR-OZ, B. et al. Safety of macrolides during pregnancy. Canadian Family Physician, v. 58, n. 12, p. 1305-1306, dez. 2012. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3581717/. Acesso em: 22 out. 2025.
- UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF MEDICINE. Macrolide antibiotics. Pediatric Pharmacotherapy, v. 2, n. 12, fev. 1996. Disponível em: https://med.virginia.edu/pediatrics/wp-content/uploads/sites/237/2015/12/199602.pdf
Autor:
Antonio Tadeu Fernandes a partir de revisão bibliográfica apoiada pela IA Perplexity
Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação
Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:
MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção
MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização
MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica